Jul/Dez. 2018 ISSN On-Line 2318-8448 L ISSN Impresso 0104-0960
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Edital De Notificação Detran/Pr- 2018Not003-Cl
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DETRAN/PR- 2018NOT003-CL A Comissão de Leilão do DETRAN/PR, nomeada pela Portaria N.º 238/2017-DG, atendendo ao disposto no Art. 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1.997, Código de Trânsito Brasileiro – CTB e resolução n° 623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Notifica aos interessados, bem como os Agentes Financeiros / Bancos e pessoas detentoras de reserva de Domínio, adiante relacionados nos anexos deste Edital, cujos veículos foram objeto de apreensão e encontram-se recolhidos aos pátios de veículos da 1ª CIRETRAN na cidade de CURITIBA, situado na AV. VITOR FERREIRA DO AMARAL, Nº 2940, CAPÃO DA IMBUIA, telefone (41) 3361-1106, CEP 82.800-900; 1º BPM-1ªCIA na cidade de PONTA GROSSA, situado na RUA PRF. CARDOSO FONTES, Nº985, RONDA, telefone (42) 3222- 6677, CEP 84050-550; 9º BPM-1ªCIA na cidade de GUARATUBA, situado na RUA CUBATÃO, Nº123, CENTRO, telefone (41) 3442-6893, CEP 83280-000; 9ºBPM- 1ªCIA na cidade de PARANAGUÁ, situado na RUA DOMINGOS PENEDA, Nº2001, SÃO VICENTE, telefone, CEP 83209-340; 2ª CIA INDEPENDENTE na cidade de UNIÃO DA VITÓRIA, situado na RUA ALEXANDRE SCHELENN, S/N, SÃO BASILIO MAGNO, telefone (42) 3523-1220, CEP 84.600-000; 5ª CIRETRAN na cidade de PATO BRANCO, situado na RUA ARGENTINA, Nº888, JARDIM DAS AMÉRICAS, telefone (46) 3225-3132, CEP 85.501-000; 6ª CIRETRAN na cidade de GUARAPUAVA, situado na AV. SEBASTIÃO DE CAMARGO RIBAS, Nº131, BOM SUCESSO, telefone (42) 3624-1600, CEP 85.060-340; CAPITÃO LEONIDAS MARQUES, RUA TIBAGI S/N, CENTRO, CEP 85790000; 6ºBPM-1ªCIA na cidade de CASCAVEL, situado na RUA GALIBIS, S/N, CENTRO, telefone (45) 226-8085, CEP 85.420-000; CORBÉLIA, situado na R FLOR DE LIZ, 1980 – centro; 8ª CIRETRAN na cidade de CAMPO MOURÃO, situado na RUA NEY BRAGA, S/N, JD. -

MEMO. Nº. 36/2017 – SCOM
00100.070849/2017-79 MEMO. nº. 36/2017 – SCOM Brasília, 9 de maio de 2017 A Sua Excelência a Senhora SENADORA REGINA SOUSA Assunto: Ideia Legislativa nº. 73.119 Senhora Presidente, Nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução do Senado Federal nº. 19 de 2015, encaminho a Vossa Excelência a Ideia Legislativa nº. 73.119, sob o título de “Reduzir os impostos sobre games do atual 72% para 9%”, que alcançou, no período de 08/05/2017 a 09/05/2017, apoiamento superior a 20.000 manifestações individuais, conforme a ficha informativa em anexo. Respeitosamente, Dirceu Vieira Machado Filho Diretor da Secretaria de Comissões Senado Federal – Praça dos Três Poderes – CEP 70.165-900 – Brasília DF ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BAE51356001A1E49. CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx. 00100.070849/2017-79 ANEXO AO MEMORANDO Nº. 36/2017 – SCOM - FICHA INFORMATIVA E RELAÇÃO DE APOIADORES - Senado Federal – Praça dos Três Poderes – CEP 70.165-900 – Brasília DF ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BAE51356001A1E49. CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx. 00100.070849/2017-79 Ideia Legislativa nº. 73.119 TÍTULO Reduzir os impostos sobre games do atual 72% para 9% DESCRIÇÃO “Atualmemte os impostos cobrados sobre games é 72%, um dos maiores do mundo. Isso causa muitos brasileiros como eu a evitar comprar jogos, porque é tudo caro demais. Os Estados Unidos atualmente cobram 9% de impostos sobre games, e isso causou o mercado de lá a ser o maior do mundo de jogos. ” (sic) MAIS DETALHES “Sendo aprovado isso irá: Tornar todos games e consoles quase 3x mais baratos; PS4 Pro de R$2,819.90 passa para R$860.63. -

Ficha Técnica Jogo a Jogo, 1992 - 2011
FICHA TÉCNICA JOGO A JOGO, 1992 - 2011 1992 Palmeiras: Velloso (Marcos), Gustavo, Cláudio, Cléber e Júnior; Galeano, Amaral (Ósio), Marquinhos (Flávio Conceição) e Elivélton; Rivaldo (Chris) e Reinaldo. Técnico: Vander- 16/Maio/1992 Palmeiras 4x0 Guaratinguetá-SP lei Luxemburgo. Amistoso Local: Dario Rodrigues Leite, Guaratinguetá-SP 11/Junho/1996 Palmeiras 1x1 Botafogo-RJ Árbitro: Osvaldo dos Santos Ramos Amistoso Gols: Toninho, Márcio, Edu Marangon, Biro Local: Maracanã, Rio de Janeiro-RJ Guaratinguetá-SP: Rubens (Maurílio), Mineiro, Veras, César e Ademir (Paulo Vargas); Árbitro: Cláudio Garcia Brás, Sérgio Moráles (Betinho) e Maizena; Marco Antônio (Tom), Carlos Alberto Gols: Mauricinho (BOT); Chris (PAL) (Américo) e Tiziu. Técnico: Benê Ramos. Botafogo: Carlão, Jefferson, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva; Souza, Moisés Palmeiras: Marcos, Odair (Marques), Toninho, Tonhão (Alexandre Rosa) e Biro; César (Julinho), Dauri (Marcelo Alves) e Bentinho (Hugo); Mauricinho e Donizete. Técnico: Sampaio, Daniel (Galeano) e Edu Marangon; Betinho, Márcio e Paulo Sérgio (César Ricardo Barreto. Mendes). Técnico: Nelsinho Baptista Palmeiras: Velloso (Marcos), Gustavo (Chris), Roque Júnior, Cléber (Sandro) e Júnior (Djalminha); Galeano (Rodrigo Taddei), Amaral (Emanuel), Flávio Conceição e Elivél- 1996 ton; Rivaldo (Dênis) e Reinaldo (Marquinhos). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. 30/Março/1996 Palmeiras 4x0 Xv de Jaú-SP 17/Agosto/1996 Palmeiras 5x0 Coritiba-PR Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro Local: Palestra Itália Local: Palestra Itália Árbitro: Alfredo dos Santos Loebeling Árbitro: Carlos Eugênio Simon Gols: Alex Alves, Cláudio, Djalminha, Cris Gols: Luizão (3), Djalminha, Rincón Palmeiras: Velloso (Marcos), Gustavo (Ósio), Sandro, Cláudio e Júnior; Amaral, Flávio Palmeiras: Marcos, Cafu, Cláudio (Sandro), Cléber e Júnior (Fernando Diniz); Galeano, Conceição, Rivaldo (Paulo Isidoro) e Djalminha; Müller (Chris) e Alex Alves. -
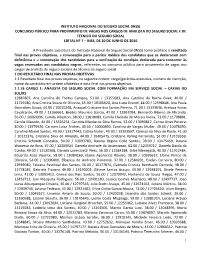
Edital Nº 7 – Inss, De 20 De Junho De 2016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ANALISTA DO SEGURO SOCIAL E DE TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL EDITAL Nº 7 – INSS, DE 20 DE JUNHO DE 2016 A Presidente substituta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) torna públicos o resultado final nas provas objetivas, a convocação para a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e a convocação dos candidatos para a verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, referentes ao concurso público para provimento de vagas nos cargos de analista do seguro social e de técnico do seguro social. 1 DO RESULTADO FINAL NAS PROVAS OBJETIVAS 1.1 Resultado final nas provas objetivas, na seguinte ordem: cargo/gerência-executiva, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final nas provas objetivas. 1.1.76 CARGO 1: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL – CAXIAS DO SUL/RS 12887807, Ana Carolina de Freitas Campos, 51.00 / 13355683, Ana Caroline da Rocha Guex, 40.00 / 11729180, Ana Cristina Souza de Oliveira, 65.00 / 10106620, Ana Lucia Grandi, 44.00 / 12598646, Ana Paula Goncalves Souza, 44.00 / 10010248, Anaquel Cristiane dos Santos Pereira, 71.00 / 13133636, Aretuza Farias Cavalcante, 49.00 / 13166662, Beatriz Mauricio Garcia, 47.00 / 12967094, Bernardo Ribeiro de Miranda, 56.00 / 10063936, Camila Alberton, 38.00 / 11818083, Camila Clarinda de Morais Vieira, 73.00 / 11708881, Camila Macedo, 44.00 / 13326254, Candida Marilia da Silva Ramos, 52.00 -

Analysis of the Soccer Labor Market in Europe 2011•'2012: History And
Analysis of the Soccer Labor Market In Europe 2011‐2012: History and Trends of Players From Argentina, Brazil, and West Africa By Eduardo Ortiz Advised By: Dr. Benjamin Funston‐Timms GEOG 461/462 Senior Project Social Sciences Department College of Liberal Arts California Polytechnic State University, San Luis Obispo Fall Quarter 2012 Table of Contents Table of Contents i Research Proposal iii Annotated Bibliography iv Outline vii Text I. History of Soccer 1 a. The Introduction of Professionalism II. The Intricacies of the Transfer Market 5 a. The Transfer matching System b. Types of Transfers III. Player Trends by Country: Argentina & Brazil 11 a. Argentina b. Brazil IV. Player Trends by Country: West Africa 15 a. Benin b. Burkina Faso c. Cameroon d. Gambia e. Ghana f. Guinea i g. Guinea‐Bissau h. Ivory Coast i. Liberia j. Mali k. Nigeria l. Senegal m. Sierra Leone n. Togo V. From Africa To Europe 30 a. The Rise of Academies: Pros and Cons VI. Conclusion 38 Bibliography 40 Appendix 44 ii Research Proposal Although for many soccer is only a game, it is as good an example of globalization than any multinational corporation or religion. Soccer has spread to every corner of the world and although it is not the most popular game everywhere, it is without a doubt the most popular sport in the world. This popularity of the sport has allowed for money to be poured into the game, both by sponsors and fans. The economics of the game have created a more competitive atmosphere within the sport. The competitive nature of the sport attracts more players every year from everywhere in the world. -

Imprensa Oficial Do Município De Jundiaí Página 1 Edição 4302 | 30 De Agosto De 2017 Prefeitura De Jundiaí
Imprensa Oficial do Município de Jundiaí Página 1 Edição 4302 | 30 de agosto de 2017 Prefeitura de Jundiaí IMPRENSA OFICIAL PODER EXECUTIVO 30 DE AGOSTO DE 2017 EDIÇÃO 4302 jundiai.sp.gov.br Assinado Digitalmente Imprensa Oficial do Município de Jundiaí Página 2 Edição 4302 | 30 de agosto de 2017 Prefeitura de Jundiaí SUMÁRIO PODER EXECUTIVO Decretos........................................................................................................................................03 Leis...................................................................................................................................................04 Portarias........................................................................................................................................04 e 05 Negócios Jurídicos e Cidadania.........................................................................................05 a 10 Administração............................................................................................................................10 a 13 Gestão de Pessoas..................................................................................................................14 Governo e Finanças................................................................................................................14 Iprejun.............................................................................................................................................15 Cijun.................................................................................................................................................16 -

Inss) Concurso Público Para Provimento De Vagas Nos Cargos De Analista Do Seguro Social E De Técnico Do Seguro Social Edital Nº 7 – Inss, De 20 De Junho De 2016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ANALISTA DO SEGURO SOCIAL E DE TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL EDITAL Nº 7 – INSS, DE 20 DE JUNHO DE 2016 A Presidente substituta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) torna públicos o resultado final nas provas objetivas, a convocação para a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e a convocação dos candidatos para a verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, referentes ao concurso público para provimento de vagas nos cargos de analista do seguro social e de técnico do seguro social. 1 DO RESULTADO FINAL NAS PROVAS OBJETIVAS 1.1 Resultado final nas provas objetivas, na seguinte ordem: cargo/gerência-executiva, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final nas provas objetivas. 1.1.76 CARGO 1: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL – CAXIAS DO SUL/RS 12887807, Ana Carolina de Freitas Campos, 51.00 / 13355683, Ana Caroline da Rocha Guex, 40.00 / 11729180, Ana Cristina Souza de Oliveira, 65.00 / 10106620, Ana Lucia Grandi, 44.00 / 12598646, Ana Paula Goncalves Souza, 44.00 / 10010248, Anaquel Cristiane dos Santos Pereira, 71.00 / 13133636, Aretuza Farias Cavalcante, 49.00 / 13166662, Beatriz Mauricio Garcia, 47.00 / 12967094, Bernardo Ribeiro de Miranda, 56.00 / 10063936, Camila Alberton, 38.00 / 11818083, Camila Clarinda de Morais Vieira, 73.00 / 11708881, Camila Macedo, 44.00 / 13326254, Candida Marilia da Silva Ramos, 52.00