PATRICIA GOVASKI.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
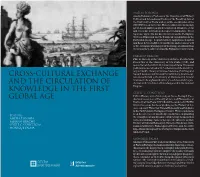
Cross-Cultural Exchange and the Circulation of Knowledge in the First Global Age
www.edicoesafrontamento.pt AMÉLIA POLÓNIA Amélia Polónia is a Professor at the Department of History, in the first global age global first the in knowledge of circulation the exchange and cross-cultural Political and International Studies of the Faculty of Arts of the University of Porto and scientific coordinator of the CITCEM Research Centre. Her scientific interests include agent-based analysis applied to historical dynamics, social and economic networks and seaport communities . These topics are applied to her direct interests on the Portuguese Overseas Expansion and the European Colonization in the Early Modern Age. Seaports history, migrations, transfers and flows between different continents and oceans as well as the environmental impacts of the European colonization overseas are key-subjects of Amélia Polónia's recent research. FABIANO BRACHT PhD in History at the University of Porto, Postdoctoral Researcher at the University of São Paulo (USP), and researcher of the CITCEM, University of Porto. His recent publications are related with the thematics of the Social His- tory of Health, History of Science, Medicine, Pharmacy and Natural Sciences, and Environmental History. Bracht’s cur- CROSS-CULTURAL EXCHANGE CROSS-CULTURAL EXCHANGE CROSS-CULTURAL EXCHANGE rent research field is the History of Medicine and Natural AND THE CIRCULATION OF Sciences in the eighteenth century South Asia and the pro- KNOWLEDGE IN THE FIRST AND THE CIRCULATION OF AND THE CIRCULATION OF duction and circulation of knowledge within the Colonial GLOBAL AGE KNOWLEDGE IN THE FIRST KNOWLEDGE IN THE FIRST Empires. GLOBAL AGE GISELE C. CONCEIÇÃO EDITORS PhD in History at the University of Porto, Portugal. -

Homens De Ciência a Serviço Da Coroa
Homens de ciência a serviço da coroa. Os intelectuais do Brasil na Academia Real de Ciências de Lisboa. 1779/1822 Introdução: As relações entre a colónia brasileira e Portugal ao longo de 322 anos (1500 – 1822) se manteve sustentada por pilares de valores indestrutíveis: sangue, língua, cultura e passados comuns. As relações entre a metrópole europeia e a colónia americana foram de tamanha intensidade que episódios da vida de ambas se entrelaçaram de tal forma que, para alguns autores, “não tiveram paralelo na história das metrópoles europeias com os seus respectivos territórios coloniais” 1. Com efeito no Brasil a Corte portuguesa instalou-se durante treze anos; um Rei de Portugal subiu ao trono; uma Rainha de Portugal lá morreu e outra nasceu; o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal e dos Algarves; teve seu processo de independência conduzido por D. Pedro, Príncipe da Coroa portuguesa, o qual tornou-se seu primeiro imperador e mais tarde Rei de Portugal com o título de D. Pedro IV. D. João VI , Rei de Portugal, passou a ter título intransferível de Imperador do Brasil e também na sua colónia americana uma constituição de Portugal foi elaborada e outorgada. O nosso trabalho limita-se à segunda metade do século XVIII, (1779), e aos primeiros anos do século XIX, (1822), considerado um tempo histórico de extrema importância tanto para a metrópole quanto para a colónia. No cenário internacional 1 Dário Moreira de Castro Alves. “Brasil – Portugal, 1500 - 2000”. Leituras: Revista da Biblioteca Nacional, nº 06, Abril-Out 2000. Lisboa. 1 encontramos movimentos revolucionários que promoveram a destruição progressiva do Antigo Regime 2 e a construção de novas instituições do Estado. -

Os Diálogos Filosóficos Do Padre Teodoro De Almeida.Pdf
Limite. ISSN: 1888-4067 Vol. 11.1, 2017, pp. 89-110 Os diálogos filosóficos do padre Teodoro de Almeida Carlos Fiolhais* Universidade de Coimbra Dpto. de Física Faculdade de Ciências e Tecnologia [email protected] Data de receção 05-04-17 Data de aceitação: 20-09-17 Resumo Apresenta-se a obra Recreação Filosófica, do padre oratoriano Teo- doro de Almeida, que foi expoente do Iluminismo português e ibérico. Naquela obra, escrita em português mas logo traduzida em espanhol, é introduzida a “nova ciência”, sob a forma de diálogo entre três personagens. Resumem-se o contexto da época, incluindo as influências espanhola e francesa sobre o autor que viveu em Espanha e França, o objectivo de divulgação científica, os conteúdos e as metodologias. O êxito editorial alcançado mostra que a obra cumpriu o seu propósito pioneiro. Palavras-chave: Teodoro de Almeida – Recreação Filosófica – Orato- rianos – Filosofia Natural – diálogos. Abstract We present the book Philosophical Recreation, by the Oratorian priest Teodoro de Almeida, who was an exponent of the Portuguese and Iberian Enlightenment. In that work, written in Portuguese but soon translated into Spanish, the "new science" is introduced in the form of a dialogue between three characters. We summarize the context of the time, including the Spanish and French influences on the author who lived in Spain and France, the objective of science dissemination, the contents and the methodologies. The editorial success achieved shows that the work fulfilled its pioneering purpose. Keywords: Teodoro de Almeida – Philosophical Recreation – Orato- rians – Natural Philosophy – dialogues. CARLOS FIOLHAIS OS DIÁLOGOS FILOSÓFICOS… Teodoro de Almeida (1722-1804)1, padre da Congregação do Oratório nascido em Lisboa, físico, astrónomo, pedagogo, filósofo e teólogo, é um expoente do Iluminismo Católico em Portugal. -

A BRIEF HISTORY of the INTRODUCTION of MODERN SCIENCE to PORTUGAL DURING the 18Th CENTURY
A BRIEF HISTORY OF THE INTRODUCTION OF MODERN SCIENCE TO PORTUGAL DURING THE 18th CENTURY TERESA CASTELÃO-LAWLESS Abstract: The focus of this article is on the role played by members of the Society of Jesus, the Order of the Oratorians, and the Jewish community in the introduction of Modern science in Portugal during the 18th century. The record of their publications prove, contrary to common stereotypes on the permanent conflict between science and religion, that they all embraced Modern, anti-Aristotelian, natural philosophy fairly equally and unreservedly. The rhetoric they used in manuscript Dedications to prospective patrons also show that they were actively engaged in shifting Modern science from a context of private consumption to one of public circulation. I acknowledge that the dissemination of Modern science in Portugal during the 1700’s was slow and protracted. This phenomenon, however, was not, as typically argued, caused by scientific conservatism on the part of the religious Orders, or the ill will of patrons of the sciences, but by the political motives of enlightened despots João V, José I and his Prime-Minister the Marquis of Pombal. Keywords: Modern science, Society of Jesus, Congregation of the Oratorians, enlightenment, University of Coimbra, rhetoric of science PART ONE. WHO WAS READY FOR MODERN SCIENCE DURING THE 18th CENTURY? It is safe to say that the Golden age of Modern philosophy in Portugal started during the 1st half of the 18th century under João V (1707- 1750), and continued to develop under José I (1750-1777). Since the end of the 17th century, João V spent much wealth coming in from Brazil to modernize Colleges and Universities in Continental Portugal. -

Teodoro De Almeida
Teodoro de Almeida Teodoro de Almeida Entre as histórias da História e da Literatura Por Maria Luísa Malato Borralho Teodoro de Almeida é hoje um entre muitos paradoxos da fortuna literária. Polígrafo oratoriano do Iluminismo católico português, estendeu a sua obra por vastos domínios do saber: filosofia (ontologia, ética, metafísica, lógica, e até psicologia), religião (parenética e teologia), ciências físico-naturais. Cultivou o verso e a prosa literária. Os seus livros de filo- sofia natural, sucessivamente reeditados, foram os principais responsáveis pela divulgação dos conhecimentos científicos entre os leitores do século XVIII. Uma narrativa sua, de 1779, O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna, teve leitores fiéis durante cerca de cem anos. E todavia, de uma vida cheia e obra vasta, hoje pouco resta nas actuais referências da nossa cultura. Se, nos estudos de pendor histórico-cultural, ainda vai havendo quem se interesse por ambas1, já no domínio dos estudos literários, ou ainda mais precisamente nos teórico-literá- rios, é quase unânime o silêncio2. Tal raridade e tal silêncio parecem-nos ainda mais injustos quando se confundem com a indiferença ou tão só com o esquecimento. Entre a História da Cultura portuguesa e a História da Literatura, entre o conhecimento do evento e o conheci- mento do literário existem muitos laços insuspeitos. Pelo menos tantos como as histórias que unem historiadores a estoriadores. 1 Citem-se a título de exemplo, Fernando AZEVEDO - Teodoro de Almeida (1722-1804) and the portuguese enlightenment, Ann Arbor (Mich.), University Microfilms International, 1982, fac-simile do microfilme. Do mesmo autor, "A piety of the enlightenment: the spirituality of truth of Teodoro de Almeida", sep. -

The Circulation of Natural Philosophy in Portugal
Not Lagging Behind Enlightened Europe: The Circulation of Natural Philosophy in Portugal Teresa Castelão-Lawless* Abstract: This article is about the circulation of modern science in Europe during the 18th century. Specifically, I focus on the works of two Portuguese science popularizers, Jesuit Inácio Monteiro and Oratorian Teodoro de Almeida, and identify some of the actors they recruited to make the new sciences available to the public. Then, I compare their work to that of science popularizers in other European countries, and show that, contrary to prevailing national stereotypes, Portugal was not lagging behind the rest of Enlightened Europe with respect to the dissemination of the new natural philosophy. Keywords: public circulation of knowledge, Portuguese 18th century eclecticism, natural philosophy, scientific fact making INTRODUCTION The Marquis of Pombal (1699-1782), prime minister of José I, claimed that the scientific backwardness into which the Portuguese found themselves in the middle of an otherwise Enlightened Europe resulted from a two-century long monopoly on education by the religious Orders. Purportedly, the resistance offered by Jesuits and Oratorians to the new trends in natural philosophy contributed to the perpetuation of an Aristotelian-Peripatetic philosophy of nature and of superstitious thinking in the country. Portuguese historians have already overturned this anticlerical perception of the relations between the new science and religious institutes of education. They show that Jesuits at the College of Arts in Coimbra had been negotiating with João V (and later with José I) to modernize science curricula at their schools since 1712, while Oratorians held public sessions on experimental philosophy at their Casa das Necessidades in Lisbon since the early 1730s. -

List 15 Spain
Occasional List 15 SPAIN & THE SPANISH EMPIRE JUDITH HODGSON 11 Stanwick Road London W14 8TL Tel.: 44 (0) 20 7603 7414 E-mail: [email protected] Web: www.judithhodgson.com No. 48 Vergara y Alba List 15 1. ASTARLOA y AGUIRRE, Pablo Pedro: Apología de la lengua bascongada, ó ensayo crítico filosófico de su perfeccion y antigüedad so- bre todas las que se conocen: en respuesta á los reparos propuestos en el Diccionario geográfico histórico de España, tomo segundo, palabra Naba- rra. Small 4to. XXIV, 452 pp. Contemporary calf (extremities worn). Madrid, Geronimo Ortega, 1803. £ 100. Palau 18774. Salvá 2200, “escaso.” The author mounts a spirited defence of the Basque language to contest the writings of Joaquin Tra- ggia’s Breve noticia de Navarra, inserta en el Diccionario histórico geográfico de España de la Real Academia de la Historia. “The late eighteenth and early nineteenth century witnessed a flowering of interest in the Basque language within the Basque County . The author was primarily concerned to demonstrate that Basque had anciently been the language of all Spain, and that it best preserved the ‘perfect’ state of the ancestral human language. Astarloa, a native of Durango in Bizkaia, was not entirely devoid of analytical abilities . .” (R.L. Trask, The history of Basque. London 1997, p. 52). Andrew Dalby (Dictionary of Languages, pp. 76-7) notes that “Basque whalers and cod fishermen regularly spent their summers around the mouth of the St Lawrence river from the 16th century onwards. The French explo- rer, Jacques Cartier, found in 1542 that the Amerindians of the St Lawrence shores could speak a kind of Basque . -

The Spirituality of Truth of Teodoro De Almeida
A Piety of the Enlightenment: the Spirituality of Truth of Teodoro de Almeida I The accession of D. Maria I to the throne at the death of her father, King Joseph I, in 1777, ended the political domination by the King's powerful Minister, the Marquis of Pombal. And the victims of the Pombaline era lost little time in petitioning the Queen to restore their lost fortunes and titles. They also included the returning exiles, among whom was the Queen's cousin, D. João Carlos de Bragança, soon to become, with D. Maria I's generosity, the next Duke of Lafões. Others, like the Portuguese Oratorian Teodoro de Almeida, returned, simply grateful for the opportunity to live and work in their native land once more. Perhaps the publi- cation in 1779 of O feliz, a novel that Almeida wrote during his ten year exile from Portugal, was an expression of gratitude for being in Lisbon again. O feliz presented to the Portuguese reader an intellectualized piety, which had been germinating in his earlier devotional works, and which, for reasons to be explained below, we call a «spirituality of truth». The popularity of this novel1, (though a modern critic has cited its lack of intrinsic literary value2) forces us to conclude that Almeida had hit upon a piety in tune with the times. 1 ROBERT RICARD, «Sur la diffusion des oeuvres du P. TEODORO DE ALMEIDA»; Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira, IV (Outubro-Dezembro, 1963), 626-630, V (Outubro-Dezembro, 1964), 632-634. 2 HERNÂNI CIDADE, Lições de cultura e literatura portuguesas, Vol. -

Sources for the History of Science in Portugal: One Possible Option
Sources for the History of Science in Portugal: one possible option Maria Paula Diogo*, Ana Carneiro*, Ana Simoes** This article focuses on a particular group of sources, which in our opinion is relevant to the history of science in Portugal. In Portugal we are stilllacking a complete inventory of sources available to this research field, as well as critical analysis of their quality and potential. In this paper, we chose to describe and analyse a particular group of sources, which were not produced by scientists, or if they were, focused on the conditions surroun ding scientific production but not on science per se. Our aim is not to provide a picture of Portuguese science in the 18th and 19th centuries, together with its problems and main leading figures. Rather, it is to provide a systematic analysis of a group of documents, which seems to us fundamental to the understanding of the landscape in which the Portuguese com munity operated and of the state of national scientific culture. Este artículo está centrado en torno a un grupo particular de fuentes que, en nuestra opinión, son relevantes para la historia de la ciencia en Portugal. Todav{a carecemos de un inventario completo de las fuentes disponibles para este campo de investigación en Portugal así como de un análisis crítico de su calidad y su potencial. En este articulo, hemos elegido la des cripción y el análisis de un grupo particular de fuentes que o bien no fueron producidas por científicos o, cuando lo fueron, están centradas en las condiciones que rodean la producción científica, no en la ciencia por sí misma. -

Complete Issue In
Vol. 6 | Fall 2012 Communicating Science,Technology and Medicine Journal of History of Science and Technology ISSN 1646-7752 www.johost.eu Cover Electric lighting in the city. La Ilustración. Revista Hispanoamericana, 1888, 397 (front page). Journal of History of Science and Technology Vol.6, Fall 2012 ISSN 1646-7752 www.johost.eu Published by Interuniversity Centre for the History of Science and Technology CIUHCT – www.ciuhct.com Faculty of Sciences University of Lisbon Faculty of Sciences and Technology New University of Lisbon Institute of Social Sciences ICS - University of Lisbon www.ics.ul.pt Interdisciplinary Centre for History, Cultures and Society CIDEHUS - University of Évora www.cidehus.uevora.pt Design / webdesign Carlos Francisco [email protected] Editorial Board Chief editor Ana Carneiro (CIUHCT, Faculty of Sciences and Technology - New University of Lisbon) Book Review Editor Marta Macedo (CIUHCT, Faculty of Sciences - University of Lisbon) Editorial Board Maria Paula Diogo (Faculty of Sciences and Technology - New University of Lisbon) Henrique Leitão, (Faculty of Sciences - University of Lisbon) Ana Cardoso de Matos (University of Évora) Ana Simões (Faculty of Sciences - University of Lisbon) Tiago Saraiva (Institute of Social Sciences - University of Lisbon) Fátima Nunes (University of Évora) Palmira Fontes Costa (Faculty of Sciences and Technology - New University of Lisbon) Elvira Callapez (CIUHCT) Luís Miguel Carolino (CIUHCT) Advisory Board Cristiana Bastos (University of Lisbon) Jim Bennett (University of Oxford) -

Church and State
Revista Brasileira de História ISSN 1806-9347 Church and State The Revista Brasileira de História integrates the portals Scielo, Redalyc and Periódicos Capes, accessible through the following URL´s: http://www.scielo.br/rbh • http://redalyc.uaemex.mx • HTTP://www.periodicos.capes.gov.br Indexing data bases: Scopus, ISI Web of Knowledge, ABC-CLIO, Hispanic American Periodicals Index (HAPI) Revista Brasileira de História – Official Organ of the National Association of History. São Paulo, AN PUH, vol. 32, no 63, jan.-jun. 2012. Semiannual ISSN: 1806-9347 CO DEN: 0151/RBHIEL ANPUH – BOARD OF DIRECTORS – NATIONAL 2011-2013 Presidente: Benito Bisso Schmidt – UFRGS Vice-Presidente: Margarida Maria Dias de Oliveira – UFRN Secretário Geral: Angelo Aparecido Priori – UEM 1o Secretário: Antonio Celso Ferreira – UNESP 2o Secretário: Carlos Augusto Lima Ferreira – UEFS 1o Tesoureiro: Francisco Carlos Palomanes Martinho – USP 2o Tesoureiro: Eudes Fernando Leite – UFGD Editora da Revista Brasileira de História: Marieta de Moraes Ferreira – UFRJ/FGV Editora da Revista História Hoje: Patrícia Melo Sampaio – UFAM ANPUH – ADVISORY BOARD Almir Félix Batista de Oliveira – RN Altemar da Costa Muniz – CE Áurea da Paz Pinheiro – PI Braz Batista Vas – TO Célia Costa Cardoso – SE Célia Tavares – RJ Élio Chaves Flores – PB Eurelino Coelho – BA Hélio Sochodolak – PR Hideraldo Lima da Costa – AM Jaime de Almeida – DF João Batista Bitencourt – MA Julio Bentivoglio – ES Luís Augusto Ebling Farinatti – RS Luzia Margareth Rago – SP Marcília Gama – PE Maria da Conceição Silva – GO Maria de Nazaré dos Santos Sarges – PA Maria Teresa Santos Cunha – SC Neimar Machado de Sousa – MS Ronaldo Pereira de Jesus – MG Sérgio Onofre Seixas de Araújo – AL Thereza Martha Borge Presotti Guimarães – MT ANPUH REPRESENTATIVE AT THE NATIONAL ARCHIVES COUNCIL (CONARQ) Titular: Ismênia de Lima Martins – UFF Suplente: Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira – UERJ SECRETARY AT RBH Flavia Uliana Lima – USP Correspondence: ANPUH – Av. -

Discourse and Disaster: a Universal History of Lisbon's 1755 Earthquake
ESTELA VIEIRA Discourse and Disaster: A Universal History of Lisbon’s 1755 Earthquake ABSTRACT: This essay analyzes one of the most important and often quoted eyewitness accounts of the November 1, 1755 Lisbon earthquake that was written in Portuguese, História universal dos terramotos [Universal history of earthquakes] by Joaquim José Moreira de Mendonça, published in 1758. It attempts to interpret and understand the text not as it has been traditionally read—as an individual reaction or first-hand ac- count of the event—but instead as the scientific and historic treatise that the author intended to write. What is most striking about Moreira de Mendonça’s attempt to re- spond scientifically to the disaster is not the accurateness of the notions put forth, but the narrative structures and the epistemological forms of reasoning that emerge from it. These rhetorical and theoretical strategies point to conceptual developments in the orientation of thinking and writing in relation to crisis and disaster. KEYWORDS: Lisbon Earthquake of 1755; História universal dos terramotos; Joaquim José Moreira de Mendonça; disaster; universal history RESUMO: Este ensaio analisa um dos mais importantes e frequentemente citados relatos escrito em português sobre o terramoto de Lisboa de 1 de Novembro de 1755, História universal dos terramotos de Joaquim José Moreira de Mendonça, publicado em 1758. O ensaio tenta interpretar e compreender o texto de Mendonça não apenas como ele tem sido tradicionalmente lido—isto é como uma resposta individual ou um relato de uma testemunha ocular do evento—mas antes como o tratado científico e histórico que o autor pretendeu escrever.