Universidade De Évora
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aproximación Al Catálogo Micológico Del Parque Natural Sierra De Grazalema (Cádiz-Málaga)
Arículo Aproximación al catálogo micológico del Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz-Málaga) Manuel Becerra Parra1 & Estrella Robles Domínguez1 1 Bda. San Miguel, 1 29370 Benaoján (Málaga). [email protected] (Miembros de la SGHN) Recibido: 31 de julio de 2018. Aceptado (versión revisada): 29 de octubre de 2018. Publicado en línea: 11 de noviembre de 2018. Approximaion to the mycological catalogue of the Sierra de Grazalema Natural Park (Cádiz-Málaga) Palabras claves: Andalucía; corología; hongos; micobiota. Keywords: Andalusia; chorology; fungi; mycobiota. Resumen Abstract Se publica un avance del catálogo micológico del Parque Natural An advance of the mycological catalog of the Sierra de Grazalema Sierra de Grazalema. Éste consta provisionalmente de 731 taxones. Natural Park is published. This one provisionally consists of 731 taxones. Introducción no ha despertado el interés de los micólogos hasta fechas recientes. El Parque Natural de la Sierra de Grazalema, el decano de los espacios naturales protegidos andaluces, se sitúa en el sector En los años 70 del siglo pasado tan sólo encontramos algunas más occidental de la Serranía de Ronda, entre las provincias de referencias a taxones recolectados en su territorio (Maleçon Cádiz y Málaga. Las condiciones ambientales que se dan en él, 1968; Bertault 1974; Maleçon y Bertault 1976; Moreno 1976). hacen posible la existencia de una gran variedad de Esta falta de interés cambiará a comienzos de los años 80 ecosistemas forestales, por lo general en un buen estado de cuando algunos micólogos comienzan a estudiar la micobiota conservación, que permiten la presencia de una rica asociada a los pinsapares de la Serranía de Ronda. -

Assessing Phylogeographic Traits and Distribution Patterns of Amanita Ponderosa (Malençon & R
Assessing phylogeographic traits and distribution patterns of Amanita ponderosa (Malençon & R. Heim) in Iberian Peninsula Ricardo Manuel Arraiano Castilho Biodiversity, Genetics and Evolution CIBIO - FCUP Supervisor Albano Gonçalo Beja Pereira Investigador Auxiliar – CIBIO-FCUP Assessing phylogeographic traits and distribution patterns of Amanita ponderosa (Malençon & R. Heim) in Iberian Peninsula Ricardo Manuel Arraiano Castilho Research Center in Biodiversity and Genetic Resources Master thesis Porto 2013 Supervisor Albano Gonçalo Beja Pereira Investigador Auxiliar - CIBIO-FCUP Todas as correções determinadas pelo júri, e só essas, foram efetuadas. O Presidente do Júri, Porto, ______/______/_________ Esta página foi intencionalmente deixada em branco FCUP I Assessing phylogeographic traits and distribution patterns of Amanita ponderosa in Iberian Peninsula Acknowledgements Behind our personal achievements, besides own considerable effort, hides usually a very large number of contributions, support, suggestions, comments or criticisms from many people. I would like to thank here all those who in some way helped me and contributed to all this became possible. Beginning of course for my supervisor, Dr. Albano Beja Pereira from CIBIO/InBIO who was the first to accept the crazy idea of studying mushrooms giving me the opportunity to proceed the studies in my interest research area and for the enthusiastic, encouragement and useful critiques for this research work. I also would like to thank in particular to Vânia Costa for all advices and lab supervision, Mr. Shanyuan Chen for helping in data Analysis and all members of GENPOP research group for their contribution. To Professor Michael R. Miller from University of California, Davis for the precious help and for contributing on my ongoing learning process in RAD data analysis. -

Checklist of Macrofungal Species from the Phylum
UDK: 582.284.063.7(497.7) Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, 2018, Vol. 21, pp: 23-112 Received: 10.07.2018 ISSN: 0583-4988 (printed version) Accepted: 07.11.2018 ISSN: 2545-4587 (on-line version) Review paper Available on-line at: www.acta.musmacscinat.mk Checklist of macrofungal species from the phylum Basidiomycota of the Republic of Macedonia Mitko Karadelev1*, Katerina Rusevska1, Gerhard Kost2, Danijela Mitic Kopanja1 1Institute of Biology, Faculty of Natural Science and Mathematics, Ss Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia 2Department of Systematic Botany and Mycology, Faculty of Biology, Philipps University of Marburg, Germany *corresponding author’s e-mail: [email protected] Abstract The interest in macrofungal studies in Macedonia has been growing in the past 20 years. The data sources used are published data, exsiccatae and notes from our own studies, as well as specimens from other collectors. According to the research conducted up to now, a total of 1,735 species, 27 varieties and 4 forms of Basidiomycota have been recorded in the country. A large part of this data is a result of the field and taxonomic work in the last two decades. This paper includes 497 taxa new to Macedonia. Key words: fungi, Macedonian macrofungi diversity, nomenclature, taxonomy. Introduction array of regions in Macedonia, such as Pelister, Jakupi- ca, Galichica, Golem Grad Island, Kozuf, Shar Planina From a mycological perspective, the Republic of and South Povardarie, mainly lignicolous species of Macedonia has been studied reasonably well. A num- fungi were studied (Tortić 1988; Karadelev 1993, ber of publications have been made by foreign mycolo- 1995c, d; Karadelev, Rusevska 2000; Karadelev et al. -

A Compilation for the Iberian Peninsula (Spain and Portugal)
Nova Hedwigia Vol. 91 issue 1–2, 1 –31 Article Stuttgart, August 2010 Mycorrhizal macrofungi diversity (Agaricomycetes) from Mediterranean Quercus forests; a compilation for the Iberian Peninsula (Spain and Portugal) Antonio Ortega, Juan Lorite* and Francisco Valle Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. 18071 GRANADA. Spain With 1 figure and 3 tables Ortega, A., J. Lorite & F. Valle (2010): Mycorrhizal macrofungi diversity (Agaricomycetes) from Mediterranean Quercus forests; a compilation for the Iberian Peninsula (Spain and Portugal). - Nova Hedwigia 91: 1–31. Abstract: A compilation study has been made of the mycorrhizal Agaricomycetes from several sclerophyllous and deciduous Mediterranean Quercus woodlands from Iberian Peninsula. Firstly, we selected eight Mediterranean taxa of the genus Quercus, which were well sampled in terms of macrofungi. Afterwards, we performed a database containing a large amount of data about mycorrhizal biota of Quercus. We have defined and/or used a series of indexes (occurrence, affinity, proportionality, heterogeneity, similarity, and taxonomic diversity) in order to establish the differences between the mycorrhizal biota of the selected woodlands. The 605 taxa compiled here represent an important amount of the total mycorrhizal diversity from all the vegetation types of the studied area, estimated at 1,500–1,600 taxa, with Q. ilex subsp. ballota (416 taxa) and Q. suber (411) being the richest. We also analysed their quantitative and qualitative mycorrhizal flora and their relative richness in different ways: woodland types, substrates and species composition. The results highlight the large amount of mycorrhizal macrofungi species occurring in these mediterranean Quercus woodlands, the data are comparable with other woodland types, thought to be the richest forest types in the world. -
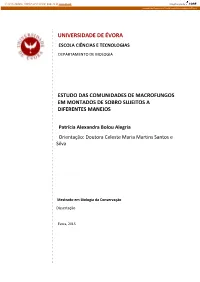
Universidade De Évora
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repositório Científico da Universidade de Évora UNIVERSIDADE DE ÉVORA ESCOLA CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ESTUDO DAS COMUNIDADES DE MACROFUNGOS EM MONTADOS DE SOBRO SUJEITOS A DIFERENTES MANEIOS Patrícia Alexandra Bolou Alegria Orientação: Doutora Celeste Maria Martins Santos e Silva Mestrado em Biologia da Conservação Dissertação Évora, 2015 UNIVERSIDADE DE ÉVORA ESCOLA CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ESTUDO DAS COMUNIDADES DE MACROFUNGOS EM MONTADOS DE SOBRO SUJEITOS A DIFERENTES MANEIOS Patrícia Alexandra Bolou Alegria Orientação: Doutora Celeste Maria Martins Santos e Silva Mestrado em Biologia da Conservação Dissertação Évora, 2015 A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. (Mahatma Gandhi) ii Agradecimentos À Professora Celeste Maria Martins Santos e Silva, pela sua orientação, pelo conhecimento que me transmitiu, pelas opiniões e críticas e pelo esclarecimento de dúvidas ao longo da realização deste trabalho. Ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), que através do INALENTEJO, financiou o projeto “A gestão da intensidade do pastoreio face à valorização do montado como sistema de elevado valor natural”, onde foram retirados os dados deste trabalho. Bem como à Professora Celeste Maria Martins Santos e Silva, ao Mestre Rogério Louro e ao Mestre Carlos Godinho, que me cederam os dados que me permitiram realizar este o trabalho. Aos meus familiares e amigos, pelo apoio, amizade e auxílio prestado. iii Estudo das comunidades de macrofungos em montados de sobro sujeitos a diferentes maneios Resumo O montado de sobro apresenta uma grande diversidade de nichos ecológicos resultantes da ação humana. -

Os Nomes Galegos Dos Cogumelos 2019 2ª Ed
Os nomes galegos dos cogumelos 2019 2ª ed. Citación recomendada / Recommended citation: A Chave (20192): Os nomes galegos dos cogumelos. Xinzo de Limia (Ourense): A Chave. http://www.achave.ga"/wp#content/up"oads/achave_osnomes!a"egosdos$co!umelos$2019.pd% Fotografía: rebentabois (Amanita muscaria ). Autor: Piero Perrone. &sta o'ra est( su)eita a unha licenza Creative Commons de uso a'erto* con reco+ecemento da autor,a e sen o'ra derivada nin usos comerciais. -esumo da licenza: https://creativecommons.or!/"icences/'.#n #nd//.0/deed.!". Licenza comp"eta: https://creativecommons.or!/"icences/'.#n #nd//.0/"e!a"code0"an!ua!es. 1 Notas introdutorias O que contén este documento Neste documento fornécense denominacións sobre todo para especies de cogumelos galegas (e) ou europeas, aínda que tamén para algunha especie exótica das máis coñecidas (xeralmente por causa do seu interese culinario ou industrial, ou por estaren presentes con certa frecuencia nos medios de divulgación) !n total, achégase o nome galego para "#$ especies de cogumelos % primeira edición data de &'(# % segunda edición comezou a publicarse no ano &'(8 e viu a súa versión definitiva no ano &'(, Nesta segunda edición corrixiuse algunha gralla, revisouse polo miúdo a bibliografía toda, modificouse o nome dalgún cogumelo ou engadiuse algún outro nome, reescribíronse as notas introdutorias e incorporouse o logo da -have ao deseño do documento .estacáronse ademais con fondo azul claro as especies galegas A estrutura !n primeiro lugar preséntase unha clasificación taxonómica que -

Algunas Especies De Macromicetos Presentes En Un Jaral De Cistus Ladanifer L. En El Municipio De a Rúa De Valdeorras (Ourense, NO Península Ibérica) III
Algunas especies de macromicetos presentes en un jaral de Cistus ladanifer L. 7 en el municipio de A Rúa de Valdeorras (Ourense, NO península ibérica) III Algunas especies de macromicetos presentes en un jaral de Cistus ladanifer L. en el municipio de A Rúa de Valdeorras (Ourense, NO península ibérica) III Autor: Julián Alonso Díaz. Sociedade Micolóxica Lucus de Lugo. [email protected]; [email protected] RESUMEN En este artículo se amplían los estudios previos realizados sobre macromicetos presentes en un jaral de Cistus ladanifer L. localizado en el municipio de A Rúa de Valdeorras (Ourense, Galicia, España, NO península ibérica), con las citas y descripción de 9 taxones, uno específicamente asociado a Cistus spp.: Hebeloma cistophilum Maire, y 8 no exclusivos de este hábitat: Amanita curtipes f. curtipes E.-J. Gilbert, Amanita pantherina (DC.) Krombh., Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan, Boletus aereus Bull., Cortinarius gallurae D. Antonini, M. Antonini & Consiglio, Cerioporus meridionalis (A. David) Zmitr. & Kovalenko, Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel.) Pers. y Thelephora terrestris Ehrh., siendo Cortinarius gallurae y Cerioporus meridionalis primeras citas para Galicia. Palabras clave: Macromycetes, Basidiomycetes, Cistus ladanifer, A Rúa de Valdeorras, Ourense, Cortinarius gallurae, Cerioporus meridionalis. ABSTRACT In this article previous studies on macromycetes present in a cistus maquis of Cistus ladanifer L. located in the municipality of A Rúa de Valdeorras (Ourense, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula) are extended with the records and descriptions of 9 taxa, one of them specifically associated with Cistus spp.: Hebeloma cistophilum Maire, and the others are 8 non exclusive taxa of this habitat: Amanita curtipes f. curtipes E.-J. -

Revista N° 28 Año 2016 Revista De Micología N° 28
REVISTA N° 28 AÑO 2016 REVISTA DE MICOLOGÍA N° 28 EDITADO POR: LA SOCIEDAD MICOLÓGICA CÁNTABRA Redacción y Coordinación: José Ignacio GÁRATE LARREA Alberto PÉREZ PUENTE Antonio del PIÑAL LLANO Jesús CALLE VELASCO Maquetación: Claude LAVOISE Esta revista se repartirá gratuitamente entre los socios de la Sociedad Micoló- gica Cántabra y se intercambiará con publicaciones de otras Sociedades. Se remitirá bajo pedido expreso dirigido a: Sociedad Micológica Cántabra Plaza María Blanchard, 7 - 2 bajo 39600 MALIAÑO (CANTABRIA) ESPAÑA e-mail: [email protected] o a [email protected] La Sociedad Micológica Cántabra no se hace responsable de las opiniones reflejadas por los autores de los artículos publicados en esta revista. CAMARGO, septembre 2016 Foto portada: F. J. MIGUEL-PACHECO, Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. Foto contraportada: V. CASTAŇERA, Amanita curtipes E.-J. Gilbert IMPRIME: DEPÓSITO LEGAL: SA-413-1989 ISSN: 1888-8984 Prohibida la reproducción total o parcial sin citar la procedencia. - 2 - YESCA 28 (2016) Sumario - Editorial....................................................................................................................... 4 - Rincón social.............................................................................................................. 5 Biodiversidad - Brezos de Cantabria (G. VALDEOLIVAS-BARTOLOMÉ).................................................... 9 - La reputación de los hongos a través del tiempo (R. ÁLVAREZ)................................ 15 - Hifas de hongos como material de construcción -

Amanita Curtipes Curtipes Amanita 5 De 1 Página 20091122
© Demetrio Merino Alcántara [email protected] Condiciones de uso Amanita curtipes E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. Mycol. 27(Suppl. 1): 279 (1941) Amanitaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi ≡ Amanita curtipes E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. Mycol. 27(Suppl. 1): 279 (1941) f. curtipes ≡ Amanita curtipes f. pseudovalens Neville & Poumarat, Fungi europ. (Alassio) 9: 656 (2004) ≡ Amanita curtipes E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. Mycol. 27(Suppl. 1): 279 (1941) var. curtipes ≡ Amidella curtipes (E.-J. Gilbert) E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. Mycol. 27(Suppl. 1): 77 (1941) Material estudiado: España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5044, 771 m, en suelo en bosque mixto de Cedrus atlantica, Quercus ilex ssp. ballo- ta y Pinus pinaster con sotobosque de Cistus ladanifer, 22-XI-2009, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8631. Descripción macroscópica: Sombrero de 3-5 cm Ø, de convexo a aplanado algo deprimido en el centro, blanco con tonos rosados, margen incurvado, entero pero ligeraamente estriado en la vejez. Aspecto rusuloide. Láminas libres, blancas, apretadas, con la arista entera. Pie de 3-5 x 0,8 -1 cm, cilíndrico, ligeramente bulboso en la base y atenuado en el ápice, blanco rosado, furfuráceo, sin anillo y rara vez con restos del mismo, con volva membranosa sacciforme y consistente. Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (42,5-)44,9-58,6(-60,4) x (9,9-)10,3-12,0(-12,5) µm; N = 10; Me = 50,7 x 11,1 µm. Basidiosporas en su mayoría cilíndricas, algunas elipsoidales a piriformes, amiloides, lisas, hialinas, gutuladas, apicula- das, de (9,4-)11,9-15,6(-18,0) x (5,7-)6,2-7,7(-9,6) µm; Q = (1,6-)1,8-2,2(-2,4); N = 92; Me = 13,7 x 7,0 µm; Qe = 2,0. -

Por a Observación E Estudo Dos Seres Vivos Conduciu Á Conclusión De Que Posuían Algunhas Características Peculiares, Propia
Mykes 16: 57-69. 2013 SINOPSE BREVE SOBRE NOMENCLATURA CIENTÍFICA EN MICOLOXÍA por M. C ASTRO et J. R ODRÍGUEZ -V ÁZQUEZ * CASTRO , M. et RODRÍGUEZ -V ÁZQUEZ , J. 2013. Sinopse breve sobre nomenclatura científica en micoloxía . Mykes 16: 57-69. RESUMO Sinopse dalgunhas pautas importantes para coñecer e saber aplicar a nomenclatura micolóxica, popular e científica . Palabras clave : micoloxía, nomenclatura, sistema binomial, sistema polinomial, nomes populares. CASTRO , M. et RODRÍGUEZ -V ÁZQUEZ , J. 2013. Brief synopsis of scientific nomenclature in mycology . Mykes 16: 57-69. SUMMARY This is a summary of important patterns to learn how to apply micologycal, popular and scientific nomenclature . Key words :mycology, nomenclature, binomial system, polynomial system . INTRODUCIÓN A observación e estudo dos seres vivos conduciu á conclusión de que posuían algunhas características peculiares, propias de cada individuo, e outras en común con outros organismos, en base a elas podíanse describir (caracteres sistemáticos) e identificar (caracteres diagnóstico), así como agrupar en categorías. A Sistemática é a parte da Bioloxía que ten por obxecto crear sistemas de clasificación, mediante a descripción dos organismos e dos diversos grados de similitude entre entre eles. Partes da Sistemática son a Clasificación, a Taxonomía e a Nomenclatura. * Laboratorio de Micoloxía. Facultade de Bioloxía. Campus As Lagoas-Marcosende. Universidade deVigo. E-36310-Vigo. e-mail: [email protected] ; [email protected] 57 Mykes 16: 57-69. 2013 Clasificación consiste en agrupar (animais, plantas, etc.) de forma ordenada, en base a caracteres comúns. Este concepto é diferente a identificar ou determinar. Identificar ou determinar consiste en recoñecer un ser vivo xa clasificado e descrito, aplicándolle o nome dado no momento en que foi descoberto, clasificado e publicado por primeira vez. -

Pdf Available Here
Journal of Animal &Plant Sciences, 2012. Vol.15, Issue 3: 2200-2242 Publication date 31/10/2012, http://www.m.elewa.org/JAPS ; ISSN 2071-7024 Bibliographic catalog of the forest of Mamora (Morocco) fungal flora. Ahmed OUABBOU, Abdelkarim EL-ASSFOURI, Amina OUAZZANI TOUHAMI, Rachid BENKIRANE and Allal DOUIRA Laboratoire de Botanique et de Protection des Plantes, Université Ibn Tofaïl, Faculté des Sciences, B.P. 133, Kenitra, Maroc. Correponding author email: [email protected] Key words : Morocco, Mamora, Basidiomycetes, Ascomycetes, inventory. 1 SUMMARY The analysis work references on the fungal flora of the forest of Mamora (Morocco) helped to highlight 755 taxa. This richness is constituted primarily of higher fungi, which include 708 species of this total fungal flora. It is divided into 48 orders, 244 genera and 119 families whose richer, have more than 20 species each: Agaricaceae (59species), Puccinaceae (56 species), Cortinariaceae (55 species), Russulaceae (41 species), Tricholomataceae (36 species), Coprinaceae (22 species), Amanitaceae (21 species), Entolomataceae (21 species), Bolbitiaceae (20 species) and Polyporaceae (20 species). The Basidiomycetes class constitutes the major part of this flora (77.65%), following by the Ascomycetes class (16.09%). These two classes account for approximately (93.74%) of total Mamora’s fungal flora. 2 INTRODUCTION Morocco is located in between the remained largely unknown until the 1950. Mediterranean Sea to the north, the Atlantic The first significant information collected on Ocean to the west and the Sahara desert to the higher fungi of the forest of Mamora was in the south. Thus, the relief’s orientation favors the last half of the previous century with the work presence of a very varied fauna and flora.This is of Mayor and Werner (1937) who had why it attracted many mycologists in the 1930s, published a catalog in the Memoirs of the especially the plateau, home to the forest of Society of Natural Sciences of Morocco titled Mamora (Boudy, 1951). -

Caracterización Química Y Evaluación De La Actividad Biológica De Setas Silvestres Y Cultivadas Comestibles
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FARMACIA Departamento de Nutrición y Bromatología II TESIS DOCTORAL Caracterización química y evaluación de la actividad biológica de setas silvestres y cultivadas comestibles Chemical characterization and evaluation of the bioactive properties of wild and cultivated edible mushrooms MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Filipa Sofia Dinis Reis Directoras Patricia Morales Gómez Maria Helena da Silva de Vasconcelos Meehan Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira Madrid, 2018 © Filipa Sofia Dinis Reis, 2017 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Facultad de Farmacia Departamento de Nutrición y Bromatología II CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE SETAS SILVESTRES Y CULTIVADAS COMESTIBLES CHEMICAL CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF THE BIOACTIVE PROPERTIES OF WILD AND CULTIVATED EDIBLE MUSHROOMS TESIS DOCTORAL FILIPA SOFIA DINIS REIS Madrid, 2017 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Facultad de Farmacia Departamento de Nutrición y Bromatología II CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE SETAS SILVESTRES Y CULTIVADAS COMESTIBLES CHEMICAL CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF THE BIOACTIVE PROPERTIES OF WILD AND CULTIVATED EDIBLE MUSHROOMS TESIS DOCTORAL FILIPA SOFIA DINIS REIS Para optar al Grado de Doctor, con mención Europea, Directoras: Dra. Patricia Morales Gómez Dra. Maria Helena da Silva de Vasconcelos Meehan Dra. Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira Madrid, 2017 Mª DOLORES TENORIO SANZ, PROFESORA TITULAR DEL ÁREA DE NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA Y DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA II: BROMATOLOGÍA, DE LA FACULTAD DE FARMACIA, DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, CERTIFICA QUE: El presente trabajo de investigación titulado “Caracterización química y evaluación de actividad biológica de setas silvestres y cultivadas comestibles” se ha realizado en el Dpto.