1. Introdução
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
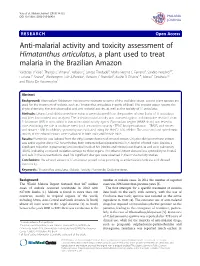
Anti-Malarial Activity and Toxicity Assessment of Himatanthus
Vale et al. Malaria Journal (2015) 14:132 DOI 10.1186/s12936-015-0643-1 RESEARCH Open Access Anti-malarial activity and toxicity assessment of Himatanthus articulatus, a plant used to treat malaria in the Brazilian Amazon Valdicley V Vale1, Thyago C Vilhena1, Rafaela C Santos Trindade2, Márlia Regina C Ferreira2, Sandro Percário3,7, Luciana F Soares4, Washington Luiz A Pereira5, Geraldo C Brandão8, Alaíde B Oliveira1,4, Maria F Dolabela1,6 and Flávio De Vasconcelos1* Abstract Background: Plasmodium falciparum has become resistant to some of the available drugs. Several plant species are used for the treatment of malaria, such as Himatanthus articulatus in parts of Brazil. The present paper reports the phyto-chemistry, the anti-plasmodial and anti-malarial activity, as well as the toxicity of H. articulatus. Methods: Ethanol and dichloromethane extracts were obtained from the powder of stem barks of H. articulatus and later fractionated and analysed. The anti-plasmodial activity was assessed against a chloroquine resistant strain P. falciparum (W2) in vitro, whilst in vivo anti-malarial activity against Plasmodium berghei (ANKA strain) was tested in mice, evaluating the role of oxidative stress (total antioxidant capacity - TEAC; lipid peroxidation – TBARS, and nitrites and nitrates - NN). In addition, cytotoxicity was evaluated using the HepG2 A16 cell-line. The acute oral and sub-chronic toxicity of the ethanol extract were evaluated in both male and female mice. Results: Plumieride was isolated from the ethyl acetate fraction of ethanol extract, Only the dichloromethane extract was active against clone W2. Nevertheless, both extracts reduced parasitaemia in P. berghei-infected mice. -

Phylogeny and Systematics of the Rauvolfioideae
PHYLOGENY AND SYSTEMATICS Andre´ O. Simo˜es,2 Tatyana Livshultz,3 Elena OF THE RAUVOLFIOIDEAE Conti,2 and Mary E. Endress2 (APOCYNACEAE) BASED ON MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL EVIDENCE1 ABSTRACT To elucidate deeper relationships within Rauvolfioideae (Apocynaceae), a phylogenetic analysis was conducted using sequences from five DNA regions of the chloroplast genome (matK, rbcL, rpl16 intron, rps16 intron, and 39 trnK intron), as well as morphology. Bayesian and parsimony analyses were performed on sequences from 50 taxa of Rauvolfioideae and 16 taxa from Apocynoideae. Neither subfamily is monophyletic, Rauvolfioideae because it is a grade and Apocynoideae because the subfamilies Periplocoideae, Secamonoideae, and Asclepiadoideae nest within it. In addition, three of the nine currently recognized tribes of Rauvolfioideae (Alstonieae, Melodineae, and Vinceae) are polyphyletic. We discuss morphological characters and identify pervasive homoplasy, particularly among fruit and seed characters previously used to delimit tribes in Rauvolfioideae, as the major source of incongruence between traditional classifications and our phylogenetic results. Based on our phylogeny, simple style-heads, syncarpous ovaries, indehiscent fruits, and winged seeds have evolved in parallel numerous times. A revised classification is offered for the subfamily, its tribes, and inclusive genera. Key words: Apocynaceae, classification, homoplasy, molecular phylogenetics, morphology, Rauvolfioideae, system- atics. During the past decade, phylogenetic studies, (Civeyrel et al., 1998; Civeyrel & Rowe, 2001; Liede especially those employing molecular data, have et al., 2002a, b; Rapini et al., 2003; Meve & Liede, significantly improved our understanding of higher- 2002, 2004; Verhoeven et al., 2003; Liede & Meve, level relationships within Apocynaceae s.l., leading to 2004; Liede-Schumann et al., 2005). the recognition of this family as a strongly supported Despite significant insights gained from studies clade composed of the traditional Apocynaceae s. -

The Apocynaceae S. Str. of the Carrancas Region, Minas Gerais, Brazil Darwiniana, Vol
Darwiniana ISSN: 0011-6793 [email protected] Instituto de Botánica Darwinion Argentina Simões Olmos, André; Kinoshita Sumiko, Luiza The Apocynaceae s. str. of the Carrancas Region, Minas Gerais, Brazil Darwiniana, vol. 40, núm. 1-4, 2002, pp. 127-169 Instituto de Botánica Darwinion Buenos Aires, Argentina Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66940414 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative A. O. SIMÕES & L. S. KINOSHITA. The ApocynaceaeDARWINIANA s. str. of the Carrancas Region, Minas ISSNGerais, 0011-6793 Brazil 40(1-4): 127-169. 2002 THE APOCYNACEAE S. STR. OF THE CARRANCAS REGION, MINAS GERAIS, BRAZIL ANDRÉ OLMOS SIMÕES & LUIZA SUMIKO KINOSHITA Dpto. de Botânica, IB, Unicamp, Caixa Postal 6109 CEP 13083-970, Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: [email protected] ABSTRACT: Simöes, A. O. & Kinoshita, L. S. 2002. The Apocynaceae s. str. of the Carrancas Region, Minas Gerais, Brazil. Darwiniana 40(1-4): 127-169. The aims of the present work were to identify and characterize the species of Apocynaceae s. str. occurring in the Carrancas region, State of Minas Gerais, Brazil. Collections were performed from 1997 to 2000 and regional representative collections were also examined. The floristic survey showed the presence of 31 species belonging to 15 genera: Aspidosperma (5 spp.), Condylocarpon (1 sp.), Forsteronia (3 spp.), Hancornia (1 sp.), Macrosiphonia (2 spp.), Mandevilla (9 spp.), Mesechites (1 sp.), Peltastes (1 sp.), Prestonia (2 spp.), Rauvolfia (1 sp.), Rhabdadenia (1 sp.), Rhodocalyx (1 sp.), Secondatia (1 sp.), Tabernaemontana (1 sp.) and Temnadenia (1 sp.). -

Estudo Do Gênero Himatanthus : Anatomia
ESTUDO DO GÊNERO HIMATANTHUS : ANATOMIA VEGETAL, FITOQUÍMICA, FARMACOLOGIA E BIOTRANSFORMAÇÃO . POR CARLA JUNQUEIRA MORAGAS TESE APRESENTADA COMO UM DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTOR EM CIÊNCIAS, JUNTO AO NÚCLEO DE PESQUISAS DE PRODUTOS NATURAIS (NPPN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). RIO DE JANEIRO DEZEMBRO/ 2006 i Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. Ficha catalográfica Moragas, Carla Junqueira Estudo do gênero Himatanthus : anatomia vegetal, fitoquímica, farmacologia e biotransformação./ Carla Junqueira Moragas.- Rio de Janeiro: UFRJ/NPPN, 2006. xi, 270 f.: il.; 31cm Orientadores: Ana Claudia Fernandes Amaral. Ricardo Machado Kuster. Tese (doutorado) – UFRJ/NPPN - Programa de Pós-graduação em Química de Produtos Naturais, 2006. Referências Bibliográficas: f. 253-270. 1. Himatanthus. 2. Anatomia vegetal. 3. Fitoquímica 4. Farmacologia. 5. Biotransformação ii ESTE TRABALHO FOI REALIZADO SOB A ORIENTAÇÃO DOS PROFESSORES ANA CLAUDIA FERNANDES AMARAL DE FARMANGUINHOS/ FIOCRUZ E RICARDO MACHADO KUSTER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO- NPPN-UFRJ. iii Aos meus pais, Thereza e Vicente e meus irmãos Vicente e Leandro , por todo apoio, incentivo e amizade durante a execução deste trabalho. À meu esposo Valnei , pelo amor, dedicação e compreensão em todos os momentos desta caminhada. À Meus filhos Victor e Vinícius pelo simples fato de existirem e tornarem a minha vida melhor a cada dia, Dedico. iv AGRADECIMENTOS Aos Prof. Dra. Ana Claudia Fernandes Amaral e Dr. Ricardo Machado Kuster, pela grande amizade, confiança, incentivo e oportunidade no desenvolvimento deste trabalho. Ao Prof. José Luiz Pinto Ferreira, Chefe do Laboratório de Padronização de Produtos Naturais, Far-Manguinhos/Fiocruz, por todo apoio, amizade e pelo espaço gentilmente cedido. -

Universitätsbibliographie Der Universität Hamburg 2009 Bis 30. Juni 2011 Herausgegeben Von Der Staats- Und Universitätsbibliothek Hamburg Carl Von Ossietzky
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften aus: Universitätsbibliographie der Universität Hamburg 2009 bis 30. Juni 2011 herausgegeben von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky S. 747–970 Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky Impressum Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbib- liografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Die Online-Version dieser Publikation ist auf den Verlagswebseiten frei verfügbar (open access). Die Deutsche Nationalbibliothek hat die Netzpublikation archiviert. Diese ist dauerhaft auf dem Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek verfügbar. Open access über die folgenden Webseiten: http://hup.sub.uni-hamburg.de/HamburgUP_Universitaetsbibliographie_2009-2011 Hamburg University Press – http://hup.sub.uni-hamburg.de Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek – http://deposit.d-nb.de Universitätsbibliographie online auf den Webseiten der SUB Hamburg: http://www.sub.uni-hamburg.de/ ISBN 978-3-937816-96-8 (Druckausgabe) © 2011 Hamburg University Press, Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Deutschland Produktion: M+MBlümel GmbH + Co. KG Im Auftrag des Präsidiums der Universität Hamburg. Inhalt Dieter Lenzen Vorwort des Präsidenten der Universität Hamburg VII Gabriele Beger Vorwort der Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek -
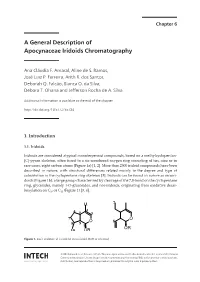
A General Description of Apocynaceae Iridoids Chromatography
Chapter 6 A General Description of Apocynaceae Iridoids Chromatography Ana Cláudia F. Amaral, Aline de S. Ramos, José Luiz P. Ferreira, Arith R. dos Santos, Deborah Q. Falcão, Bianca O. da Silva, Debora T. Ohana and Jefferson Rocha de A. Silva Additional information is available at the end of the chapter http://dx.doi.org/10.5772/55784 1. Introduction 1.1. Iridoids Iridoids are considered atypical monoterpenoid compounds, based on a methylcyclopentan- [C]-pyran skeleton, often fused to a six-membered oxygen ring consisting of ten, nine or in rare cases, eight carbon atoms (Figure 1a) [1, 2]. More than 2500 iridoid compounds have been described in nature, with structural differences related mainly to the degree and type of substitution in the cyclopentane ring skeleton [3]. Iridoids can be found in nature as secoiri‐ doids (Figure 1b), a large group characterized by cleavage of the 7,8-bond on the cyclopentane ring, glycosides, mainly 1-O-glucosides, and nor-iridoids, originating from oxidative decar‐ boxylation on C10 or C11 (Figure 1) [3, 4]. 11 7 6 4 5 3 7 8 O 8 9 O 1 10 OR OR Figure 1. Basic skeleton a) iridoid; b) seco-iridoid (R=H or glucose) © 2013 Amaral et al.; licensee InTech. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. α 150 Column Chromatography Iridoids are derived from isoprene units¸ which are considered the universal building blocks of all terpenoids, formed through intermediates of the mevalonic acid (MVA) pathway in the citosol, and the novel 2-methyl-D-erythritol 4-phosphate (MEP) pathway in the plastids of plant cells [2, 5, 6]. -

Pre-Columbian Land Use and Its Modern Legacy in the Purus-Madeira Interfluve, Central Amazonia
Pre-Columbian land use and its modern legacy in the Purus-Madeira Interfluve, Central Amazonia Submitted by Regina Gonda to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Archaeology In September 2018 This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. Regina Gonda 2018 i ii ABSTRACT To combat environmental degradation and change, it is imperative that the rainforests are protected and sustainable land use practices are developed in Amazonia. A better understanding of the role of humans in shaping Amazonian environments and the extent to which the forests have been resilient to anthropogenic disturbance is critical to determining the current state of these ecosystems. This research provides the first reconstruction of late pre-Columbian to early post-Columbian land use and its environmental legacy in the Purus-Madeira Interfluve, Central Amazonia. Soil profile samples were collected across a transect approximately 600 km in length between Manaus and Humaitá, covering a large ecological gradient from dense canopy forests to open canopy forests, as well as dry, upland areas (terra firme) and small riverine settings. Archaeobotanical phytolith and terrestrial palaeoecological samples were analysed from four contexts: (i) primary forests; (ii) oligarchic forests dominated by economically useful trees in the terra firme rainforest on natural soils; (iii) an anthropogenic forest with Brazil nut trees on anthropogenic soil; and (iv) a previously undocumented archaeological site next to the Brazil nut stand. -

Synopsis of Himatanthus (Apocynaceae, Rauvolfiodieae: Plumerieae) Species from Peru
Phytotaxa 283 (1): 065–073 ISSN 1179-3155 (print edition) http://www.mapress.com/j/pt/ PHYTOTAXA Copyright © 2016 Magnolia Press Article ISSN 1179-3163 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.283.1.4 Synopsis of Himatanthus (Apocynaceae, Rauvolfiodieae: Plumerieae) species from Peru CARLOS A. AMASIFUEN GUERRA1, PIERO G. DELPRETE 2* & ANDREA P. SPINA3 1Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Escuela Doctoral Franco-Peruana en Ciencias de la Vida. Av. Honorio Delgado 430, Urb. Ingeniería, San Martín de Porres. Lima, Peru E-mail: [email protected] 2Herbier de Guyane, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR AMAP, Boite Postale 90165, 97323 Cayenne Cedex, French Guiana, France E-mail: [email protected] 3Rua Capitão Leônidas Marques 894, 81540-470 Curitiba, PR, Brazil E-mail: [email protected] *Author for correspondence Abstract The delimitation of Himatanthus (Apocynaceae) species has long been problematic, and much confusion remains as to which names and species delimitations should be adopted. In order to recognize and clarify the species of Himatanthus oc- curring in Peru, herbarium specimens were examined, coupled with detailed field observations. The present study recognizes three species in Peru: H. revolutus, H. tarapotensis and H. phagedaenicus. A key to identify the species, as well as descrip- tions, synonymy, specimens cited, and taxonomic comments are presented. Key Words: Apocynaceae, Himatanthus, Neotropics, Plumerieae, Rauvolfioideae, South America, taxonomy. Introduction -

Tr Aditions and Perspec Tives Plant Anatomy
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ PLANT ANATOMY: TRADITIONS AND PERSPECTIVES Международный симпозиум, АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ: посвященный 90-летию профессора PLANT ANATOMY: TRADITIONS AND PERSPECTIVES AND TRADITIONS ANATOMY: PLANT ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ Людмилы Ивановны Лотовой 1 ЧАСТЬ 1 московский госУдАрствеННый УНиверситет имени м. в. ломоНосовА Биологический факультет АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîãî ñèìïîçèóìà, ïîñâÿùåííîãî 90-ëåòèþ ïðîôåññîðà ËÞÄÌÈËÛ ÈÂÀÍÎÂÍÛ ËÎÒÎÂÎÉ 16–22 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.  двуõ ÷àñòÿõ ×àñòü 1 МАТЕРИАЛЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ PLANT ANATOMY: ТRADITIONS AND PERSPECTIVES Materials of the International Symposium dedicated to the 90th anniversary of Prof. LUDMILA IVANOVNA LOTOVA September 16–22, Moscow In two parts Part 1 CONTRIBUTIONS IN ENGLISH москва – 2019 Удк 58 DOI 10.29003/m664.conf-lotova2019_part1 ББк 28.56 A64 Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту 19-04-20097 Анатомия растений: традиции и перспективы. материалы международного A64 симпозиума, посвященного 90-летию профессора людмилы ивановны лотовой. 16–22 сентября 2019 г. в двух частях. – москва : мАкс пресс, 2019. ISBN 978-5-317-06198-2 Чaсть 1. материалы на английском языке / ред.: А. к. тимонин, д. д. соколов. – 308 с. ISBN 978-5-317-06174-6 Удк 58 ББк 28.56 Plant anatomy: traditions and perspectives. Materials of the International Symposium dedicated to the 90th anniversary of Prof. Ludmila Ivanovna Lotova. September 16–22, 2019. In two parts. – Moscow : MAKS Press, 2019. ISBN 978-5-317-06198-2 Part 1. Contributions in English / Ed. by A. C. Timonin, D. D. Sokoloff. – 308 p. ISBN 978-5-317-06174-6 Издание доступно на ресурсе E-library ISBN 978-5-317-06198-2 © Авторы статей, 2019 ISBN 978-5-317-06174-6 (Часть 1) © Биологический факультет мгУ имени м. -

Apocynaceae): Review Fabiana P
Pharmacogn. Rev. REVIEW ARTICLE A multifaceted peer reviewed journal in the field of Pharmacognosy and Natural Products www.phcogrev.com | www.phcog.net Himatanthus Willd. ex Schult. (Apocynaceae): Review Fabiana P. Soares, Larissa F. Cavalcante, Nirla Rodrigues Romero1, Mary A. M. Bandeira1 Pharmacy Course, Health Sciences Center, University of Fortaleza, 1School of Pharmacy, Dentistry and Nurse, Federal University of Ceara, Fortaleza, Ceara, Brazil ABSTRACT The genus Himatanthus Wild. ex Schult. (Apocynaceae) includes about 13 species and five subspecies widely distributed in South America, especially Brazil. The phytochemical reports on this genus have revealed mainly triterpenes and iridoids. The plants are traditionally used as anthelmintic, antitumor, and antiinflammatory agents. The most used parts of the plant are its bark, leaves, and latex. This review emphasizes the phytochemical constituents and medicinal properties, which may help in future research. The research was conducted with data obtained from books about medicinal plants, theses, dissertations, and articles in refereed journals. Key words: Biological effects, botanical, ethnopharmacology, folk medicine, Himatanthus, phytochemistry INTRODUCTION RESULTS AND DISCUSSIONS The Apocynaceae family includes approximately 550 genuses and The genus Himatanthus Willd. Ex Schult., initially included in the genus 3700–5100 species distributed in all continents except Antarctica. It is Plumeria, has large bracts involving the floral buttons, determinants for a rich source of secondary metabolites, because of which many of the the separation of genus. The presence of these bracts has inspired the genuses belonging to it, such as Rauwolfia, Catharanthus, Allamanda, naming of this genus, which means “flower robe.”[59] Strophantus, and Himatanthus, are used on a large scale for medicinal It encompasses 13 species: H. -
Himatanthus Drasticus: a Chemical and Pharmacological Review of This
Revista Brasileira de Farmacognosia 27 (2017) 788–793 ww w.elsevier.com/locate/bjp Review Himatanthus drasticus: a chemical and pharmacological review of this medicinal species, commonly found in the Brazilian Northeastern region a,b a a Sheyla Cristina Xenofonte de Almeida , Álefe Brito Monteiro , Galberto Martins da Costa , b,c,∗ Glauce Socorro de Barros Viana a Universidade Regional do Cariri, Crato, CE, Brazil b Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, CE, Brazil c Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brazil a b s t r a c t a r t i c l e i n f o Article history: In order to compile the empirical use, as well as the chemical, pharmacological and biological aspects Received 21 November 2016 of Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel, Apocynaceae, a review was carried out by searching PubMed, Accepted 10 October 2017 Google Scholar, Scientific Electronic Online Library, Web of Science, Science Direct, Scopus and Cochrane. Available online 3 November 2017 For that, works in English, Spanish and Portuguese, preclinical studies and revisions, addressing chemical, pharmacological, biological properties and popular uses, from 1994 to 2017, were used. The therapeutic Keywords: potential of the “milk-of-janaguba” (a mixture of the latex with water) became widely known for the Antiulcer activity treatment of neoplasias, mainly lung and lymphatic cancer types, in the 1970s. The available literature Gastroprotective properties presents works related to the anti-inflammatory, antinociceptive, antitumor and gastroprotective prop- Anti-inflammatory effects erties of the latex from bark and leaves of H. drasticus. In addition, this review presents some of our own Laticifer plants results with the triterpene-rich fraction from H. -

(12) United States Patent (10) Patent No.: US 7,749,544 B2 Asiedu Et Al
US0077.49544B2 (12) United States Patent (10) Patent No.: US 7,749,544 B2 Asiedu et al. (45) Date of Patent: Jul. 6, 2010 (54) COMPOSITION FORTREATING AIDS AND (56) References Cited ASSOCATED CONDITIONS OTHER PUBLICATIONS (76) Inventors: William Asiedu, H/N B 183/19 Bintu Area, PMB Ministries, Accra (GH): Calderon et al. (Phytotherapy Research (1997), vol. 11, pp. 606 s s s 608).* Rede hist No. 1ntu Ojewole (International Journal of Crude Drug Research (1984), vol. s s ; : 22, No. 3, pp. 121-143).* Manny Ennin, H/N B 183/19 Bintu Ginsberg and Spigelman (Nature Medicine (2007), vol. 13, No.3, pp. Area, PMB Ministries, Accra (GH): 290–294).* Michael Nsiah Doudu, H/N B 183/19 Engler and Prantl, Die Naturlichen. Pflanzenfamilien, 1897, p. 349. Bintu Area, PMB Ministries, Accra Breteler, F.J. “Novitates Gabonenses 47. Another new Dichapetalum (GH); Charles Antwi Boateng, H/N B (Dichapetalaceae) from Gabon' Adansonia, 2003; 25(2):223-227. 183/19 Bintu Area, PMB Ministries, Fedkam Boyometal. "Aromatic plants of tropical central Africa. Part Accra (GH); Kwasi Appiah-Kubi, H/N XLIII: volatile components from Uvariastrum pierreanum Engl. B 183/19 B int Area. PMB MinistriCS (Engl. & Diels) growing in Cameroon' Flavour and Fragrance Jour Accra (GH); Seth Opoku Ware, H/N B nal, 2003; 18:269-298. 183/19 Bintu Area, PMB Ministries, * cited by examiner Accra (GH); Debrah Boateng, H/N B 183/19 Bintu Area, PMB Ministries, Primary Examiner Susan C Hoffman Accra (GH); Kofi Ampim, 2 Kakramadu (74) Attorney, Agent, or Firm—Frommer Lawrence & Haug Ling, P.O.