TESE DE MESTRADO EM TEOLOGIA FINAL.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
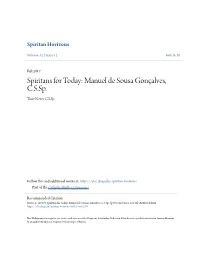
Spiritans for Today: Manuel De Sousa Gonçalves, C.S.Sp. Tony Neves C.S.Sp
Spiritan Horizons Volume 12 | Issue 12 Article 10 Fall 2017 Spiritans for Today: Manuel de Sousa Gonçalves, C.S.Sp. Tony Neves C.S.Sp. Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/spiritan-horizons Part of the Catholic Studies Commons Recommended Citation Neves, T. (2017). Spiritans for Today: Manuel de Sousa Gonçalves, C.S.Sp.. Spiritan Horizons, 12 (12). Retrieved from https://dsc.duq.edu/spiritan-horizons/vol12/iss12/10 This Wellsprings is brought to you for free and open access by Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Spiritan Horizons by an authorized editor of Duquesne Scholarship Collection. Horizons Spiritans for Today: Manuel de Sousa Gonçalves, C.S.Sp. Man of Impossible Missions Fr. Manuel Gonçalves, C.S.Sp., born 1935, ordained priest 19 December 1959, died July 29, 2013, left his mark on the Congregation of the Holy Spirit, especially in Portugal and Angola. In 1966 he obtained a License in Systematic Theology from the Pontifical Gregorian University, Rome. In 2004, he Fr. Tony Neves, C.S.Sp. did a Masters in Mission Sciences in Canada. Manuel was Fr. Tony Neves, C.S.Sp. is a man of action who influenced people through his spoken currently provincial superior word, his writings, his teaching, and his spirituality. The of the Spiritan Province of lusophone magazine, Missão Espiritana, dedicated a double Portugal and Editor of the edition to him in 2015 (Nos. 25/26). These contained tributes Spiritan Provincial Newsletter, by personalities in Portugal and Angola. The opening tribute Acção Missionária. He was on mission in Angola during the by the current archbishop of Luanda and president of the civil war (1989-1994). -

I DIRITTI UMANI ALLA RIBALTA Pubblicazione Sul Premio Sacharov Edita Dal Parlamento Europeo E' Stato Pubblicato a Cura Del Parla
I DIRITTI UMANI ALLA RIBALTA Pubblicazione sul premio Sacharov edita dal Parlamento Europeo E' stato pubblicato a cura del Parlamento europeo un opuscolo sul premio Sacharov 2011. L'edizione, di agevole lettura, propone un excursus sugli individui e le organizzazioni cui dal 1988 ad oggi è stato assegnato il premio, per poi incentrare l'attenzione sui premiati 2011: Asmaa Mahfouz (Egitto), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Libia), Razan Zaitouneh (Siria), Ali Farzat (Siria), Mohamed Bouazizi (Tunisia), in considerazione del ruolo decisivo svolto da costoro nella cosiddetta “primavera araba” vissuta dai paesi del nord Africa nel corso dell'anno. Dal 1988, il Parlamento europeo conferisce ogni anno il « Premio Sacharov per la libertà di pensiero » per onorare, personalità o vvero organizzazioni che si sono distinte per il loro impegno a favore dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e contro l’oppressione e l’ingiustizia. Andrej Sacharov (1921–1989), fisico membro dell’Accademia delle Scienze, dissidente e premio Nobel per la pace nel 1975. La sua figura ha assunto un certo rilievo non solo perchè egli si impegnava concretamente per la liberazione di dissidenti nel proprio paese, ma affrontava nei suoi scritti anche il rapporto fra scienza e società, coesistenza pacifica e libertà di pensiero. Sacharov è diventato quindi a livello mondiale il simbolo della lotta contro la negazione dei diritti fondamentali. Nello spirito di Sacharov, tutte le personalità che hanno finora ricevuto il premio a lui intitolato testimoniano il grande coraggio, per difendere i diritti dell’uomo e per rivendicarne la validità universale. Quasi sempre il loro impegno per la dignità della persona umana ha comportato grandi sacrifici. -

Weekly Newsletter40 191207 View
OMCT-Europe Weekly Newsletter 2007 N°40, 10.12- 19.12.2007 SUMMARY REGIONS: AFRICA Chad Conflict in eastern Chad (13/12/2007) AMERICAS United States of America Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the formal abolition of the death penalty in the State of New Jersey, USA (17/12/2007) ASIA China EU-China: Beijing summit and human rights dialogue (13/12/2007) Japan Use of sex slaves by Japanese forces in World War II (13/12/2007) Pakistan Javier Solana, EU High Representative for the CFSP, welcomes the lifting of the state of emergency in Pakistan (15/12/2007) ► Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the lifting of the state of emergency on Pakistan (18/12/2007) EUROPE (OUTSIDE OF UE ) AND CIS MAGHREB AND MIDDLE EAST Algeria EU Presidency Statement on recent attacks in Algiers (11/12/2007) ( FR ) Javier Solana, Haut Representant de l’Union européenne pour la PESC, condamne les attentats perpétrés à Alger (11/12/2007) The President of the European Parliament condemns bomb attacks in Algiers (11/12/2007) Lebanon EU Presidency statement on the assassination of General Hajj in Lebanon (12/12/2007) Javier Solana, EU High Representative for the CFSP, condemns the terrorist attack in Beirut (11/12/2007) Saudi Arabia Women’s rights in Saudi Arabia (13/12/2007) Iran EU Presidency Statement on the Supreme Court's decision concerning the death sentences on Mohammad Latif, Ali Mahin Torabi and Hossein Haghi (17/12/2007) THEMATIC : FINANCIAL PERSPECTIVES JUSTICE AND HOME AFFAIRS EXTERNAL -

'Justiça E Paz' Nas Intervenções Da Igreja Católica Em Angola (1989-2002)
ANTÓNIO MANUEL SANTOS DE SOUSA NEVES ‘JUSTIÇA E PAZ’ NAS INTERVENÇÕES DA IGREJA CATÓLICA EM ANGOLA (1989-2002) Orientador: Professor Doutor José Fialho Feliciano Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Ciência Política, Lusofonia e Relações Internacionais Lisboa 2011 1 ANTÓNIO MANUEL SANTOS DE SOUSA NEVES ‘JUSTIÇA E PAZ’ NAS INTERVENÇÕES DA IGREJA CATÓLICA EM ANGOLA (1989-2002) Tese apresentada para a obtenção do Grau de Doutor em Ciência Política no curso de Doutoramento em Ciência Política, conferido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Orientador: Professor Doutor José Fialho Feliciano Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Ciência Política, Lusofonia e Relações Internacionais Lisboa 2011 2 Epígrafe Dos quatro cantos da Nação, ouvimos um grito, que é um apelo, ao mesmo tempo de reconciliação e de esperança: Nunca mais a guerra! Paz a Angola, paz a Angola para sempre! (...) Para restaurar a paz, há que repor a justiça da verdade, a justiça da igualdade social, a justiça da solidariedade fraterna. João Paulo II Huambo, 5 de Junho de 1992 3 Dedicatória Às minhas FAMÍLIAS, A saber: - a de Sangue; a Espiritana; a dos Conterrâneos; a daquelas e daqueles com quem cruzei a minha vida, sobretudo nos Seminários e Universidades por onde passei; a do povo com quem partilhei uma fatia da minha história por terras do Planalto Angolano. 4 Agradecimentos A todos a quem dedico este Doutoramento; ao Prof. Doutor Fernando Santos Neves, que me estimulou a fazer o Mestrado em Lusofonia e Relações Internacionais, donde partiu este Doutoramento; ao Prof. Doutor José Fialho Feliciano, pelo empenho e exigência colocados na orientação da Tese; aos Professores que compuseram este Júri; aos 48 Missionários (Bispos, Padres, Irmãs e Leigos) que me apresentaram os seus depoimentos; à Arminda Camate, ao Dr. -

Cpn Activities a Peacebuilding Church
July 18, 2013 CPN ACTIVITIES South Africa Conference on Religion, Reconciliation and Peace A PEACEBUILDING CHURCH: NEWS Myanmar: Religious Leaders Address Peace and Development Issues SECAM General Assembly on Peace and Reconciliation Colombia: Bishops Hold Plenary Assembly, Meet with Government Negotiators Colombia: Role of Colombian Churches, Faith Groups in Promoting Peace Central African Republic: Bishops Sound Alarm CPN PARTNERS USCCB and CRS Make Solidarity Visits to Colombia and Peru Pax Christi International Annual Meeting Berkley Center Launches Online Forum RESOURCES Book: Global Justice, Christology and Christian Ethics Book: Christian-Muslim Dialogue in Pakistan Call for Papers Report: Global Restrictions on Religion Increase JOB OPENINGS CPN ACTIVITIES South Africa Conference on Religion, Reconciliation and Peace Some 30 peace studies scholars and practitioners, many affiliated with CPN, gathered in Cape Town, South Africa, June 5-7, for the conference “Peace from the Ground Up: Post- conflict Socialization, Religion, and Reconciliation in Africa.” The conference, which fostered mutual learning between academics and peacebuilding practitioners, was co- sponsored by the Program on Religion & Reconciliation at the University of Notre Dame’s Kroc Institute for International Peace Studies and the Institute for Justice and Reconciliation in Cape Town with support from the CPN and the John Templeton Foundation. For more, see CPN News. A PEACEBUILDING CHURCH: NEWS Myanmar: Religious Leaders Address Peace and Development Issues Two statements by religious leaders addressed current challenges in Myanmar. In a June statement, the Catholic Bishops of Myanmar, “concerned with the holistic dignity of all human beings,” welcome the reform measures of the government, but urged the government to address challenges, such as quality education, the rights and dignity of indigenous groups, root causes of conflicts, natural resource protection, religious diversity, and refugee rights. -

Statute of the Sakharov Prize for Freedom of Thought
1.3.5. STATUTE OF THE SAKHAROV PRIZE FOR FREEDOM OF THOUGHT DECISION OF THE CONFERENCE OF PRESIDENTS OF 15 May 2003 1 The Conference of Presidents, – having regard to Parliament's resolution of 13 December 1985 instituting the Sakharov Prize for freedom of thought, – having regard to the proposal from the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy, – having regard to Rule 24(4) of the Rules of Procedure, HAS DECIDED Article 1 Parliament shall annually award the Sakharov Prize for freedom of thought. Article 2 The prize shall be awarded for a particular achievement in one of the following fields: - defence of human rights and fundamental freedoms, particularly the right to free expression, - safeguarding the rights of minorities, - respect for international law, - development of democracy and implementation of the rule of law. ‘Achievement’ shall mean any intellectual or artistic composition or active work in the above fields. Article 3 The prize shall be 50 000 €. Parliament reserves the right to publish any work for which the prize is awarded. Article 4 The prize may be awarded to natural persons or to associations or organisations, irrespective of whether they have legal personality. 1 Modified by the Conference of Presidents on 14 June 2006 PE 339.469/BUR/Rev3 The nationality, place of residence or seat of the candidates shall be immaterial. Article 5 If a written work is submitted in support of an application, it must be in one of the official languages of the European Union. An achievement within the meaning of Article 2 must be substantiated and verifiable. -

Facultad De Comunicación De Sevilla
FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE SEVILLA 30 años de Premios Sájarov y su trascendencia en los medios de comunicación (desde el inicio del galardón en 1988) Trabajo de Fin de Grado Curso Académico 2017-2018 Autor: Elías Gutiérrez Galindo Tutora: Isabel Jiménez Heras 1 Índice Resumen…………………………………………………………………………………3 Palabras-clave……………………………………………………………………..……..3 Introducción……………………………………………………………………………...3 Justificación del tema……………………………………………………………………3 Objetivos…………………………………………………………………………………4 Metodología……………………………………………………………………………...4 (Resultados y Discusión………………………………………………………………...5) Marco Teórico e Histórico......…………………………………………………………...5 ¿Qué es el Premio Sájarov?...................................................................................5 ¿Quién fue Andéis Sájarov?..................................................................................8 Treinta años de Premios Sájarov………………………………………………...9 Lista de galardonados con el Premio Sájarov…………………………………..10 Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, Premio Sájarov 1988………....11 Alexander Dubček, Premio Sájarov 1989………………………………13 Aung San Suu Kyi, Premio Sájarov 1990………………………………16 Madres de Plaza de Mayo, Premio Sájarov 1992…………….………...19 Xanana Gusmão, Premio Sájarov 1999………………………………...22 ¡BASTA YA!, Premio Sájarov 2000…………………………………...25 Kofi Annan y el personal de las Naciones Unidas, Premio Sájarov 2003…………………………………………………………………..…29 Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010…………………………….....33 Razan Zaitouneh, Ali Ferzat, Ahmed Al-Sanusi, Asmaa Mahfouz y Mohamed Bouazizi, Premio -

Marriage and the Family (2015) Michael Sievernich
FAMILY Living Life Together in the Church and the World One World Theology (Volume 10) OWT (Family) Vol.10 - 5.25x8.5 (321pp) 4th FINAL.indd 1 7/13/17 9:11 AM OWT (Family) Vol.10 - 5.25x8.5 (321pp) 4th FINAL.indd 2 7/13/17 9:11 AM FAMILY Living Life Together in the Church and the World 10 Edited by Klaus Krämer and Klaus Vellguth CLARETIAN COMMUNICATIONS FOUNDATION, INC. OWT (Family) Vol.10 - 5.25x8.5 (321pp) 4th FINAL.indd 3 7/13/17 9:11 AM FAMILY Living Life Together in the Church and the World (One World Theology, Volume 10) Copyright © 2017 by Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau Published by Claretian Communications Foundation, Inc. U.P. P.O. Box 4, Diliman 1101 Quezon City, Philippines Tel.: (02) 921-3984 • Fax: (02) 921-6205 [email protected] www.claretianpublications.ph Claretian Communications Foundation, Inc. (CCFI) is a pastoral endeavor of the Claretian Missionaries in the Philippines that brings the Word of God to people from all walks of life. It aims to promote integral evangelization and renewed spirituality that is geared towards empowerment and total liberation in response to the needs and challenges of the Church today. CCFI is a member of Claret Publishing Group, a consortium of the publishing houses of the Claretian Missionaries all over the world: Bangalore, Barcelona, Buenos Aires, Chennai, Colombo, Dar es Salaam, Lagos, Macau, Madrid, Manila, Owerry, São Paolo, Varsaw and Yaoundè. Cover design by Jayson Elvin E. Guevara Layout design by Ma. Myreen Q. Gayos All rights reserved. -

Angola: Civil War and Humanitarian Crisis – Developments from Mid 1999 to End 2001
UNHCR Emergency & Security Service WRITENET Paper No. 08/2001 ANGOLA: CIVIL WAR AND HUMANITARIAN CRISIS – DEVELOPMENTS FROM MID 1999 TO END 2001 By Anna Richardson Independent Researcher, UK January 2002 WriteNet is a Network of Researchers and Writers on Human Rights, Forced Migration, Ethnic and Political Conflict WriteNet is a Subsidiary of Practical Management (UK) E-mail: [email protected] THIS PAPER WAS PREPARED MAINLY ON THE BASIS OF PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION, ANALYSIS AND COMMENT. ALL SOURCES ARE CITED. THE PAPER IS NOT, AND DOES NOT PURPORT TO BE, EITHER EXHAUSTIVE WITH REGARD TO CONDITIONS IN THE COUNTRY SURVEYED, OR CONCLUSIVE AS TO THE MERITS OF ANY PARTICULAR CLAIM TO REFUGEE STATUS OR ASYLUM. THE VIEWS EXPRESSED IN THE PAPER ARE THOSE OF THE AUTHOR AND ARE NOT NECESSARILY THOSE OF WRITENET OR UNHCR. ISSN 1020-8429 Table of Contents 1 Introduction.....................................................................................1 2 Developments in the Military Situation........................................1 2.1 At Home ........................................................................................................1 2.2 In Neighbouring Countries .........................................................................6 3 Political Developments in Government-controlled Territory ....7 3.1 The Angolan Government’s Political Strategy..........................................7 3.2 Civil Society’s Response ............................................................................11 4 Developments on the International -

EN-Biography Members of the CIDSE Delegation Rio+0
CIDSE Rio+20 delegation Rio de Janeiro (Brazil), 14 – 23 June 2012 Members of the CIDSE delegation to the UN Rio+20 conference Mgr Theotonius GOMES – Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Dhaka (Bangladesh) Born in 1939, Bishop Theotonius Gomes was consecrated Bishop in April 1979 and has been the Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Dhaka since 1996. He has held many offices, among other Secretary General of the Catholic Bishops’ Conference of Bangladesh (1987‐ 2007), Professor of Sacred Scripture at National Major Seminary in Bangladesh and has been appointed President of Caritas Bangladesh since 2006. Bishop Gomes has been involved in the CIDSE Caritas Climate Justice campaign since its very launch at the COP14 in Poznan in December 2008. Mgr Gabriel MBILINGI – Archbishop of the Archdiocese of Lubango (Angola) Born 17 January, 1958 in Bândua, Angola. He is Archbishop of Lubango in Angola and is currently the Second Vice President of SECAM and Head of the SECAM Department of Justice, Peace and Development. Since 20 November 2009, he has been the President of the Episcopal Conference of Angola and São Tomé and Principe (Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe) (CEAST). On 22 July 2007, the General Assembly of the Bishops' Conference for Southern Africa in Luanda, elected him as the new President of the Inter‐ Regional Meeting of Bishops of Southern Africa (IMBISA). Mgr Paul Yemboaro OUEDRAOGO– Archbishop of the Archdiocese of Bobo‐Dioulasso (Burkina Faso) Born 3 May, 1948 in Treichville, Ivory Coast. He is Archbishop of Bobo‐Dioulasso, Burkina Faso since the 13 November 2010. -

They Defend Our Freedoms. 30 Years of the Sakharov Prize
they defend our freedoms 30 years of the Sakharov Prize they defend our freedoms © European Union, European Parliament, 2017 Photographers Enri Canaj / Magnum Photos Bieke Depoorter / Magnum Photos Jerome Sessini / Magnum Photos Newsha Tavakolian / Magnum Photos, assisted by Amine Landoulsi Texts Éric Fottorino, assisted by Manon Paulic Graphic design Hello Dune Lunel Thanks to The Sakharov Fellows Asma Kaouech, Ameha Mekonnen, Jadranka Miličević and Samrith Vaing Magnum Photos: Clarisse Bourgeois, Antoine Kimmerlin, Nikandre Koukoulioti, Giulietta Palumbo, Claire Saillard, Pauline Sain Any opinions expressed in this book are those of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament. they defend our freedoms 30 years of the Sakharov Prize Following double page: Guy le Querrec Germany, Berlin, 1989. Young people celebrating the New Year on top of the Berlin Wall. Contents Foreword 9 Samrith Vaing 14 Asma Kaouech 48 Ameha Mekonnen 82 Jadranka Miličević 114 They defend our freedoms 151 The Sakharov Prize 167 The Sakharov Prize laureates 168 The role of the European Parliament 170 Foreword Antonio Tajani President of the European Parliament As the Sakharov Prize celebrates its thirtieth eties while motivating others to do the same. year, I believe that it is as relevant now as it was I can only express my admiration and support when Nelson Mandela and Anatoli Martch- for the four courageous Sakharov Fellows – enko first received the award in 1988. The fight four amongst many – whose emblematic lives for human rights remains high on the Euro- and work are the subject of this book. I would pean Parliament’s agenda. -

COMMO Rru MEET to SHOWCASE UGANDA- KADAGA
=nuay n,1un,.,u1y , ... "u,~ www.newvision.co.ug l/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/1111111111111111111111111111111tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MTN CEO DRAGGED COMMO rru MEET TO TO COURT OVER DEFAMATION BY VISION REPORTER SHOWCASE UGANDA- KADAGA 1111111111111111111111111111111111111 BY MOSES WALUBIRI PHOTO BY KARIM SSOZI 1111111111111111111111111111111111111 The former MIN general manager corporate services has dragged the As Parliament ties the loose chief executive officer of the telecom ends to preparations for the 64th company to court over an alleged Commonwealth Parliamentary defamatory statement. Conference (CPC) due in September, Anthony Katamba said Wim Speaker Rebecca Kadaga bas made Vanhallepute's statement that he a case for Ugandans to tap into (Katamba) threatened him with the immense opportunities the deportation was not only false and symposium will provide. malicious, but also highly defamatory of The Parliament of Uganda will host him, both as a person and as the former the conference between September general manager of M1N. 22-29, 52 years since a similar one Documents filed in court state that took place in Kampala. Vanhallepute