A Democracia E a Independência De Timor-Leste
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2017 Timor-Leste Parliamentary Elections Report
TIMOR-LESTE PARLIAMENTARY ELECTIONS JULY 22, 2017 TIMOR-LESTE PARLIAMENTARY ELECTIONS JULY 22, 2017 INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE WWW.IRI.ORG | @IRIGLOBAL © 2017 ALL RIGHTS RESERVED Timor-Leste Parliamentary Elections July 22, 2017 Copyright © 2017 International Republican Institute (IRI). All rights reserved. Permission Statement: No part of this work may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without the written permission of the International Republican Institute. Requests for permission should include the following information: The title of the document for which permission to copy material is desired. A description of the material for which permission to copy is desired. The purpose for which the copied material will be used and the manner in which it will be used. Your name, title, company or organization name, telephone number, fax number, e-mail address and mailing address. Please send all requests for permission to: Attention Communications Department International Republican Institute 1225 Eye Street NW, Suite 800 Washington, DC 20005 Disclaimer: This publication was made possible through the support provided by the United States Agency for International Development. The opinions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of United States Agency for International Development. TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY 2 INTRODUCTION 4 ELECTORAL SYSTEMS AND INSTITUTIONS -

PN I Série a 05-09-2017 Plenário
Terça-feira, 05 de Setembro de 2017 I Série-A - 1 JORNAL do Parlamento Nacional IV LEGISLATURA 1.ª SESSÃO LEGISLATIVA (2017-2018) REUNIÃO PLENÁRIA DE 05 DE SETEMBRO DE 2017 Presidente: Ex.mo Sr. Adérito Hugo da Costa Vice-Presidentes: Ex. mos Srs. Duarte Nunes Eduardo de Deus Barreto Secretária: Ex.ma Sr.ª Maria Fernanda Lay Vice-Secretárias: Ex. mas Sr.as Maria Domingas Alves da Silva «Bilou-Mali» Ângela M. C. de A. Sarmento SUMÁRIO Presidente loke sessão plenária iha tuku 10 liu Depois hala’o apresentação no leitura ba Relatório minuto 26 dadeer. Comissão de Verificação de Poderes nian, hussi Sr. Iha primeira reunião plenária IV Legislatura Vicente da Silva Guterres (CNRT) nu’udar Presidente Parlamento Nacional nian ne’e loke ho execução hino Comissão ne’e nian no Sr.ª Josefa Alvares Pereira nacional Pátria no tuir kedas ho discurso Sr. Presidente Soares (FRETILIN) nu’udar relatora. Tuirmai, halo mós cessante Adérito Hugo da Costa nian. Iha biban ne’e, aprovação ho unanimidade ba Relatório ne’e. Plenário nomeia Sr.ª Maria Fernanda Lay (CNRT) Iha biban ne’e, Parlamento Nacional mós efetua nu’udar Secretária da Mesa em exercício. juramento ba Deputado eleito sira hussi partido lima, Hala’o mós leitura, discussão, votação no aprovação mak: Frente Revolucionária do Timor-Leste ba Projeto de Deliberação n.º 1/IV – Constituição da Independente, Congresso Nacional de Reconstrução de Comissão de Verificação de Poderes. Timor-Leste, Partido da Libertação Popular, Partido 2 I SÉRIE-A - 1 Democrático no Kmanek Haburas Unidade Nacional (CNRT); Sr. Estanislau da C. -

Timor-Leste Elections 2012
Timor-Leste elections 2012 Compendium of the 2012 Elections in Timor-Leste As of 21 June 2012 Prepared by UNMIT and UNDP Democratic Governance Support Unit - UNMIT 1 Timor-Leste elections 2012 Table of Contents 1. Legislation ................................................................................................................... 5 Constitution ......................................................................................................................... 5 Electoral laws ...................................................................................................................... 7 Law on the Election of the President of the Republic ........................................................... 7 Law on the Election of the National Parliament .................................................................... 7 Law on the Electoral Administration Bodies ......................................................................... 7 Electoral regulations ............................................................................................................ 8 Other documents ................................................................................................................. 8 Codes of Conduct ................................................................................................................ 8 Peaceful Elections Pact 2012 .............................................................................................. 9 2. Electoral calendars................................................................................................... -

Timor-Leste's Elections
Update Briefing Asia Briefing N°134 Dili/Jakarta/Brussels, 21 February 2012 Timor-Leste’s Elections: Leaving Behind a Violent Past? I. OVERVIEW Political tensions have largely been tempered in the lead up to polls and the security situation remains stable despite a small uptick in violent crime. As campaign season ap- Timor-Leste’s 2012 general elections will provide an im- proaches and the political temperature rises, law enforce- portant test of the country’s resilience as it celebrates ten ment capacity remains weak and this means the sources years of independence. The governing coalition has under- of potential security risks are many. The UN police and taken few of the long-term reforms seen as necessary after the small International Stabilisation Force (ISF) can help the 2006 crisis but increased wealth has given many a grow- buttress crowd control and riot response, but the focus ing stake in stability. The outcome of polls remains difficult should be on other measures. Civil society groups have a to predict given the breadth of the field in each poll and role to play in helping educate voters and monitoring ad- the weakness of issue-based politics. Successful elections herence to codes of conduct, as well as shining light on any will be important not just toward securing the long-awaited proxy role in election-related intimidation or violence that withdrawal of the country’s UN peacekeeping mission but martial arts groups could play. Public relations should be also may give its leaders the confidence to confront its a key part of the planned joint operations centre for elec- many challenges. -

East Timor Delegation Report
The Parliament of the Commonwealth of Australia Parliamentary Delegation to East Timor 3 to 5 September 2003 November 2003 Canberra © Commonwealth of Australia 1999 ISBN 0 642 78446 9 Contents Foreword.............................................................................................................................................vi Membership of the Delegation...........................................................................................................viii Acknowledgements .............................................................................................................................ix List of abbreviations ............................................................................................................................ x 1: Introduction ..............................................................................................................1 Objectives and Scope............................................................................................................... 1 East Timor–background information ...................................................................................... 2 Government and politics ............................................................................................................. 2 Economic overview ..................................................................................................................... 4 Australia’s bilateral relations with East Timor............................................................................. -

Political Reviews • Melanesia 563 Timor-Leste
political reviews • melanesia 563 -reaches-crisis-point/8780 [accessed The year also saw a historic agreement 10 Jan 2019] between Timor-Leste and Australia who, World Health Organization. 2014. that fixed maritime boundaries at the Noncommunicable Diseases Country median line in the Timor Sea (Leach Profiles 2014. https://apps.who.int/iris/ 2018), ending a long-running dispute bitstream/handle/10665/128038/ between the two nations. The year 9789241507509_eng.pdf?sequence=1 was capped off by the government [accessed 25 Jan 2019] outlining its bold vision for resource ———. 2018. Noncommunicable Diseases sovereignty, and its plan to purchase a Country Profiles 2016: Solomon Islands. majority share in the Greater Sunrise https://www.who.int/nmh/countries/2018/ joint venture, to advance its ambitious slb_en.pdf?ua=1 [accessed 25 Jan 2019] goal of downstream processing oil and ———. 2019. ncd Global Monitoring gas on the East Timorese south coast. Framework. Available from https://www The July 2017 election saw the .who.int/nmh/global_monitoring opposition fretilin party emerge _framework/en/ [accessed 13 May 2019]. narrowly ahead of the National Congress for Timorese Reconstruction (cnrt) in terms of seats but unable to establish the alliances necessary Timor-Leste to form a majority. With no alterna- From 25 January, when the president tive majority coalition then being announced an early election for 12 proposed, in September President May, it was clear that 2018 would Guterres appointed the first minor- prove an eventful political year in ity government in Timor-Leste’s short Timor-Leste. The May election fol- constitutional history: a thirty-seat lowed a nine-month fretilin-led minority coalition with the Demo- minority government, which proved cratic Party. -
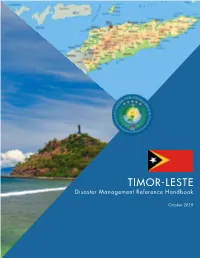
TIMOR-LESTE Disaster Management Reference Handbook
TIMOR-LESTE Disaster Management Reference Handbook October 2019 Acknowledgements CFE-DM would like to thank the following people for their support in reviewing and providing feedback to this document: Ms. Jan Gelfand (IFRC) Major Pablo A. Valerin, (U.S. State Dept, Dili) Cover and section photo credits Cover Photo: North Beach and Statue by Frank Starmer 24 November 2010. https://www.flickr.com/photos/ spiderman/5203371481/in/photolist-8VND4p-bVuwwu- Country Overview Section Photo: Maubisse in the early morning by Kate Dixon. 1 April 2012 https://www.flickr.com/photos/kdixon/7168906532/in/photolist-bVuw9L Disaster Overview Section Photo: Cruz Vermelha de Timor-Leste Facebook Page 27 October 2018. https://www.facebook.com/422556931191491/photos/a.424090534371464/1898143186966184/?type=3&theater Organizational Structure for Disaster Management Section Photo: East Timor Portuguese Statue by John Hession. 6 September 2010. https://www.flickr.com/photos/56880002@N04/5248121098/in/photolist-8ZKZyw-crrJd- Infrastructure Section Photo: Timor 005 by HopeHill. 9 July 2009 https://www.flickr.com/photos/45340412@N06/4215259751/in/photolist-7quiSg- Health Section Photo: Timor Leste Defense Force participate in medical exercise during Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) DILI, Timor Leste 26 February 2014) U.S Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jay C. Pugh https://www.flickr.com/photos/us7thfleet/12915899043/in/photolist-kFkmNx-7NyWiW-cjBXam-7LgA5S- Women, Peace, and Security Section Photo: Bread Sellers by Ellen Forsyth January 2002 https://www.flickr.com/photos/ellf/8723982463/in/album-72157631131535020/ Conclusion Section Photo: Traditional Dress, East Timor by Alexander Whillas. 26 January 2007 https://www.flickr.com/photos/cpill/369949523/in/photolist-yG674-8XsboX-8HgADS- Appendices Section Photo: Women in Maliana by Ellen Forsyth. -

National Public Opinion Survey of Timor-Leste
National Public Opinion Survey of Timor-Leste April 17 – May 14, 2017 Detailed Methodology • The survey was conducted on behalf of the Center for Insights in Survey Research by INSIGHT Lda., based in Dili, Timor-Leste, under the supervision of Chariot Associates LLC between April 17 and May 14, 2017. The November 2016 data is taken from a survey conducted between November 7 and 24, 2016. The 2013 data is taken from a survey conducted between September 18 and October 19, 2013. • Data was collected through in-person, in-home interviews. The sample was stratified by the 13 districts of Timor-Leste. Interviews were conducted in both urban and rural locations. • The sample consisted of 1,200 respondents (response rate: 99 percent) aged 17 and older and is representative of voting-age adults nationally. • The survey was conducted according to a random multistage stratified section process. The first stage of the survey was stratified by Timor-Leste’s 13 districts. In the second stage, the survey was further stratified by suco (village). Next, aldeias (neighborhood administrative units) were chosen by random sampling, using the 2015 census information. Within each aldeia, households were selected from a random starting point and then every fifth house was chosen. Following random household selection, respondents in each household were chosen based on the Kish Grid method to select respondents 17 years and older. • Interview teams were comprised of both men and women. • The margin of error does not exceed plus or minus 2.8 percent at the mid-range with a confidence level of 95 percent. -

Local Daily News
NOTICE PLEASE READ ... The news below is translated to English from all media in Dili including hard copy, radio and Television media. Disclaimer The contents of this service do not reflect the views of Guide Post (Magazine) and Guide Post does not vouch for the accuracy of these reports including the accuracy of the translations or the correctness of the original material or any loss or distortion of meaning caused by formatting the text provided, for the magazine. The reports have been provided by Timor-Leste Subscriber News Local and International Media Monitoring and any enquiries should be directed to that organization. The following statement is attached to every report we receive. Timor-Leste Subscriber News Local and International Media Monitoring. (The contents of this service do not reflect the views of FMDC. News and opinion is summarized; and headlines are edited in English to give the best possible sense of the original headline. For more detailed information about any story in this bulletin; or for tailored sector-specific monitoring contact: [email protected]; [email protected]) Local Daily News February 06, 2019 Japan and TL to discuss about Nicolao Lobato Airport GMN TV, February 3, 2019 language source: Tetun Minister for Transportation and Telecommunication, Jose Agustinho da Silva said the Government of Timor-Leste and Japanese Government would discuss about constructions of Nicolao Lobato Airport shortly. Mr. Silva affirmed that the construction of International Nicolao Lobato Airport would get start this year; therefore, technical team would come to observe conditions of the airport. “Technical team from Japan will arrive in Timor-Leste on the 2nd of February. -

Prepared by Democratic Governance Support Unit, UNMIT July 2010
Prepared by Democratic Governance Support Unit, UNMIT July 2010 This list was compiled for internal reference purpose only. It is not an official government document. Table of Contents Office of the President 1 Anti-Corruption Commission (ACC) 45 National Parliament 3 Civil Service Commission (CSC) 45 Ministers & Secretaries of State 9 National Electoral Commission (CNE) 46 Banking & Payments Authority (BPA) 48 Government National Petroleum Authority (ANP) 49 Office of the Prime Minister 13 Court 49 Ministry of Defense & Security 18 Office of the Provedor 52 Ministry of Foreign Affairs 20 University of Timor-Lorosae (UNTL) 53 Timorese Diplomatic Institutions 22 Timor-Leste National Police (PNTL) 56 Ministry of Finance 25 Timor-Leste Defense Force (F-FDTL) 58 Ministry of Justice 26 Ministry of Health 27 Annex Ministry of Education 29 Abbreviations 60 Ministry of State Administration & Websites 62 Territorial Management 32 Map 63 Ministry of Economy & Development 34 Ministry of Social Solidarity 36 Ministry of Infrastructure 38 Ministry of Tourism, Trade & Industry 41 Ministry of Agriculture & Fisheries 42 Cover photo by Martine Perret/UNMIT Radio & Television Timor-Leste (RTTL) 44 Office of the President www.presidencia.tl Work place Name Functional Title Contact E-mail Number Office of the President Jose Manuel Ramos Horta President of the Republic " Gregorio de Sousa Chief of Staff 7230050 [email protected] " Aida Santos Secretary of Chief of Staff 7230067 7230068 secretariado.presidencia.rdtl " Leni Fernandes Secretary of President -

ELECTION OBSERVATION DELEGATION to the PARLIAMENTARY ELECTIONS in TIMOR LESTE (22 July 2017)
ELECTION OBSERVATION DELEGATION TO THE PARLIAMENTARY ELECTIONS IN TIMOR LESTE (22 July 2017) Report by Ana Gomes, Chair of the EP Delegation Annexes: A. List of participants B. European Parliament Election Observation Delegation Statement C. EU Election Observation Mission Preliminary findings and conclusions Introduction: Following an invitation from the Timor Leste authorities, the Conference of Presidents authorised the sending of a delegation to observe both presidential (20 March) and parliamentary elections in Timor Leste in 2017. The 4 members delegation to the parliamentary elections, integrated into the EU EOM led by Ms Bilbao Barandica as Chief Observer, was chaired by Ana Gomes (S&D, PT) and composed of José Ignacio Faria (EPP, PT), Immaculada Rodriguez-Pinero Fernadez (S&D, ES) and Nikolay Barekov (ECR, BG). The usual programme was organised for the EP delegation: briefings from the Core Team, meetings with representatives from the main political parties, with the authorities, with the central election management bodies, with representatives from the media and the civil society, with academics, and with national and international observers. The context of the 2017 elections: Timor-Leste’s 2017 elections coincide with the country’s 15th-year celebration of independence. Following the young state’s fourth presidential elections in March, in which Francisco Guterres (Lú-Olo) was elected after only one round, these parliamentary elections were the third since the United Nations-supervised referendum on independence from Indonesia in 1999. The 2012 general elections saw four parties pass the 3% (subsequently changed to 4%) threshold to enter parliament: CNRT (National Congress for Timorese Reconstruction), led by Xanana Gusmão; FRETILIN (Revolutionary Front for an Independent Timor), headed by Lú-Olo; the Democratic Party (PD), led by Mariano Sabino; and Frenti- Mudança (F-M), led by José Luis Guterres. -
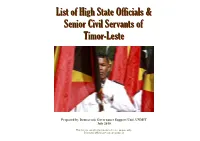
Prepared by Democratic Governance Support Unit, UNMIT July 2010
Prepared by Democratic Governance Support Unit, UNMIT July 2010 This list was compiled for internal reference purpose only. It is not an official government document. Table of Contents Office of the President 1 Anti-Corruption Commission (ACC) 45 National Parliament 3 Civil Service Commission (CSC) 45 Ministers & Secretaries of State 9 National Electoral Commission (CNE) 46 Banking & Payments Authority (BPA) 48 Government National Petroleum Authority (ANP) 49 Office of the Prime Minister 13 Court 49 Ministry of Defense & Security 18 Office of the Provedor 52 Ministry of Foreign Affairs 20 University of Timor-Lorosae (UNTL) 53 Timorese Diplomatic Institutions 22 Timor-Leste National Police (PNTL) 56 Ministry of Finance 25 Timor-Leste Defense Force (F-FDTL) 58 Ministry of Justice 26 Ministry of Health 27 Annex Ministry of Education 29 Abbreviations 60 Ministry of State Administration & Websites 62 Territorial Management 32 Map 63 Ministry of Economy & Development 34 Ministry of Social Solidarity 36 Ministry of Infrastructure 38 Ministry of Tourism, Trade & Industry 41 Ministry of Agriculture & Fisheries 42 Cover photo by Martine Perret/UNMIT Radio & Television Timor-Leste (RTTL) 44 Office of the President www.presidencia.tl Work place Name Functional Title Contact E-mail Number Office of the President Jose Manuel Ramos Horta President of the Republic "Gregorio de SousaChief of [email protected] "Aida SantosSecretary of Chief of Staff7230067 7230068 secretariado.presidencia.rdtl "Leni FernandesSecretary of President