Barreiro-Rico-Consolidado.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fauna Atingida Por Acidentes Ambientais Envolvendo Produtos Químicos
Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Departamento de Ciências do Solo Curso de Especialização em Gerenciamento Ambiental Sérgio Greif FAUNA ATINGIDA POR ACIDENTES AMBIENTAIS ENVOLVENDO PRODUTOS QUÍMICOS Orientadora: Biól. Iris Regina Fernandes Poffo (PhD.) São Paulo 2017 Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Departamento de Ciências do Solo Curso de Especialização em Gerenciamento Ambiental Sérgio Greif FAUNA ATINGIDA POR ACIDENTES AMBIENTAIS ENVOLVENDO PRODUTOS QUÍMICOS Orientadora: Biól. Iris Regina Fernandes Poffo (PhD.) Trabalho apresentado como pré-requisito para a obtenção de Certificado de Conclusão de Curso de Especialização em Gerenciamento Ambiental São Paulo 2017 iii “Nós nos tornamos, pelo poder de um glorioso acidente evolucionário chamado inteligência, mordomos da continuidade da vida na Terra. Não pedimos este papel, mas não podemos renegá-lo. Podemos não ser adequados para isso, mas aqui estamos." — Stephen Jay Gould iv SUMÁRIO SUMÁRIO......................................................................................................... iv . ......................................................................................... DEDICATÓRIA................................................................................................. vi ... ......................................................................................... AGRADECIMENTOS....................................................................................... vii . RELAÇÃO DE -

Faculdade De Biociências
FACULDADE DE BIOCIÊNCIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA ANÁLISE FILOGENÉTICA DE DORADIDAE (PISCES, SILURIFORMES) Maria Angeles Arce Hernández TESE DE DOUTORADO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL Av. Ipiranga 6681 - Caixa Postal 1429 Fone: (51) 3320-3500 - Fax: (51) 3339-1564 90619-900 Porto Alegre - RS Brasil 2012 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIOCIÊNCIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA ANÁLISE FILOGENÉTICA DE DORADIDAE (PISCES, SILURIFORMES) Maria Angeles Arce Hernández Orientador: Dr. Roberto E. Reis TESE DE DOUTORADO PORTO ALEGRE - RS - BRASIL 2012 Aviso A presente tese é parte dos requisitos necessários para obtenção do título de Doutor em Zoologia, e como tal, não deve ser vista como uma publicação no senso do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, apesar de disponível publicamente sem restrições. Dessa forma, quaisquer informações inéditas, opiniões, hipóteses e conceitos novos apresentados aqui não estão disponíveis na literatura zoológica. Pessoas interessadas devem estar cientes de que referências públicas ao conteúdo deste estudo somente devem ser feitas com aprovação prévia do autor. Notice This thesis is presented as partial fulfillment of the dissertation requirement for the Ph.D. degree in Zoology and, as such, is not intended as a publication in the sense of the International Code of Zoological Nomenclature, although available without restrictions. Therefore, any new data, opinions, hypothesis and new concepts expressed hererin are not available -

Species Richness and Functional Structure of Fish Assemblages in Three Freshwater Habitats: Effects of Environmental Factors and Management
Received: 13 March 2019 Accepted: 26 July 2019 DOI: 10.1111/jfb.14109 REGULAR PAPER FISH Species richness and functional structure of fish assemblages in three freshwater habitats: effects of environmental factors and management Jamile Queiroz-Sousa1,2 | Sally A. Keith2,3 | Gianmarco S. David4 | Heleno Brandão5 | André B. Nobile1 | Jaciara V. K. Paes1 | Ana C. Souto1 | Felipe P. Lima1 | Reinaldo J. Silva1 | Raoul Henry1 | Katherine Richardson2 1Institute of Biosciences, São Paulo State University, Botucatu, Brazil Abstract 2Center for Macroecology, Evolution and In this study, the inverted trophic hypothesis was tested in the freshwater fish com- Climate, Natural History Museum of Denmark, munities of a reservoir. The distribution of fish species in three freshwater habitats in University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark the Jurumirim Reservoir, Brazil, was examined using both species richness and the 3Lancaster Environment Centre, Lancaster relative proportions of different trophic groups. These groups were used as a proxy University, Lancaster, UK for functional structure in an attempt to test the ability of these measures to assess 4Agencia Paulista de Tecnologia do Agronegócio (APTA), Jaú, Brazil fish diversity. Assemblage structures were first described using non-metric multi- 5Paraná Federal Technology University, Santa dimensional scaling (NMDS). The influence of environmental conditions for multiple Helena, Brazil fish assemblage response variables (richness, total abundance and abundance per tro- Correspondence phic group) was tested using generalised linear mixed models (GLMM). The metric Jamile Queiroz-Sousa, Institute of Biosciences, typically employed to describe diversity; that is, species richness, was not related to São Paulo State University, Prof. Dr. Antônio Celso Wagner Zanin street, 250, 18618-689 - environmental conditions. -

Cramer 2009 Tese
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIOCIÊNCIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA FILOGENIA DE DUAS SUBFAMÍLIAS DE CASCUDOS (SILURIFORMES, LORICARIIDAE), USANDO DADOS NUCLEARES, MITOCONDRIAIS E MORFOLÓGICOS Christian Andreas Cramer Orientador: Dr. Roberto E. Reis Co-orientador: Dr. Sandro L. Bonatto TESE DE DOUTORADO PORTO ALEGRE – RS – BRASIL 2009 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIOCIÊNCIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA FILOGENIA DE DUAS SUBFAMÍLIAS DE CASCUDOS (SILURIFORMES, LORICARIIDAE), USANDO DADOS NUCLEARES, MITOCONDRIAIS E MORFOLÓGICOS Christian Andreas Cramer Orientador: Dr. Roberto E. Reis Co-orientador: Dr. Sandro Luis Bonatto TESE DE DOUTORADO PORTO ALEGRE – RS – BRASIL 2009 AVISO Esta tese é parte dos requisitos necessários para obtenção do título de doutor, área de Zoologia, e como tal, não deve ser vista como uma publicação no senso do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (apesar de disponível publicamente sem restrições). Dessa forma, quaisquer informações inéditas, opiniões e hipóteses, assim como nomes novos, não estão disponíveis na literatura zoológica. Pessoas interessadas devem estar cientes de que referências públicas ao conteúdo desse estudo, na sua presente forma, somente devem ser feitas com aprovação prévia do autor. NOTICE This thesis is a partial requirement for the PhD degree in Zoology and, as such, should not be considered as a publication in the sense of the International Code of Zoological Nomenclature (although it is available without restrictions). Therefore, any new information, opinions, and hypotheses, as well as new names are unavailable in the zoological literature. Interested people are advised that any public reference to this study, in its current form, should only be done after previous acceptance of the author. -

Phylogenetic Relationships of the South American Doradoidea (Ostariophysi: Siluriformes)
Neotropical Ichthyology, 12(3): 451-564, 2014 Copyright © 2014 Sociedade Brasileira de Ictiologia DOI: 10.1590/1982-0224-20120027 Phylogenetic relationships of the South American Doradoidea (Ostariophysi: Siluriformes) José L. O. Birindelli A phylogenetic analysis based on 311 morphological characters is presented for most species of the Doradidae, all genera of the Auchenipteridae, and representatives of 16 other catfish families. The hypothesis that was derived from the six most parsimonious trees support the monophyly of the South American Doradoidea (Doradidae plus Auchenipteridae), as well as the monophyly of the clade Doradoidea plus the African Mochokidae. In addition, the clade with Sisoroidea plus Aspredinidae was considered sister to Doradoidea plus Mochokidae. Within the Auchenipteridae, the results support the monophyly of the Centromochlinae and Auchenipterinae. The latter is composed of Tocantinsia, and four monophyletic units, two small with Asterophysus and Liosomadoras, and Pseudotatia and Pseudauchenipterus, respectively, and two large ones with the remaining genera. Within the Doradidae, parsimony analysis recovered Wertheimeria as sister to Kalyptodoras, composing a clade sister to all remaining doradids, which include Franciscodoras and two monophyletic groups: Astrodoradinae (plus Acanthodoras and Agamyxis) and Doradinae (new arrangement). Wertheimerinae, new subfamily, is described for Kalyptodoras and Wertheimeria. Doradinae is corroborated as monophyletic and composed of four groups, one including Centrochir and Platydoras, the other with the large-size species of doradids (except Oxydoras), another with Orinocodoras, Rhinodoras, and Rhynchodoras, and another with Oxydoras plus all the fimbriate-barbel doradids. Based on the results, the species of Opsodoras are included in Hemidoras; and Tenellus, new genus, is described to include Nemadoras trimaculatus, N. -

Multilocus Molecular Phylogeny of the Suckermouth Armored Catfishes
Molecular Phylogenetics and Evolution xxx (2014) xxx–xxx Contents lists available at ScienceDirect Molecular Phylogenetics and Evolution journal homepage: www.elsevier.com/locate/ympev Multilocus molecular phylogeny of the suckermouth armored catfishes (Siluriformes: Loricariidae) with a focus on subfamily Hypostominae ⇑ Nathan K. Lujan a,b, , Jonathan W. Armbruster c, Nathan R. Lovejoy d, Hernán López-Fernández a,b a Department of Natural History, Royal Ontario Museum, 100 Queen’s Park, Toronto, Ontario M5S 2C6, Canada b Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Toronto, Toronto, Ontario M5S 3B2, Canada c Department of Biological Sciences, Auburn University, Auburn, AL 36849, USA d Department of Biological Sciences, University of Toronto Scarborough, Toronto, Ontario M1C 1A4, Canada article info abstract Article history: The Neotropical catfish family Loricariidae is the fifth most species-rich vertebrate family on Earth, with Received 4 July 2014 over 800 valid species. The Hypostominae is its most species-rich, geographically widespread, and eco- Revised 15 August 2014 morphologically diverse subfamily. Here, we provide a comprehensive molecular phylogenetic reap- Accepted 20 August 2014 praisal of genus-level relationships in the Hypostominae based on our sequencing and analysis of two Available online xxxx mitochondrial and three nuclear loci (4293 bp total). Our most striking large-scale systematic discovery was that the tribe Hypostomini, which has traditionally been recognized as sister to tribe Ancistrini based Keywords: on morphological data, was nested within Ancistrini. This required recognition of seven additional tribe- Neotropics level clades: the Chaetostoma Clade, the Pseudancistrus Clade, the Lithoxus Clade, the ‘Pseudancistrus’ Guiana Shield Andes Mountains Clade, the Acanthicus Clade, the Hemiancistrus Clade, and the Peckoltia Clade. -

Instituto De Biociências – Rio Claro Programa De Pós
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” unesp INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS – RIO CLARO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) ANFÍBIOS DA SERRA DO MAR: DIVERSIDADE E BIOGEOGRAFIA LEO RAMOS MALAGOLI Tese apresentada ao Instituto de Biociências do Câmpus de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista, como parte dos requisitos para obtenção do título de doutor em Ciências Biológicas (Zoologia). Agosto - 2018 Leo Ramos Malagoli ANFÍBIOS DA SERRA DO MAR: DIVERSIDADE E BIOGEOGRAFIA Tese apresentada ao Instituto de Biociências do Câmpus de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista, como parte dos requisitos para obtenção do título de doutor em Ciências Biológicas (Zoologia). Orientador: Prof. Dr. Célio Fernando Baptista Haddad Co-orientador: Prof. Dr. Ricardo Jannini Sawaya Rio Claro 2018 574.9 Malagoli, Leo Ramos M236a Anfíbios da Serra do Mar : diversidade e biogeografia / Leo Ramos Malagoli. - Rio Claro, 2018 207 f. : il., figs., gráfs., tabs., fots., mapas Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro Orientador: Célio Fernando Baptista Haddad Coorientador: Ricardo Jannini Sawaya 1. Biogeografia. 2. Anuros. 3. Conservação. 4. Diversidade funcional. 5. Elementos bióticos. 6. Mata Atlântica. 7. Regionalização. I. Título. Ficha Catalográfica elaborada pela STATI - Biblioteca da UNESP Campus de Rio Claro/SP - Ana Paula Santulo C. de Medeiros / CRB 8/7336 “To do science is to search for repeated patterns, not simply to accumulate facts, and to do the science of geographical ecology is to search for patterns of plant and animal life that can be put on a map. The person best equipped to do this is the naturalist.” Geographical Ecology. Patterns in the Distribution of Species Robert H. -

In This Issue
The Journal of the Catfish Study Group (UK) In this issue Leaf Litter By Peter Liptrot Some notes on the natural diet of Megalancistrus parananus by Lee Finley So you want to breed 'Cory's' by lan Fuller Volume 5 Issue Number 1 March 2004 CONTENTS 1 Committee 2 From the Chair lan Fuller 3 Some notes on the natural diet of Megalancistrus parananus by Lee Finley 5 Meet the Members - Eric Bodrock 6 Leaf Litter by Peter Liptrot 9 Breeders List 11 Project Report by Stephen Pritchard 13 Letter from the Membership Secretary 14 So you want to breed 'Gory's' 18 New 'C' numbers introduced 19 Breeding Aspidoras 'gold' by Adrian Taylor 20 Meet Jonathan Armbruster 21 Changing Rooms - The Finishing Touch by Danny Blundell Articles and pictures can be sent by e-mail direct to the editor <bill@ catfish.co.uk> or by post to Bill Hurst 18 Three Pools Crossens SOUTH PORT PR9 8RA (England) ACKNOWLEDGEMENTS Front Cover: Original Design by Kathy Jinkins. March 2004 Vol 5 No 1 HONORARY CO MMITTEE FOR T HE CAffi'IIJSII Sfffi8F C80fl, (ffl•l 2004 PRESIDENT AUCTION ORGANISERS Trevor (JT) Morris Roy & Dave Barton VICE PRESIDENT FUNCTIONS MANAGER Dr Peter Burgess Trevor Morris [email protected] SOCIAL SECRETARY CHAIRMAN Terry Ward lan Fuller ian @corycats.com WEB SITE MANAGER All an James all an@ scotcat.com VICE CHAIRMAN Danny Blundell COMMITTEE MEMBER [email protected] Peter Liptrot bolnathist@ gn .apc.org SECRETARY Temporarily lan Fuller SOUTHERN REP Steve Pritchard TREASURER S .Pritchard@ bti nternet.com Temporarily: Danny Blundell [email protected] -

Food Ecology of Hassar Affinis (Actinopterygii: Doradidae)
Research, Society and Development, v. 10, n. 8, e10110816973, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i8.16973 Food ecology of Hassar affinis (Actinopterygii: Doradidae) in two lakes of a wet zone of international importance in Northeast Brazil Ecologia alimentar de Hassar affinis (Actinopterygii: Doradidae) em dois lagos de uma zona úmida de importância internacional no Nordeste do Brasil Ecología alimentaria de Hassar affinis (Actinopterygii: Doradidae) en dos lagos de una zona húmeda de importancia internacional en el Noreste de Brasil Received: 06/08/2021 | Reviewed: 06/16/2021 | Accept: 06/21/2021 | Published: 07/07/2021 Maria Fabiene de Sousa Barros ORCID https://orcid.org/0000-0003-4280-443X Universidade Estadual do Maranhão, Brazil E-mail: [email protected] Zafira da Silva de Almeida ORCID https://orcid.org/0000-0002-8295-5040 Universidade Estadual do Maranhão, Brazil E-mail: [email protected] Marina Bezerra Figueiredo ORCID http://orcid.org/0000-0001-7485-8593 Universidade Estadual do Maranhão, Brazil E-mail: [email protected] Jorge Luiz Silva Nunes ORCID https://orcid.org/0000-0001-6223-1785 Universidade Estadual do Maranhão, Brazil E-mail: [email protected] Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta ORCID http://orcid.org/0000-0002-3519-5237 Universidade Estadual do Maranhão, Brazil E-mail: [email protected] Abstract The study aimed to describe the aspects of trophic ecology and feeding strategy of the Hassar affinis species in two lakes in the Baixada Maranhense region a wetland of international ecological interest (Site Ramsar). Individuals were collected monthly for one year. -
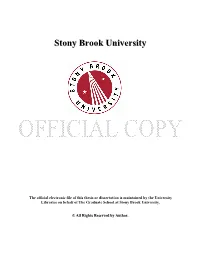
Phylogenetic Analyses of Rates of Body Size Evolution Should Show
SSStttooonnnyyy BBBrrrooooookkk UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttyyy The official electronic file of this thesis or dissertation is maintained by the University Libraries on behalf of The Graduate School at Stony Brook University. ©©© AAAllllll RRRiiiggghhhtttsss RRReeessseeerrrvvveeeddd bbbyyy AAAuuuttthhhooorrr... The origins of diversity in frog communities: phylogeny, morphology, performance, and dispersal A Dissertation Presented by Daniel Steven Moen to The Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Ecology and Evolution Stony Brook University August 2012 Stony Brook University The Graduate School Daniel Steven Moen We, the dissertation committee for the above candidate for the Doctor of Philosophy degree, hereby recommend acceptance of this dissertation. John J. Wiens – Dissertation Advisor Associate Professor, Ecology and Evolution Douglas J. Futuyma – Chairperson of Defense Distinguished Professor, Ecology and Evolution Stephan B. Munch – Ecology & Evolution Graduate Program Faculty Adjunct Associate Professor, Marine Sciences Research Center Duncan J. Irschick – Outside Committee Member Professor, Biology Department University of Massachusetts at Amherst This dissertation is accepted by the Graduate School Charles Taber Interim Dean of the Graduate School ii Abstract of the Dissertation The origins of diversity in frog communities: phylogeny, morphology, performance, and dispersal by Daniel Steven Moen Doctor of Philosophy in Ecology and Evolution Stony Brook University 2012 In this dissertation, I combine phylogenetics, comparative methods, and studies of morphology and ecological performance to understand the evolutionary and biogeographical factors that lead to the community structure we see today in frogs. In Chapter 1, I first summarize the conceptual background of the entire dissertation. In Chapter 2, I address the historical processes influencing body-size evolution in treefrogs by studying body-size diversification within Caribbean treefrogs (Hylidae: Osteopilus ). -

Inventory of the Fish Fauna from Ivaí River Basin, Paraná State, Brazil
Biota Neotropica 16(3): e20150151, 2016 www.scielo.br/bn ISSN 1676-0611 (online edition) inventory Inventory of the fish fauna from Ivaí River basin, Paraná State, Brazil Augusto Frota1,2,4, Gabriel de Carvalho Deprá1,2, Letícia Machado Petenucci1 & Weferson Júnio da Graça1,3 1Universidade Estadual de Maringá, Coleção Ictiológica do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Av. Colombo, 5790. CEP 87020-900. Maringá, PR, Brasil. 2Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Av. Colombo, 5790. CEP 87020-900. Maringá, PR, Brasil. 3Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia e Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Av. Colombo, 5790. CEP 87020-900. Maringá, PR, Brasil. 4Corresponding author: Augusto Frota, e-mail: [email protected] FROTA, A., DEPRÁ, G.C., PETENUCCI, L.M., GRAÇA, W.J. Inventory of the fish fauna from Ivaí River basin, Paraná State, Brazil. 16(3): e20150151. http://dx.doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2015-0151 Abstract: We compiled data on fish fauna of the Ivaí River basin from recent specialised literature, standardised sampling and records of species deposited in fish collections. There were 118 fish species of eight orders and 29 families. Of these, 100 species are autochthonous (84.8%), 13, allochthonous (11.0%) and five, exotic (4.2%). The main causes for the occurrence of non-native species are escapes from aquaculture, introduction for fishing purposes and the construction of the Itaipu hydroelectric plant. The predominance of small and medium-sized Characiformes and Siluriformes, including 13 species new to science, accounts for approximately 11.0% of all species and 13.0% of all native species. -

Anurans from a Cerrado-Atlantic Forest Ecotone in Campos Gerais
Check List 10(3): 574–582, 2014 © 2014 Check List and Authors Chec List ISSN 1809-127X (available at www.checklist.org.br) Journal of species lists and distribution Anurans from a Cerrado-Atlantic Forest ecotone in PECIES S Campos Gerais region, southern Brazil OF Vinicius Guerra Batista 1* and Rogério Pereira Bastos 2 ISTS L 1 Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Universidade Estadual de Maringá, NUPELIA - Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Bloco G-90, Av. Colombo, 5790, CEP 87020-900. Maringá, PR, Brasil. 2 Laboratório de Herpetologia e Comportamento Animal, Departamento de Ecologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, 74001-970, Cx. Postal 131, Goiânia, GO, Brasil. * Corresponding author. E-mail: [email protected] Abstract: Knowledge of the richness and distribution of anurans living in ecotone regions is still incipient, especially in transition zones between threatened phytogeographic areas like the Cerrado and the Atlantic Forest. This study presents a checklist of anuran amphibians in an ecotone (Cerrado-Atlantic Forest) in the Campos Gerais, Paraná State, Brazil. species, six of them in larval stage only and eight of them in adult stage only. The anurofauna accounted for 21.05% of the speciesSamplings registered were conducted for the Cerrado in 66 water and 9.58% bodies of (ponds) the species between found October in the Atlantic2012 and Forest. March Four 2013. species We identified are endemic 42 anuran to the Cerrado and eight to the Atlantic Forest. Our results show that this region has a rich anurofauna with species characteristic of different biomes.