Josefa Eliana Souza Uma Compreensão A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
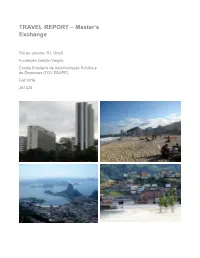
TRAVEL REPORT – Master's Exchange
TRAVEL REPORT – Master’s Exchange Rio de Janeiro, RJ, Brazil Fundação Getúlio Vargas Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV EBAPE) Fall 2016 361325 Contents 1. Preparing for the exchange ..........................................................................................................................3 2. Exchange studies ...........................................................................................................................................5 2.1. Advanced Strategic Management ...........................................................................................................6 2.2. Transparency, Accountability and Good Governance in Brazil ..........................................................7 2.3. Micro Finance .............................................................................................................................................7 2.4. Banking and Financial Intermediation ....................................................................................................7 2.5. Strategy, Government and Society .........................................................................................................8 3. Living and free time in Rio and Brazil .........................................................................................................8 3.1. Free time .....................................................................................................................................................9 3.2. Accommodation ..................................................................................................................................... -

SSTONER Masters Thesis FINAL
Copyright by Spencer Winston Stoner 2013 The Thesis Committee for Spencer Winston Stoner Certifies that this is the approved version of the following thesis: Shooting the Morro: Favela Documentaries and the Politics of Meaning APPROVED BY SUPERVISING COMMITTEE: Supervisor: Lorraine Leu Joseph Straubhaar Shooting the Morro: Favela Documentaries and the Politics of Meaning by Spencer Winston Stoner, BS Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts The University of Texas at Austin May 2013 Dedication To my parents, and to Kendra for going above and beyond in your support. Abstract Shooting the Morro: Favela Documentaries and the Politics of Meaning Spencer Winston Stoner, MA The University of Texas at Austin, 2013 Supervisor: Lorraine Leu To many in the global North, the favelas of Rio de Janeiro are the most visible face of violence and poverty in Brazil. While the favela film genre (and its subset, the favela documentary) has received significant study, there is a gap in understanding how these filmic texts are created as a result of individual production processes. How do decisions made during the course of production translate into imaginaries, representations, and on-screen content? This research locates multiple forms of non- fiction video within the wider context of mediated representations of poverty and violence in favelas, identifying the tools, mechanisms, and specific tactics employed by both favela stakeholders and production personnel in the co-production of these often heavily-mediated images. Utilizing key informant interviews with Rio-based documentary production personnel actively shooting in favelas, this research highlights specific production processes to understand how implicit incentive structures embodied in production shape and influence representations of the favela space. -

A Produção Da Rede Urbana Na Província Do Rio De Janeiro
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL MARIA ISABEL DE JESUS CHRYSOSTOMO IDÉIAS EM ORDENAMENTO, CIDADES EM FORMAÇÃO: A PRODUÇÃO DA REDE URBANA NA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro 2006 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. 2 MARIA ISABEL DE JESUS CHRYSOSTOMO IDÉIAS EM ORDENAMENTO, CIDADES EM FORMAÇÃO: A PRODUÇÃO DA REDE URBANA NA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO. Tese de Doutorado apresentada ao curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Planejamento Urbano e Regional. Orientador: Profa. Dra. Fania Fridman Doutora em Economia pela Universidade de Paris VIII, França. Rio de Janeiro 2006 3 Ficha catalográfica 4 MARIA ISABEL DE JESUS CHRYSOSTOMO IDÉIAS EM ORDENAMENTO, CIDADES EM FORMAÇÃO: A PRODUÇÃO DA REDE URBANA NA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO. Tese de Doutorado apresentada ao curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Planejamento Urbano e Regional. Aprovada em: ______________________________________________ Profa. Dra. Fania Fridman (orientadora) ______________________________________________ Profa. Dra. Ana Clara Torres Ribeiro ______________________________________________ Prof. Dr. Gilmar Mascarenhas de Jesus ______________________________________________ Prof. Dr. Murilo Marx ______________________________________________ Prof. Dr. Sergio Nunes Pereira 5 DEDICATÓRIA As mulheres da minha família pela força e coragem. 6 AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar a minha família; mãe, pai, irmãos. Não teria sido possível escrever essa tese, que é também parte da minha vida emocional, intelectual e afetiva sem a presença dessas pessoas. -

Favelas in the Media Report
Favelas in the Media: How the Global Narrative on Favelas Changed During Rio’s Mega-Event Years 1094 articles - eight global outlets - 2008-2016 Research conducted by Catalytic Communities in Rio de Janeiro December 2016 Lead Researcher: Cerianne Robertson, Catalytic Communities Research Coordinator Contents Research Contributors: Lara Mancinelli Alex Besser Nashwa Al-sharki Sophia Zaia Gabi Weldon Chris Peel Megan Griffin Raven Hayes Amy Rodenberger Natalie Southwick Claudia Sandell Juliana Ritter Aldair Arriola-Gomez Mikayla Ribeiro INTRODUCTION 5 Nicole Pena Ian Waldron Sam Salvesen Emilia Sens EXECUTIVE SUMMARY 9 Benito Aranda-Comer Wendy Muse Sinek Marcela Benavides (CatComm Board of Directors) METHODOLOGY 13 Gabriela Brand Theresa Williamson Clare Huggins (CatComm Executive Director) FINDINGS 19 Jody van Mastrigt Roseli Franco Ciara Long (CatComm Program Director) 01. Centrality ................................................................................................ 20 Rhona Mackay 02. Favela Specificity .................................................................................... 22 Translation: 03. Perspective ............................................................................................. 29 04. Language ................................................................................................ 33 Geovanna Giannini Leonardo Braga Nobre 05. Topics ..................................................................................................... 39 Kris Bruscatto Arianne Reis 06. Portrayal ................................................................................................ -

CRE Nome Fantasia Mantenedora Endereço Bairro Meta Faixa Etária Total 1ª Associação De Educação Infantil Florescer Associação De Educação Infantil Florescer Av
CRE Nome fantasia Mantenedora Endereço Bairro Meta Faixa etária Total 1ª Associação de Educação Infantil Florescer Associação de Educação Infantil Florescer Av. Paulo de Frontin, nº 577 Rio Comprido 84 1 ano 1ª Creche Cantinho Feliz de Santa Teresa Instituto Marquês de Salamanca Rua Almirante Alexandrina, 2495 Santa Teresa 50 2 anos Núcleo de Ação Comunitária e Desenvolvimento 1ª Creche Tuiuti Social - NACODES Rua São Luiz Gonzaga, nº 1612-fundos Benfica 147 1 ano 1ª Casa Maternal Coração de Mãe Instituto Missionário Comunhão e Participação Rua Conceição, nº 01 Rio Comprido 40 2 anos 1ª 321 2ª Abrigo Teresa de Jesus Abrigo Teresa de Jesus Rua Ibituruna, 53 Tijuca 300 6 meses 2ª Ação Social Padre Anchieta - ASPA Ação Social Padre Anchieta - ASPA Travessa Luz, 13 Rocinha 179 6 meses 2ª Casa da Criança Casa da Criança Rua Fernandes Guimarães, 85 Botafogo 192 6 meses Estr. da Gávea, 262, quarteirão 21, R. Um Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré Rocinha 2ª s/nº 120 0 ano 2ª Casa Maternal Mello Mattos Associação Tutelar de Menores Rua Faro, 80 Jardim Botânico 120 2 anos 2ª Centro Comunitário Alegria das Crianças Centro Comunitário Alegria das Crianças Rua Dois, 431 Rocinha 72 2 anos Centro Comunitário da Rua Um – União Faz a Força Centro Comunitário da Rua Um – União Faz a Força Estr. da Gávea, 259 - parte Rocinha 2ª 140 1 ano 2ª Centro de Educação Infantil Cristo Redentor Associação Palotinas Rua Indiana, 59 Cosme Velho 65 2 anos 2ª Centro Social da Mulher Uêga Centro Social da Mulher Uêga Rua Esperança, 37 – 2º andar Rocinha 100 2 anos 2ª Centro Social E Aí Como É Que Fica? Centro Social E Aí Como É Que Fica? Estr. -

Communitarian Tourism and Favela Tour As Expressions of the New Dynamics of Tourism Consumption Turismo Comunitário E Favela-T
Vol. 25, n. 2, August 2014 Tourism in Analysis 354 DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v25i2p354-372 Communitarian tourism and favela tour as expressions of the new dynamics of tourism consumption Turismo comunitário e favela-tour como expressões das novas dinâmicas do consumo turístico Turismo comunitario y favela-tour como expresiones de las nuevas dinámicas del consumo turístico Ricardo de Oliveira Rezende1 Abstract This paper deals with the relationship between tourism and poverty - processes originated by the development of industrial capitalism -, more precisely the process in which the landscape of poverty becomes a tourist commodity. The emergence of mass tourism on the model of Fordist production occurred through the ‘commodification’ of tourism, i.e. the creation of tourist commodity, embodied in tour packages and offering standardized hospitality. How- ever, the Fordist hegemony has opened space for new dynamics of tourism, inserted in liquid modernity or post-Fordist, which appear to be linked to the search of belonging, security and authenticity, outside of packages and international brand hotels. Thus, there are new demands of tourist experiences, such as those in urban poor and environmentally degraded, like the favelas of Rio de Janeiro. Tourism, in fact, sells landscapes, however favela tour is different, because the landscape is attractive for its poverty and environmental degradation. This paper addresses two of these new forms of tourism consumption that occur in the en- vironment of slums: community tourism and well known practice of favela tours. The first refers to communities that are organized to host tourists, the second refers to the practice as tours in favelas of Rio de Janeiro and has no direct link with the local community. -

4 – Zona Sul: Proximidade Física, Distância Social
83 4 – Zona Sul: Proximidade física, distância social Favela Santa Marta – Botafogo, com vista do Corcovado ao fundo Foto: Marta do Nascimento, janeiro de 2009 Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar (...) Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu tenho medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado, esculachado na favela (...) Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra Zona Sul pra conhecer água de coco E pobre na favela,vive passando sufoco Funk Carioca – Rap da felicidade MC Cidinho e Doca, 1995 84 Conforme discutido no capítulo 2, a Zona Sul se configurou como a principal área de desenvolvimento econômico da cidade a partir do século XX. Escolhida como local de moradia pelas classes sociais mais abastadas, Hoje a Zona Sul é a área de maior valorização imobiliária, além da presença abundante de equipamentos urbanos e de importantes sub-centros comerciais e de serviços. Apesar da prosperidade econômica desta área da cidade, ao longo de seu crescimento surgiram importantes concentrações de população pobre, principalmente nas encostas de morros, onde não havia interesse na exploração econômica. Estas concentrações se tornaram hoje importantes favelas, que geram hoje alguns conflitos e contradições na área mais valorizada da cidade. -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte Centro De Ciências Sociais Aplicadas Departamento De Turismo Curso De Turismo
15 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DEPARTAMENTO DE TURISMO CURSO DE TURISMO Leandro Tavares Bezerra TURISMO E FAVELA: A INFLUÊNCIA DO IMAGINÁRIO PARA O CONSUMO DA COMUNIDADE SANTA MARTA / RIO DE JANEIRO - BRASIL Natal 2013 16 Leandro Tavares Bezerra TURISMO E FAVELA: A INFLUÊNCIA DO IMAGINÁRIO PARA O CONSUMO DA COMUNIDADE SANTA MARTA / RIO DE JANEIRO - BRASIL Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como requisito para a obtenção do título de Bacharel em Turismo. Orientadora: Profª Drª. Lissa Valeria F. Freire Natal 2013 17 Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA BEZERRA, Leandro Tavares. Turismo e favela: a influência do imaginário para o consumo da comunidade Santa Marta / Rio de Janeiro - Brasil / Leandro Tavares Bezerra - Natal, RN, 2013. 70f. Orientador(a): Profª. Drª. Lissa Valéria Fernandes Ferreira. Monografia (Graduação em Turismo) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Turismo. 1. Turismo - Monografia. 2. Favela - Monografia. 3. Imaginário - Comunidade Santa Marta/RJ - Monografia. I. Ferreira, Lissa Valéria Fernandes. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. RN/BS/CCSA CDU 338.48 18 LEANDRO TAVARES BEZERRA TURISMO E FAVELA: A INFLUÊNCIA DO IMAGINÁRIO PARA O CONSUMO DA COMUNIDADE SANTA MARTA / RIO DE JANEIRO - BRASIL Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como requisito para a obtenção do título de Bacharel em Turismo, sob a orientação da Profª Drª. -

O Uso Contemporâneo Da Favela Na Cidade Do Rio De Janeiro
O uso contemporâneo da favela na cidade do Rio de Janeiro Izabel Cristina Reis Mendes São Paulo 2014 IZABEL CRISTINA REIS MENDES O uso contemporâneo da favela na cidade do Rio de Janeiro Tese apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Arquitetura e Urbanismo Área de Concentração: Projeto, Espaço e Cultura. Orientadora: Prof.ª Dra. Maria Cristina da Silva Leme EXEMPLAR REVISADO E ALTERADO EM RELAÇÃO À VERSÃO ORIGINAL, SOB RESPONSABILIDADE DO AUTOR E ANUÊNCIA DO ORIENTADOR. O original se encontra disponível na sede do programa São Paulo, 10 de junho de 2014. São Paulo 2014 AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. E-MAIL DA AUTORA: [email protected] Mendes, Izabel Cristina Reis M538u O uso contemporâneo da favela na cidade do Rio de Janeiro / Izabel Cristina Reis Mendes. --São Paulo, 2014. 278 p. : il. Tese (Doutorado - Área de Concentração: Projeto, Espaço e Cultura) – FAUUSP. Orientadora: Maria Cristina da Silva Leme 1.Favelas – Rio de Janeiro(RJ) 2.Urbanização – Rio de Janeiro (RJ) 3.Turismo – Rio de Janeiro (RJ) I.Título CDU 711.585 Mendes, I.C.R. O uso contemporâneo da favela na cidade do Rio de Janeiro . Tese apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Arquitetura e Urbanismo. Aprovado em: Banca Examinadora Prof. Dr.:_______________________ Instituição:__________________________ Julgamento:____________________ Assinatura:__________________________ Prof. Dr.:_______________________ Instituição:__________________________ Julgamento:____________________ Assinatura:__________________________ Prof. -

Campos De Altitude Museu Da Outubro 2020 Kitty Casa Brasileira Abril 2021 Paranaguá Apresentação
CAMPOS DE ALTITUDE MUSEU DA OUTUBRO 2020 KITTY CASA BRASILEIRA ABRIL 2021 PARANAGUÁ APRESENTAÇÃO MIRIAM LERNER GIANCARLO LATORRACA MUSEU DA CASA BRASILEIRA O trabalho da fotógrafa Kitty Paranaguá traz ao público do museu um recorte es- pecial sobre a forma de habitar nos mor- ros cariocas. Por meio da documentação da paisagem projetada sobre os interiores das casas e de seus próprios moradores, ela provoca uma refl exão sobre a condi- ção precária das habitações em contra- ponto à exuberância da paisagem natural onde se encontram. Esse registro nos in- cita a refl etir sobre a ausência de políticas públicas de habitação, que excluiu da ci- dade formal grande parte de nossa popu- lação. Temos aqui documentado moradas fora do “asfalto”, relegadas à ocupação de territórios excludentes e ao mesmo tem- po privilegiados. Um retrato marcante so- bre este morar brasileiro, documentado justamente à partir do morro que abrigou a primeira favela do Rio de Janeiro. 2 A PAISAGEM SE CONFUNDE COM A CASA JULIA LIMA CURADORA Campos de Altitude teve um início quase espontâneo em meio às pesquisas de Kitty Paranaguá sobre a pai- sagem do Rio de Janeiro, na região do Cais do Porto. Ao subir o Morro da Providência para fotografar a im- plosão do Elevado da Perimetral, no Centro, ela se deu conta da vista privilegiada que tinha de um restaurante local. A experiência dessa perspectiva a inspirou a pe- dir à proprietária para voltar e documentar também o interior de sua casa. A partir daí, começou a registrar as paisagens, projetá-las dentro das casas das comu- nidades de onde se tem essas vistas magnífi cas, e a fotografar a sobreposição resultante, sempre com a presença dos moradores no quadro. -

Universidade Federal Do Rio De Janeiro Centro De Filosofia E Ciências Humanas Escola De Serviço Social Ana Luiza Wiezzer Silva
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL ANA LUIZA WIEZZER SILVA JEANINE MAGALHÃES DE LIMA O RIO DE JANEIRO NO “MERCADO MUNDIAL DE CIDADES”: UM ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS NA COMUNIDADE TAVARES BASTOS. Rio de Janeiro 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL ANA LUIZA WIEZZER SILVA JEANINE MAGALHÃES DE LIMA O RIO DE JANEIRO NO “MERCADO MUNDIAL DE CIDADES”: UM ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS NA COMUNIDADE TAVARES BASTOS. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de bacharel em Serviço Social. Orientadora: Rosemere Maia Rio de Janeiro 2015 AGRADECIMENTOS Agradecemos a cada um dos professores e professoras do curso de Serviço Social da UFRJ que partilharam conosco conhecimento e pelas importantes contribuições que se somaram ao presente trabalho. Agradecemos o apoio caloroso e incondicional dos nossos familiares que vivenciaram a nossa rotina nos auxiliando em nossas batalhas enfrentadas durante todo esse tempo de universidade. Queremos agradecer de forma particular à nossa orientadora, Professora Doutora Rosemere Santos Maia pelas diversas leituras, conversas e ponderações (e também as alegres gargalhadas!) que trouxeram clareza ao trabalho e maior segurança para nossa pesquisa. Agradecemos, também, as participantes do grupo de pesquisa que nos ajudaram contribuindo com entrevistas e observações, e com uma ênfase especial a amiga Jéssica Rocha Silva que, mesmo depois de graduada, continuou na luta conosco. Por fim, agradecemos a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para nossa formação. -

Classificação Grupo I 1 Gericinó 1 X 1 Parque Boa Ventura # Equipes PG PG 1 N
1º Campeonato Masculino de Comunidades do RJ 2012 Classificação Grupo I 1 Gericinó 1 X 1 Parque Boa Ventura # Equipes PG PG 1 N. S. de Guadalupe 0 X 1 Vista Alegre 1 Parque Boa Ventura 4 4 2 Gericinó 4 4 2 Gericinó 1 X 0 Vista Alegre 3 Vista Alegre 3 3 2 Parque Boa Ventura 3 X 2 N. S. de Guadalupe 4 N. S. de Guadalupe 0 0 3 Gericinó X N. S. de Guadalupe 3 Parque Boa Ventura X Vista Alegre Equipes PG J V E D GP GC SD PD MGP MGC Aprov. 4 Gericinó 4 2 1 1 0 2 1 1 6 1,00 0,50 66,67 4 Parque Boa Ventura 4 2 1 1 0 4 3 1 6 2,00 1,50 66,67 0 N. S. de Guadalupe 0 2 0 0 2 2 4 -2 6 1,00 2,00 0,00 3 Vista Alegre 3 2 1 0 1 1 1 0 6 0,50 0,50 50,00 3 2 3 9 9 0 1º Campeonato Masculino de Comunidades do RJ 2012 Classificação Grupo J 1 Jacarezinho 1 X 0 Salga # Equipes PG PG 1 Curicica 2 X 1 Vila São Miguel 1 Jacarezinho 6 6 2 Salga 3 3 2 Jacarezinho 2 X 1 Vila São Miguel 3 Curicica 3 3 2 Salga 3 X 0 Curicica 4 Vila São Miguel 0 0 3 Jacarezinho X Curicica 3 Salga X Vila São Miguel Equipes PG J V E D GP GC SD PD MGP MGC Aprov.