Vanilda Dos Reis Os Guardiões Do Vale Juruena: Rikbaktsa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ipiranga Do Norte-Mt
Eliana Beatriz Nunes Rondon Lima Paulo Modesto Filho Rubem Mauro Palma de Moura (Organizadores) ESGOTO ÁGUA RESÍDUOS DRENAGEM SÓLIDOS RELATÓRIO TÉCNICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: IPIRANGA DO NORTE-MT RELATÓRIO TÉCNICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: IPIRANGA DO NORTE-MT Ministério da Educação Universidade Federal de Mato Grosso Reitora Myrian Thereza de Moura Serra Vice-Reitor Evandro Aparecido Soares da Silva Coordenador da Editora Universitária Renilson Rosa Ribeiro Supervisão Técnica Ana Claudia Pereira Rubio Conselho Editorial Membros Renilson Rosa Ribeiro (Presidente - EdUFMT) Ana Claudia Pereira Rubio (Supervisora - EdUFMT) Adelmo Carvalho da Silva (Docente - IE) Ana Carrilho Romero Grunennvaldt (Docente - FEF) Arturo Alejandro Zavala Zavala (Docente - FE) Carla Reita Faria Leal (Docente - FD) Divanize Carbonieri (Docente - IL) Eda do Carmo Razera Pereira (Docente - FCA) Elizabeth Madureira Siqueira (Comunidade - UFMT) Evaldo Martins Pires (Docente - CUS) Ivana Aparecida Ferrer da Silva (Docente - FACC) Josiel Maimone de Figueiredo (Docente - IC) Karyna de Andrade Carvalho Rosseti (Docente - FAET) Lenir Vaz Guimarães (Docente - ISC) Luciane Yuri Yoshiara (Docente - FANUT) Maria Cristina Guimaro Abegão (Docente - FAEN) Maria Cristina Theobaldo (Docente - ICHS) Raoni Florentino da Silva Teixeira (Docente - CUVG) Mauro Miguel Costa (Docente - IF) Neudson Johnson Martinho (Docente - FM) Nileide Souza Dourado (Técnica - IGHD) Odorico Ferreira Cardoso Neto (Docente - CUA) Paulo César Corrêa da Costa (Docente - FAGEO) -

U-Th-Pb Shrimp Dating of Hydrothermal Monazite from the Trairão Gold Deposit – Alta Floresta Gold Province (Amazon Craton)
SILEIR RA A D B E E G D E A O D L E O I G C I A O ARTICLE BJGEO S DOI: 10.1590/2317-4889202020190063 Brazilian Journal of Geology D ESDE 1946 U-Th-Pb Shrimp dating of hydrothermal monazite from the Trairão Gold Deposit – Alta Floresta Gold Province (Amazon Craton) Mara Luiza Barros Pita Rocha1,2* , Farid Chemale Junior1,3 , João Orestes Schneider Santos4 , Marcia Aparecida de Sant’Ana Barros2 , Francisco Egídio Cavalcante Pinho2 , Neal Jesse McNaughton5 , Paulo César Corrêa da Costa2 , Malcolm Roberts6 Abstract Alta Floresta Gold Province occurs in the center-south portion of the Amazon Craton. Trairão gold deposit, which is located in the Alta Flo- resta Gold Province, is hosted by 1878 to 1854 Ma arc-related granites. Two important Au deposits take place in the region, the Trairão and Chumbo Grosso, which are structurally controlled by N80°W/S80°E trending lineament and associated with quartz veins and disseminated sulfides in a strong phyllic alteration zone of the host granite. Hydrothermal monazite grains formed during the Au mineralization event occur as fine anhedral crystals filling fractures or as isolated grains associated with Ag, Au, molybdenite, barite, pyrite, galena, and sphalerite. The hydrothermal monazite grains contain very low U, relatively low Th, and moderate Nd and La contents. SHRIMP U-Th-Pb dating of these crystals yielded an age of 1798 ± 12 Ma for Trairão and 1805 ± 22 Ma for Chumbo Grosso Au-deposits, whereas magmatic zircon grains of the granitic host rocks yielded an age of 1854 ± 8 Ma. -

Contagem De Município AC 4 Feijó 1 Jordão 1 Rodrigues Alves 1
Contagem de Município AC 4 Feijó 1 Jordão 1 Rodrigues Alves 1 Senador Guiomard 1 AL 1 Belém 1 AM 4 Ipixuna 1 Itapiranga 1 Santo Antônio do Içá 1 Tapauá 1 CE 3 Monsenhor Tabosa 1 Penaforte 1 Senador Sá 1 ES 15 Alegre 1 Alto Rio Novo 1 Barra de São Francisco 1 Domingos Martins 1 Ecoporanga 1 Ibatiba 1 Irupi 1 Iúna 1 Jerônimo Monteiro 1 Marechal Floriano 1 Muqui 1 Pinheiros 1 Presidente Kennedy 1 Santa Leopoldina 1 São Mateus 1 GO 21 Acreúna 1 Anicuns 1 Aparecida de Goiânia 1 Barro Alto 1 Cachoeira Dourada 1 Campos Belos 1 Catalão 1 Cristianópolis 1 Damianópolis 1 Minaçu 1 Monte Alegre de Goiás 1 Morro Agudo de Goiás 1 Mundo Novo 1 Nazário 1 Nova Roma 1 Planaltina 1 Santa Fé de Goiás 1 Santa Terezinha de Goiás 1 Serranópolis 1 Simolândia 1 Vicentinópolis 1 MA 22 Alcântara 1 Alto Alegre do Pindaré 1 Amapá do Maranhão 1 Bequimão 1 Buriti Bravo 1 Codó 1 Godofredo Viana 1 Graça Aranha 1 Jenipapo dos Vieiras 1 Joselândia 1 Lajeado Novo 1 Luís Domingues 1 Magalhães de Almeida 1 Mata Roma 1 Miranda do Norte 1 Paço do Lumiar 1 Passagem Franca 1 Paulo Ramos 1 Pindaré-Mirim 1 Primeira Cruz 1 Trizidela do Vale 1 Turiaçu 1 MG 17 Aguanil 1 Alto Rio Doce 1 Arcos 1 Belmiro Braga 1 Carmo da Cachoeira 1 Itueta 1 Jacutinga 1 Laranjal 1 Manhumirim 1 Mariana 1 Morada Nova de Minas 1 Ninheira 1 Piraúba 1 Rio Preto 1 Santana do Jacaré 1 São João do Manhuaçu 1 Uruana de Minas 1 MS 2 Deodápolis 1 Selvíria 1 MT 16 Alto Garças 1 Aripuanã 1 Barão de Melgaço 1 Bom Jesus do Araguaia 1 Comodoro 1 General Carneiro 1 Ipiranga do Norte 1 Juruena 1 Luciára 1 Novo São Joaquim -

Valor Destinado Aos Municípios Da Repatriação De Recursos Do Exterior
Valor destinado aos Municípios da Repatriação de recursos do exterior Município UF Capital Região Valor Acorizal/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Água Boa/MT MT . Centro Oeste 800.140,53 Alta Floresta/MT MT . Centro Oeste 1.333.567,55 Alto Araguaia/MT MT . Centro Oeste 800.140,53 Alto Boa Vista/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Alto Garças/MT MT . Centro Oeste 533.427,02 Alto Paraguai/MT MT . Centro Oeste 533.427,02 Alto Taquari/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Apiacás/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Araguaiana/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Araguainha/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Araputanga/MT MT . Centro Oeste 666.783,77 Arenápolis/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Aripuanã/MT MT . Centro Oeste 800.140,53 Barão de Melgaço/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Barra do Bugres/MT MT . Centro Oeste 1.066.854,04 Barra do Garças/MT MT . Centro Oeste 1.466.924,30 Bom Jesus do Araguaia/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Brasnorte/MT MT . Centro Oeste 800.140,53 Cáceres/MT MT . Centro Oeste 1.866.994,57 Campinápolis/MT MT . Centro Oeste 666.783,77 Campo Novo do Parecis/MT MT . Centro Oeste 1.066.854,04 Campo Verde/MT MT . Centro Oeste 1.200.210,79 Campos de Júlio/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Canabrava do Norte/MT MT . Centro Oeste 400.070,26 Canarana/MT MT . Centro Oeste 800.140,53 Carlinda/MT MT . Centro Oeste 533.427,02 Castanheira/MT MT . -
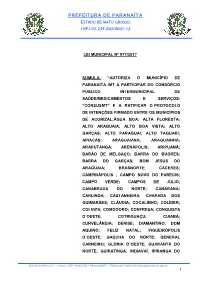
Decreto Municipal N
PREFEITURA DE PARANAÍTA ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 03.239.043/0001-12 LEI MUNICIPAL Nº 977/2017 SÚMULA: “AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PARANAÍTA /MT A PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MEDICAMENTOS E SERVIÇOS- “CONSUSMT” E A RATIFICAR O PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ACORIZAL;ÁGUA BOA; ALTA FLORESTA; ALTO ARAGUAIA; ALTO BOA VISTA; ALTO GARÇAS; ALTO PARAGUAI; ALTO TAQUARI; APIACÁS; ARAGUAIANA; ARAGUAINHA; ARAPUTANGA; ARENÁPOLIS; ARIPUANÃ; BARÃO DE MELGAÇO; BARRA DO BUGRES; BARRA DO GARÇAS; BOM JESUS DO ARAGUAIA; BRASNORTE; CÁCERES; CAMPINÁPOLIS ; CAMPO NOVO DO PARECIS; CAMPO VERDE; CAMPOS DE JÚLIO; CANABRAVA DO NORTE; CANARANA; CARLINDA; CASTANHEIRA; CHAPADA DOS GUIMARÃES; CLÁUDIA; COCALINHO; COLÍDER; COLNIZA; COMODORO; CONFRESA; CONQUISTA D`OESTE; COTRIGUAÇU; CUIABÁ; CURVELÂNDIA; DENISE; DIAMANTINO; DOM AQUINO; FELIZ NATAL; FIGUEIRÓPOLIS D`OESTE; GAÚCHA DO NORTE; GENERAL CARNEIRO; GLÓRIA D`OESTE; GUARANTÃ DO NORTE; GUIRATINGA; INDIAVAÍ; IPIRANGA DO Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 1 PREFEITURA DE PARANAÍTA ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 03.239.043/0001-12 NORTE; ITANHANGÁ; ITAÚBA; ITIQUIRA; JACIARA; JANGADA; JAURU ; JUARA; JUÍNA; JURUENA; JUSCIMEIRA; LAMBARI D`OESTE; LUCAS DO RIO VERDE; LUCIARA; MARCELÂNDIA; MATUPÁ; MIRASSOL D`OESTE; NOBRES; NORTELÂNDIA; NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO; NOVA BANDEIRANTES; NOVA BRASILÂNDIA; NOVA CANAÃ DO NORTE; NOVA GUARITA; NOVA LACERDA; NOVA MARILÂNDIA; NOVA MARINGÁ; NOVA MONTE VERDE; NOVA MUTUM; -

O Município De Marcelândia – Mato Grosso
DIAGNÓSTICO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MATO GROSSO Alta Floresta, MT, Julho de 2007. Extrato de um estudo realizado pelo Instituto Centro de Vida no âmbito do projeto Y Ikatu Xingu Manito, com recursos da Comissão Européia e Fundo Naiconal do Meio Ambiente. Autores Gustavo Vasconcellos Irgang Mestre em Ecologia e Coordenador do Programa de Conservação e Áreas Protegidas [email protected] Roberta Roxilene dos Santos Geógrafa e Analista de SIG [email protected] Ayslaner Gallo Engenheiro Florestal [email protected] Rodrigo Marcelino Biólogo [email protected] Instituto Centro de Vida www.icv.org.br Cuiabá Av. José Estevão Torquato, 999 - Jd. Vitória - 78055-731 Telefone: (65) 3641-1550 / 3641-5382 E-mail: [email protected] Alta Floresta Av. Ariosto da Riva, 3473 - Centro - 78.580-000 Telefone: (66) 3521-8555 Fax: (66) 3521-7754 Alta Floresta, Mato Grosso, Julho de 2007. 2 Sumário Diagnóstico dos aspectos ambientais do município de Marcelândia – Mato Grosso................................... 3 1.O Município .................................................................................................................................. 3 1.O Município .................................................................................................................................. 3 2.Geologia – o substrato rochoso....................................................................................................... 5 2.Geologia – o substrato rochoso...................................................................................................... -

Prefeitura Municipal De Mirassol D'oeste (Mt) Volume I
I PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE (MT) VOLUME I PRODUTO A - FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO PRODUTO B - PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRODUTO C - DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DEZEMBRO/2016 II PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE (MT) PRODUTO A - FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO PRODUTO B - PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRODUTO C - DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO VOLUME I DEZEMBRO/2016 III Mirassol D’oeste. Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do “Complexo Nascentes do Pantanal”. Plano Municipal de Saneamento Básico de Mirassol D’oeste – MT,– Volume I - Produto A - Formação dos Grupos de Trabalho - Produto B - Plano de Mobilização Social - Produto C - Diagnóstico Técnico Participativo dos Serviços de Saneamento Básico./ Mirassol D’oeste - MT, 2016 - 251 p.; il. Color,; 30 cm. Inclui índice. 1. Política - planejamento 2. Saneamento 3. Publicações oficiais I. Título. CDU 332.021:628 Catalogação na Fonte: Bibliotecária Zenilda Vieira de Lima. CRB.1/2211 Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Endereço SAUS Quadra 4 – Bloco N – edifício Sede – Brasília-DF. Telefone (61) 3314-6362, Fax (61) 3314-6253. www.funasa.gov.br. Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do “Complexo Nascentes do Pantanal”. Rua dos Estados, 667 – Jd. Sta. Maria. São José dos Quatro Marcos-MT. Telefone (65) 3251- 1115. www.nascentesdopantanal.org.br. IV Prefeito Municipal Elias Mendes Leal Filho Vice- prefeito José Rubens Gouveia de Lima Relação das Secretarias Secretário de Obras e Infraestrutura Amarildo Pedro do Nascimento Secretária Municipal Fazenda Roberto Greve Administração Planejamento e Coordenação Geral Márcio Luiz Pereira Secretaria Municipal de Saúde Sandra Horn Cruz Secretaria Municipal Educação e Cultura Marli Andromede Ferreira Secretaria de Agricultura José Vanderlei Batista Secretaria de Esportes Jorge Ilton Francisco Alves Núcleo Intersetorial de Coordenação Técnica – NICT da FUNASA Leliane Fátima R. -

Diário Oficial De Contas
Diário Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 6 Nº 1046 – Página 4 Divulgação quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017 Publicação sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017 725/2012-TP (processo nº 4.371-0/2012) e ao Julgamento Singular Relator Pedido de Rescisão CONSELHEIRO DOMINGOS NETO nº 5.586/AJ/2013 (processo nº 17.028-3/2013). Relator CONSELHEIRO WALDIR JÚLIO TEIS 19 - Processo nº 1.968-2/2014 Interessados(as) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 12 - Processo nº. 24.458-9/2015 SERVIDORES DE JURUENA Interessados(as) SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER Assunto Recurso Ordinário interposto em face da decisão proferida por PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ meio do Acórdão nº 250/2015-SC, que julgou regulares as contas PERMÍNIO PINTO FILHO - ex-Secretário de Estado de Educação anuais de gestão do exercício de 2014, com determinações legais SÁGUAS MORAES SOUSA – ex-Secretário de Estado de e aplicação de multa. Educação Recorrentes DENISE APARECIDA PERIN VALTEIR QUIRINO DOS SANTOS - Prefeito Municipal ELEZETE ROSA DA SILVA JOSÉ DE SOUSA - ex-Prefeito Municipal THIAGO FERREIRA DA SILVA NOVELI & ANGELONI LTDA. – ME Procuradores(as) CARLOS RAIMUNDO ESTEVES – OAB/MT nº 7.255, RUTH SANZIO LEONARDI NOVELI - representante legal da empresa CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/MT nº 10.350, ANDRÉ Noveli & Angeloni Ltda. - ME ARAÚJO BARCELOS – OAB/MT nº 16.778, LIDIANE FÁTIMA Assunto Tomada de Contas Especial acerca do Termo de Convênio nº GOMES MOREIRA – OAB/MT nº 15.784 e HERMES TESEU 376/2007, cujo objeto foi a reforma geral da cobertura e BISPO FREIRE JÚNIOR – OAB/MT nº 20.111-B instalações elétricas na Escola Estadual “Paulino Modesto”. -

Diário Oficial De Contas Tribunal De Contas Mato Grosso INSTRUMENTODECIDADANIA
Diário Oficial de Contas Tribunal de Contas Mato Grosso INSTRUMENTODECIDADANIA - Fundo Municipal de Previdência Social de Lambari D'Oeste - Fundo Municipal de Previdência Social de Colniza MIRASSOL O'OESTE COTRIGUAÇU - Câmara Municipal de Mirassol O'Oeste - Câmara Municipal de Cotriguaçu - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol O'Oeste _Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cotriguaçu _ Fundação Municipal de Saúde "Prefeito Samuel Greve" - Mirassol _ Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Económico, Social c O'Oeste Ambiental Vale do Juruena PEDRA PRETA DOM AQUINO - Câmara Municipal de Pedra Preta - Câmara Municipal de Dom Aquino PONTAL DO ARAGUAIA GUIRATlNGA - Câmara Municipal de Pontal do Araguaia - Câmara Municipal de Guiratinga _ Fundo Municipalde PrevidênciaSocial dos Servidoresde Pontaldo . Instituto de Previdência Municipal de Guiratinga Araguaia JACIARA PONTE BRANCA . Câmara Municipal de Jaciara - Câmara Municipal de Ponte Branca _Fundo Municipal de Previdência SOCialdos Servidores de Jactara - Fundo Municipal de Previdência Social de Ponte Branca _Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso RESERVA DO CABAÇAL JUíNA - Câmara Municipal de Reserva do Cabaçal - Câmara Municipal de Juína _Fundo Municipal de Previdência Social de Reserva do Cabaçal - Fundo Municipal de Previdência de Juína - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína RIBEIRAoZINHO _Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Juruena - Câmara Municipal de Ribeirâozinho _ Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município -

Technical Report
TECHNICAL REPORT ON THE AMAZON BASIN GOLD PROPERTY AMAZONAS, MATO GROSSO AND RONDÔNIA STATES, BRAZIL Apui Airport Coordinates Latitude: 07° 10' 27.3" South Longitude: 59° 50' 20.4" West For: Armadillo Resources Ltd 411 – 470 Granville Street Vancouver, BC Canada V6C 1V5 Prepared By: David F. Reid, B.Sc., M.Sc., MBA, P.Geo. W. R. Gilmour, B.Sc., P.Geo Discovery Consultants 201 – 2928 29th Street Vernon, BC, V1T 5A6 P.O. Box 933 Vernon, BC, V1T 6M8 Date: June 30, 2011 i TABLE OF CONTENTS 1. SUMMARY .................................................................................................................1 2. INTRODUCTION ........................................................................................................3 3. RELIANCE ON OTHER EXPERTS..................................................................................6 4. PROPERTY LOCATION AND DESCRIPTION 4.1 Location ................................................................................................................7 4.2 Property Description ...............................................................................................7 4.3 Brazilian Mining Code & Permitting.......................................................................... 16 4.3.1 Exploration and Mining Concessions...................................................................... 16 4.3.2 Maintenance of Mineral Tenure Rights................................................................... 17 4.3.3 Environmental Regulations ................................................................................. -

LEI MUNICIPAL Nº 455 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 Autoriza O Município a Participar Do Consorcio Medicamentos
Estado de Mato Grosso Página: 1/5 Prefeitura Municipal de Curvelândia Impressão: 26/09/2021 De mãos dadas com o povo às 03h44m Autor: Prefeitura Municipal de Curvelândia Publicado: 20/11/2017 às 13h22m Local: Leis Ordinárias LEI MUNICIPAL Nº 455 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 Autoriza o Município a participar do Consorcio Medicamentos “Autoriza o Município de Curvelândia a participar do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde/Medicamentos e Serviços “CONSUSMT” e a ratificar o Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios de Acorizal; Água Boa; Alta Floresta; Alto Araguaia; Alto Boa Vista; Alto Garças; Alto Paraguai; Alto Taquari; Apiacás; Araguaiana; Araguainha; Araputanga; Arenápolis; Aripuanã; Barão de Melgaço; Barra do Bugres; Barra do Garças; Bom Jesus do Araguaia; Brasnorte; Cáceres; Campinápolis ; Campo Novo do Parecis; Campo Verde; Campos de Júlio; Canabrava do Norte; Canarana; Carlinda; Castanheira; Chapada dos Guimarães; Cláudia; Cocalinho; Colíder; Colniza; Comodoro; Confresa; Conquista d`Oeste; Cotriguaçu; Cuiabá; Curvelândia; Denise; Diamantino; Dom Aquino; Feliz Natal; Figueirópolis D`Oeste; Gaúcha do Norte; General Carneiro; Glória d`Oeste; Guarantã do Norte; Guiratinga; Indiavaí; Ipiranga do Norte; Itanhangá; Itaúba; Itiquira; Jaciara; Jangada; Jauru ; Juara; Juína; Juruena; Juscimeira; Lambari d`Oeste; Lucas do Rio Verde; Luciara; Marcelândia; Matupá; Mirassol D`Oeste; Nobres; Nortelândia; Nossa Senhora do Livramento; Nova Bandeirantes; Nova Brasilândia; Nova Canaã do Norte; Nova Guarita; Nova Lacerda; Nova Marilândia; -

Inventário, Florestais Região De Influência Juruena, Inventário, Valoração Dos Recursos E Dinâmica De Fragmentação Infl
LUCIRENE RODRIGUES INVENTÁRIO, VALORAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS E DINÂMICA DE FRAGMENTAÇÃO NA REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO PARQUE NACIONAL DO JURUENA, MATO GROSSO NOVA XAVANTINA MATO GROSSO – BRASIL 2013 LUCIRENE RODRIGUES INVENTÁRIO, VALORAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS E DINÂMICA DE FRAGMENTAÇÃO NA REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO PARQUE NACIONAL DO JURUENA, MATO GROSSO Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade do Estado de Mato Grosso como requisito parcial à obtenção do título de “Mestre”. Orientador: Dr. Marco Antonio Camillo de Carvalho Co-orientadora: Dra. Célia Regina Araújo Soares Lopes NOVA XAVANTINA MATO GROSSO – BRASIL 2013 504.06 P985i Rodrigues, Lucirene Inventário, valorização dos recursos florestais e dinâmica de fragmentação na região de influência do Parque Nacional do Juruena, Mato Grosso. /Lucirene Rodrigues. - Nova Xavantina: 2013. 92p. : Il.: 30 cm. Orientador: Marco Antonio Camillo de Carvalho Co-orientadora: Célia Regina Araújo Soares Lopes Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Nova Xavantina, 2013. 1. Recursos florestais – Inventário – Assentamento Arumã, MT. 2. Diversidade florestal – Ocupação antrópica – Assentamento Arumã, MT. I. Título. CDU: 504.06 Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Nilva Pereira Silva, CRB – 860, Universidade Federal do Mato Grosso, Centro Universitário do Araguaia, Campus Pontal do Araguaia. ii iii À minha família, que apesar das dificuldades sempre me apoiaram em meus estudos e jamais deixaram de acreditar em meus sonhos. Dedico. iv AGRADECIMENTOS À Deus, por me conceder a vida, saúde, coragem, força e persistência para finalizar mais essa etapa do meu sonho. Por ter me permitido trilhar os caminhos da Ecologia e descobrir um universo extraordinário e apaixonante.