Lendo Jorge De Sena Leitor De Fernando Pessoa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
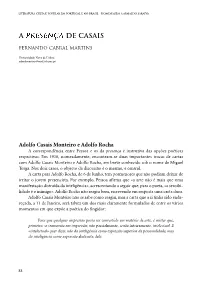
01 Literatura Culta
literatura culta e popular em portugal e no brasil – homenagem a arnaldo saraiva A PRESENÇA DE CASAIS Fernando Cabral Martins Universidade Nova de Lisboa [email protected] Adolfo Casais Monteiro e Adolfo Rocha A correspondência entre Pessoa e os da presença é instrutiva das opções poéticas respectivas. Em 1930, nomeadamente, encontram-se duas importantes trocas de cartas com Adolfo Casais Monteiro e Adolfo Rocha, em breve conhecido sob o nome de Miguel Torga. Nos dois casos, o objecto da discussão é o mesmo, e central. A carta para Adolfo Rocha, de 6 de Junho, tem pormenores que não podiam deixar de irritar o jovem presencista. Por exemplo, Pessoa afirma que «a arte não é mais que uma manifestação distraída da inteligência», acrescentando a seguir que, para o poeta, «a sensibi- lidade é o inimigo». Adolfo Rocha não reagiu bem, escrevendo em resposta uma carta dura. Adolfo Casais Monteiro não se sabe como reagiu, mas a carta que a si tinha sido ende- reçada, a 11 de Janeiro, será talvez um dos mais claramente formulados de entre os vários momentos em que expõe a poética do fingidor: Para que qualquer impressão possa ser convertida em matéria de arte, é mister que, primeiro, se transmute em impressão, não parcialmente, senão inteiramente, intelectual. E «intelectual» quer dizer, não da inteligência como expressão superior da personalidade, mas da inteligência como expressão abstracta dela. 88 I – Relação da Literatura com os e as Artes Adolfo Casais Monteiro e João Gaspar Simões De todo o modo, a relação com Adolfo Casais Monteiro será a mais produtiva de todas as que estabeleceu com os presencistas, até mesmo João Gaspar Simões, que de vários modos é essencial para a sua história (seu interlocutor, crítico, biógrafo, editor). -

34º. Encontro Anual Da ANPOCS Caxambu/MG, 25 a 29 De Outubro
34º. Encontro Anual da ANPOCS Caxambu/MG, 25 a 29 de outubro de 2010 Escritores e cientistas portugueses exilados no Brasil. Cosmopolitismo e identidade nacional (1945-1974) Douglas Mansur da Silva (Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal de Viçosa) Trabalho Apresentado no ST21 – Migrações em trânsito: produção, circulação e consumo em questão 1. Introdução É recente a tendência teórica que tende a realizar análises que tenham em conta as contribuições de migrantes (e de exilados) para a construção de um espaço discursivo cosmopolita como uma perspectiva experiencial, que descreve um modo particular de se relacionar com o mundo que é complementado por – e também concorre com – outros modus vivendis. (SEN et all., 2008; WERBNER, 2008). Os estudos sobre o cosmopolitismo tendem a analisá-lo como um projeto implementado exclusivamente por agentes coletivos supranacionais, o que faz ressaltar o seu aspecto normativo. Neste sentido, o presente texto procura analisar as relações entre cosmopolitismo e identidade nacional na abordagem da temática do exílio presente nas trajetórias, obras e discursos de escritores (Adolfo Casais Monteiro, Jorge de Sena e Vitor Ramos) e cientistas (António Aniceto Monteiro, António Brotas, Alfredo Pereira Gomes, José Morgado e Ruy Luis Gomes) portugueses radicados no Brasil entre 1945 e 1974. A circulação internacional de cientistas e escritores portugueses, exilados durante a vigência do Estado Novo em Portugal, contou com o apoio de redes profissionais, de amizade, de parentesco ou de filiação ideológica no campo da oposição, mas foi também resultado de formas de expulsão do país de origem e de impedimentos à atuação, tanto em Portugal quanto no estrangeiro. -

Adolfo Casais Monteiro E Arnaldo Saraiva in Defense of Brazilian
Eixo Roda, Belo Horizonte, v. 29, n. 3, p. 164-187, 2020 eISSN: 2358-9787 | DOI: 10.17851/2358-9787.29.3.164-187 Em defesa da literatura brasileira em Portugal: Adolfo Casais Monteiro e Arnaldo Saraiva In Defense of Brazilian Literature in Portugal: Adolfo Casais Monteiro and Arnaldo Saraiva Lilian Maria Barbosa Ferrari Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa, Minas Gerais / Brasil [email protected] http://orcid.org/0000-0001-5648-9149 Joelma Santana Siqueira Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa, Minas Gerais / Brasil [email protected] http://orcid.org/0000-0002-1975-887X Resumo: O artigo tem por objetivo discutir trabalhos de Adolfo Casais Monteiro e Arnaldo Saraiva realizados em prol da literatura brasileira e da manutenção das relações culturais entre Brasil e Portugal. Considerou-se a biografia de ambos tendo em conta suas inserções em contextos sociais e históricos específicos. Buscou-se demonstrar a intervenção desses intelectuais em favor da literatura e cultura brasileiras. Realizou-se também um breve levantamento de textos importantes que trataram da contribuição desses intelectuais portugueses para a cultura local. Adolfo Casais Monteiro foi pioneiro no trabalho comparativo entre o Modernismo Brasileiro e o Modernismo Português, o qual, posteriormente, foi desenvolvido por Arnaldo Saraiva, cujo objetivo era o de demonstrar o diálogo mantido entre os autores modernistas brasileiros e portugueses. Destaca-se, por fim, o empenho desses estudiosos, os quais contribuíram para a história da cultura mesmo em momentos difíceis de autoritarismo e de crise das humanidades. Palavras-chave: literatura brasileira em Portugal; relação Brasil-Portugal; Adolfo Casais Monteiro; Arnaldo Saraiva. Abstract: The goal of this paper is to discuss the works of Adolfo Casais Monteiro and Arnaldo Saraiva, dealing especially with those done in support of Brazilian literature and of maintenance of cultural relationship between Brazil and Portugal. -

Salvé Salazar!» Uma Carta De Raul Leal (Henoch) Ao Fundador Do Estado Novo Português
«Salvé Salazar!» Uma carta de Raul Leal (Henoch) ao fundador do Estado Novo português António Almeida* Palavras-chave Raul Leal, António de Oliveira Salazar, correspondência, Sindicalismo Personalista, Guerra Fria, Guerra Colonial Portuguesa. Resumo O prolífico escritor e filósofo Raul Leal (1886-1964) enviou centenas de cartas a algumas das mais destacadas personalidades do seu tempo. Estas cartas são importantes não apenas para compreender o movimento modernista português, mas também dão um testemunho da evolução do génio especulativo deste autor. O rascunho desta carta ao Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar aqui apresentado é um contributo para o estudo das relações e pensamento de um homem singular que, apesar das dificuldades materiais e da incompreensão dos seus contemporâneos, optou por trilhar um caminho individual dedicado ao Espírito. Keywords Raul Leal, António de Oliveira Salazar, correspondence, Sindicalismo Personalista [Personalist Syndicalism], Cold War, Portuguese Colonial War. Abstract The prolific writer and philosopher Raul Leal (1886-1964) sent hundreds of letters to some of the most distinguished personalities of his time. Not only are these letters important for the understanding of the Portuguese modernist movement, but they also provide a testimony of this author’s speculative genius evolution. The draft of this letter to the President of the Council of Ministers, António de Oliveira Salazar presented here is a contribution to the study of the personal interactions and thought of a peculiar individual who, despite serious financial problems and the lack of recognition and understanding shown by his contemporaries, chose to tread an individual path, devoted to the Spirit. * Universidade Nova de Lisboa, Centre for English, Translation and Anglo-Portuguese Studies (CETAPS). -

Considerações Pessoais
O VALOR POÉTICO DA CRÍTICA «A fecundidade da crítica não está no que explica, mas sim no que permite de aproximação entre a obra e o leitor; […]» «Descontínuos com eles próprios, como continuariam alguém ou alguma coisa? Morte da poética, nascimento da poesia. […] aos modernos, ainda os mais inumanos, aos mais desumani- za-dos, sentimo-los próximos, sentimo-los poetas vitalmente, com todo o seu ser, com todo o seu desespero e toda a sua alegria: são homens; […]» «Não é só o problema do poeta, mas também o problema do leitor nos é inviolável.» As linhas em epígrafe foram escritas por Adolfo Casais Monteiro sobre Mário de Sá-Carneiro, num ensaio datado 1929 e 1932, republicado em 1933, na estreia ensaística em livro, pela Imprensa da Universidade de Coimbra. Conside- rações Pessoais é revelador a dois títulos: primeiro, da in- fluência exercida por algumas noções capitais do Romantismo no pensamento contemporâneo, aspecto tanto mais relevante quanto Casais Monteiro foi um dos portugueses mais contem- porâneos ao seu tempo; segundo, da diversidade própria do movimento da presença, aspecto que o próprio Adolfo Casais Monteiro destacou e a que a Imprensa Nacional-Casa da Moe- da já deu o devido destaque nesta edição das Obras Comple- tas. A fim de evitar digressões escusadas num prefácio a uma obra (e não às Obras), comece-se pelo segundo destes aspectos, sumariamente. 9 * Ao reunir textos do final da década de 1920 e de prin- cípio da década de 1930, Considerações é um volume no qual encontramos uma nítida continuidade de pressupostos, conceitos e temas (e autores), sem que a entrada, em 1931, para a segunda direcção da presença, afinal a «definitiva», marque qualquer ruptura. -

A Portuguese Poem for Europe (1945)
DEBATER A EUROPA Periódico do CIEDA e do CEIS20 , em parceria com GPE e a RCE. N.13 julho/dezembro 2015 – Semestral ISSN 1647-6336 Disponível em: http://www.europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/ A Portuguese poem for Europe (1945). The European ideal of Adolfo Casais Monteiro Isabel Baltazar Fellow Research at the Interdisciplinary Research Centre of the twentieth century University of Coimbra - CEIS20 E-mail: [email protected] Abstract As part of this work, we only restrict this analysis to the period immediately before the war, i.e. from 1939, when she prepares to start. We wish to show that the European Union projects, presented with great breath in previous decades as a result of the first world war, were not merely circumstantial. Before the world war still exist these ideas to unite Europe, achieved through the presentation of specific proposals, presented at various levels, not being "utopias" of intellectuals or even isolated politicians who dream of a "Europe whole and free". In the twenty-first century, Europe is still an unfinished work, a "dream unfulfilled." Despite sixty years of European construction, and the actual achievements made, the European project, announced soon after the First World War, and implemented by the "method of small steps” after the second conflict, still remains valid. Europe is still Europe, future dream, as prophetically announced Adolfo Casais Monteiro. Keywords: Europe; Second War; European Construction; Portugal; European Ideal The idea of European unity before the second great war As part of this work, we only restrict this analysis to the period immediately before the war, i.e. -

Imaginary Poets in a Real World (An Unpublished Lecture, 1996)
Imaginary poets in a real world (an unpublished lecture, 1996) George Monteiro* Keywords Adolfo Casais Monteiro, heteronymism, Joyce Carol Oates, Roy Campbell, azulejo, English- language poetry, Benoit van Innis, 8 March 1914. Abstract Delivered on Feb. 8, 1996, at the Rhode Island School of Design, Providence, Rhode Island, this lecture was scheduled in conjunction with a Portuguese-government sponsored exhibition titled “Azulejo: Five Centuries of Portuguese Ceramic Tile.” It served as an introduction for a general audience of non-specialists interested in learning about Fernando Pessoa’s life and work. It surveys the basic facts of the poet’s life: as a young student in English-language schools; his life in Lisbon; his theories and practices of heteronymism, including his account of the advent of those major heteronyms and their poems on March 8, 1914; his unsuccessful attempts to be recognized as a poet in the English tradition by having English-language poems printed in Lisbon but circulated only in the British isles. His peculiar triumph was that of a writer who, because he was bi-lingual and bi-cultural, was able to become a great Portuguese poet. As one critic, who is himself fluent in the English language and conversant with England’s literary traditions, has put it, “[Pessoa] even ‘reinvented’ the Portuguese language, because he knew English.” Palavras-chave Adolfo Casais Monteiro, heteronimismo, Joyce Carol Oates, Roy Campbell, azulejo, poesia em língua inglesa, Benoit van Innis, 8 de Março de 1914. Resumo Apresentada a 8 de Fevereiro de 1996, na Rhode Island School of Design (Escola de Desenho Gráfico de Rhode Island) em Providence, Rhode Island, EUA, esta palestra ocorreu em conjunto com a exposição “Azulejo: Five Centuries of Portuguese Ceramic Tile” (Azulejo: Cinco Séculos de Cerâmica Portuguesa), um evento patrocinado pelo governo português. -

Portuguese Writers and Scientists Exiled in Brazil Exclusion, Cosmopolitanism and Particularism (1945-1974)
Portuguese writers and scientists exiled in Brazil Exclusion, cosmopolitanism and particularism (1945-1974) Douglas Mansur da Silva Social Sciences Department, Universidade Federal de Viçosa Abstract This article analyses the relationship and tensions between cosmopolitan- ism and particularism in the way in which the subject of exile is broached in the life stories, works and ideas of the Portuguese writers Adolfo Casais Monteiro, Jorge de Sena and Vitor Ramos, and scientists Antonio Aniceto Monteiro, Antonio Brotas, Alfredo Pereira Gomes, José Morgado and Ruy Luis Gomes, who lived in Brazil between 1945 and 1974. The careers and ex- periences of these individuals were characterised by a way of relating to the world marked by continuous exclusion from the centres of hegemonic power, as well as by the establishment of connections and networks of varying degrees. In this sense, this article also focuses on the personal and collec- tive trajectories of the characters and how it is related to the boundaries of belonging that they established during their lives. Keywords: Exile; Cosmopolitanism; National Identity; Writers. Scientists; Portuguese. Resumo Este artigo analisa as relações entre cosmopolitismo e particularismos na abordagem da temática do exílio presente nas trajetórias, obras e discursos de escritores (Adolfo Casais Monteiro, Jorge de Sena e Vitor Ramos) e cien- tistas (António Aniceto Monteiro, António Brotas, Alfredo Pereira Gomes, José Morgado e Ruy Luis Gomes) portugueses radicados no Brasil entre 1945 douglas mansur da silva vibrant v.10 n.2 e 1974. A circulação internacional de cientistas e escritores portugueses, exilados durante a vigência do Estado Novo em Portugal, contou com o apoio de redes profissionais, de amizade, de parentesco ou de filiação ideológica no campo da oposição, mas foi também resultado de formas de expulsão do país de origem e de impedimentos à atuação, tanto em Portugal quanto no estrangeiro. -

O Particular E O Cultural Nas Cartas De Casais Monteiro E Ribeiro Couto
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros ISSN: 0020-3874 ISSN: 2316-901X Instituto de Estudos Brasileiros Para além das fronteiras: o particular e o cultural nas cartas de Casais Monteiro e Ribeiro Couto Abreu, Mirhiane Mendes de Para além das fronteiras: o particular e o cultural nas cartas de Casais Monteiro e Ribeiro Couto Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, núm. 67, 2017 Instituto de Estudos Brasileiros Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=405652965011 PDF gerado a partir de XML Redalyc JATS4R Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa acesso aberto Para além das fronteiras: o particular e o cultural nas cartas de Casais Monteiro e Ribeiro Couto Beyond the frontiers: the particular and the cultural in the letters of Casais Monteiro and Ribeiro Couto Mirhiane Mendes de Abreu Universidade Federal de São Paulo, Brazil Mirhiane Mendes de Abreu. Para além das fronteiras: o particular e o cultural nas cartas de Casais Monteiro e Ribeiro Couto Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, núm. 67, 2017 Instituto de Estudos Brasileiros Adolfo Casais Monteiro (1898-1963) e Rui Ribeiro Couto DOI: 10.11606/ (1908-1972) corresponderam-se por décadas. O acesso a esse diálogo está issn.2316-901X.v0i67p222-228 hoje disponível graças à organização de Rui Moreira Leite, que percorreu diversos arquivos pessoais para oferecer ao público a sustentação de uma profícua amizade, registrada em 125 documentos produzidos entre 22 de junho de 1931 e 30 de maio de 1962. A esse conjunto, anexou ainda dois documentos de Ribeiro Couto (um ofício encaminhado ao Serviço de Cooperação Internacional do Itamaraty e uma carta passiva de Múcio Leão), uma entrevista de Casais Monteiro à revista portuguesa Árvore, um discurso não proferido de Cecília Meireles por ocasião de conturbada premiação pela Academia Brasileira de Letras e reproduções fac-similares de várias imagens de livros com dedicatórias de um ao outro e também a terceiros. -

Petrus O Mais Excentrico Dos Pessoanos
Petrus, o Mais Excêntrico dos Pessoanos Ricardo Belo de Morais Keywords Fernando Pessoa, Pedro Veiga, Petrus. Abstract Among the many referenced and revered academics who first started to research and publish the written work of Fernando Pessoa, one name tends to be cornered between oblivion and distrust: Petrus. Under this pseudonym, throughout the decades of 1950 and 1960, the eccentric Portuguese lawyer, translator, writer and publisher from Oporto, Pedro Veiga, issued more than 80 books and publications, most of them anthologies dedicated to reboot and divulge the work and mindset of Fernando Pessoa and his heteronyms. Palavras-chave Fernando Pessoa, Pedro Veiga, Petrus. Resumo Por entre os mais citados e referenciados investigadores pessoanos da “primeira geração”, um nome teima em ficar remetido a um quase esquecimento: Petrus. Com este pseudónimo, ao longo das décadas de 1950 e 1960, o excêntrico advogado, tradutor, escritor e editor do Porto, Pedro Veiga, editou mais de 80 livros, monografias e panfletos, na sua maior parte dedicados a antologiar e divulgar a obra e o pensamento de Fernando Pessoa e seus heterónimos. Casa Fernando Pessoa. Editor d’ O Meu Pessoa: http://omeupessoa.wordpress.com. Morais Petrus Fig. 1. Ex Libris de Pedro Veiga.1 1 O autor agradece a colaboração da Câmara Municipal do Porto (Pelouro da Cultura e Divisão de Toponímia), dos juristas Luis Miguel Antunes e António Câmara, da jornalista Anabela Mota Ribeiro (pela autorização de utilização de excertos da sua entrevista a Miguel Veiga) e da equipa da Biblioteca da Casa Fernando Pessoa (José Correia, Teresa Afonso e Ana Maria Santos). Pessoa Plural: 5 (P./Spring 2014) 89 Morais Petrus Adolfo Casais Monteiro e João Gaspar Simões dispensam apresentações no universo pessoano. -

Adolfo Casais Monteiro, Jorge De Sena E Vítor Ramos (1954-1974)
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA FÁBIO RUELA DE OLIVEIRA TRAJETÓRIAS INTELECTUAIS NO EXÍLIO: ADOLFO CASAIS MONTEIRO, JORGE DE SENA E VÍTOR RAMOS (1954-1974) NITERÓI/RJ 2010 1 FÁBIO RUELA DE OLIVEIRA TRAJETÓRIAS INTELECTUAIS NO EXÍLIO: ADOLFO CASAIS MONTEIRO, JORGE DE SENA E VÍTOR RAMOS (1954-1974) Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para a obtenção do Grau de Doutor em História. Orientadora: Profª. Drª. ADRIANA FACINA NITERÓI/RJ 2010 2 Folha de Para Ângela e nossa filha Luiza 3 Sumário Introdução ................................................................................. 09 1. Trajetórias Intelectuais no Século XX: As presenças de Adolfo Casais Monteiro, Jorge de Sena e Vítor Ramos – Biografia, História e Literatura................................................................... 21 1.1. Adolfo Casais Monteiro................................................ 27 1.2. Jorge de Sena.............................................................. 37 1.3. Vítor Ramos................................................................ 54 2. O Salazarismo e a Oposição no Brasil: a militância de Monteiro, Sena e Ramos no Portugal Democrático – Exílio e Política........... 64 2.1. O salazarismo................................................................... 67 2.2. A oposição antissalazarista no Brasil................................ 78 2.3. Os artigos de Vítor Ramos no -

Plano Geral Da Obra
4 PLANO GERAL DA OBRA ÉPOCA MODERNA – DE 1900 A 1950 CAPÍTULO I O SÉCULO XX – CONTEXTOS POLÍTICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DOS MODERNISMOS; A LITERATURA PORTUGUESA NOS INÍCIOS DO SÉCULO 11 Saudosistas e nacionalistas 14 Teixeira de Pascoaes e o Saudosismo 15 O Saudosismo 15 A Águia, revista do movimento saudosista 16 A poesia de Teixeira de Pascoaes 18 Outros poetas na órbita do Saudosismo e do nacionalismo 19 Afonso Duarte 19 Outros 20 Prosa e teatro decadentista e Simbolista 21 Raul Brandão 22 António Patrício 30 CAPÍTULO II A GERAÇÃO DA I REPÚBLICA 35 Aquilino Ribeiro 36 Florbela Espanca 42 Outros romancistas e dramaturgos (breve notícia) 45 5 CAPÍTULO III O(S) MODERNISMO(S) 47 A. Revistas literárias – a Orpheu 48 O(s) Modernismo(s) 51 B. Fernando Pessoa: vida e obra 53 1. Fernando Pessoa ortónimo 67 1.1. A poesia lírica do Cancioneiro 67 1.2. A poesia épico-lírica de Mensagem 79 2. Os Heterónimos principais 2.1 Alberto Caeiro,«o Mestre» e «Argonauta das sensações verdadeiras» 92 2.2.Ricardo Reis, «o epicurista triste» 98 2.3 Álvaro de Campos, o «filho indisciplinado da sensação» 107 2.4 O semi-heterónino Bernardo Soares, o «do desassossego» 121 3. Diversidade e unidade em Fernando Pessoa 128 CAPÍTULO IV OUTROS DA ORPHEU Mário de Sá-Carneiro: vida e obra 135 Temática 137 José de Almada Negreiros: vida e obra 144 Outros de Orpheu e afins: Ângelo de Lima 150 António Botto 154 CAPÍTULO V O 2.º MODERNISMO – A PRESENÇA 157 O que se deve à Presença – Um olhar crítico sobre a Presença 159 Alguns autores presencistas: 160 José Régio 160 Miguel