Linguagem E Letramento Na Inclusão Digital
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Laupäev / Saturday 17.10.2020 RING 1 Kohtunik / Judge: Anne Klaas, Eesti
Laupäev / Saturday 17.10.2020 RING 1 Kohtunik / Judge: Anne Klaas, Eesti BOSTONI TERJER / BOSTON TERRIER (140) kell / time 10:00 ISASED BEEBIKLASS / DOGS BABY CLASS 1 BOKS-BEST SAIZ KEEP SMILING BRUNO EST-02409/20 978101082406629 sünd 30.04.2020 i CANMOY'S BOSTON LET'S ROCK e CANMOY'S BOSTON CELEBRATION kasv Klarissa Orgusaar & Igor Orgusaar, Eesti om Eveli Mäepalu, Eesti EMASED AVAKLASS / BITCHES OPEN CLASS 2 HAZEL APHRODITE EST JCH LTU JCH EST-04069/19 982126054683815 sünd 23.11.2018 i ARCUS MANO AREKA e MATERA'S UBI A STAR kasv J Jevtichova, United Kingdom om Jelena Aleksejeva, Eesti CHIHUAHUA, PIKAKARVALINE / CHIHUAHUA, LONG-HAIRED (218) kell / time 10:00 ISASED JUUNIORIKLASS / DOGS JUNIOR CLASS 3 AMIROYAL VERSAL II EST-03213/20 643094100627616 sünd 15.06.2019 i AMIROYAL IN LOVE e LYUPRI J'AI DE LA CHANCE kasv N.A. Kanaeva, Russia om Svetlana Araslanova, Eesti 4 VINZENTA TEMI ORLANDO BLOOM EST-03394/19 978101082606977 sünd 10.06.2019 i PHILFORT HARLEI HELIOS e VINZENTA TEMI LESEDY LA RONA kasv Irene Montvila, Eesti om Irene Montvila & Valentina Voropai, Eesti ISASED AVAKLASS / DOGS OPEN CLASS 5 YUZHNIY ANGEL BILLY BOS RKF5473600 643094100636417 sünd 09.10.2018 i VARTTAVO BOMBEY e YUZHNIY ANGEL GRACE KELLI kasv Anastasia Popandupolo, Russia om Anastasia Popandupolo, Russia EMASED JUUNIORIKLASS / BITCHES JUNIOR CLASS 6 RUTA DEL SOL DALI DIAMOND EST JCH EST-00565/20 991001003083380 sünd 21.11.2019 i OBAMA DES ETOILES D’ARTEMIS e RUTA DEL SOL DIAMOND ARE FOREVER kasv Jaana Vahter, Eesti om Jaana Vahter, Eesti EMASED NOORTEKLASS / BITCHES -

De Garagemannen Van 'Pimp My Ride'
De MTV-tv-serie ‘Pimp My Ride’, over het omtoveren van oude roestige auto’s in glimmende pooierbakken, maakte ‘pimpen’ tot een trend. Huizen, fietsen, dieren, mensen, alles wordt tegenwoordig gepimpt – luxe opgekalefaterd. Maar de mensen in de originele ‘Pimp My Ride’-garage, West Coast Customs in Los Angeles, willen niet meer op MTV. Ze vertellen aan Freek Staps waarom ISH: Ik ben nu acteur, man Foto’s Claudia van Roudendal UITGEPIMPT: Deel van de crew van de garage WestCoast Customs in Los Angeles,bij een ‘gepimpte' wagen: ‘Teleurgesteld’. Foto Patrik Giardino/ Corbis SEAN: Ik weet niet of dit programma goed was voor ons. Ik laste, maar je zag mij nooit De garagemannen van ‘Pimp My Ride’ willen geen auto’s meer pimpen voor MTV aan het einde van het jaar die loonsver- nog een beroemdheid kende die de boel Alleen aan die laatste kostenpost wist probeerden er wel iets moois en veiligs de garage. hoging eindelijk doorkomt) toch echt gratis aan elkaar wilde praten? Nou, nee hij een mouw te passen: fabrikanten van van te maken. Maar het waren barrels, Haus: „De mannen die wel werkten eens de bekleding van de stoelen te ruk- dus.” Maar de inmiddels dertigjarige geluidsboxen zo groot als automoto- man, big pieces of shit, echt waar. Maar kregen geen waardering van buiten- ken en er massagemotortjes onder te in- Haus gelooft in risico’s nemen. Daarom ren, van schuifdaken van zwart suède wat kun je doen in een paar dagen?” staanders. Ik was ze de hele dag maar RYAN HAUS: We probeerden er iets stalleren zodat het cruisen door de stad, maakte hij zijn middelbare school niet en van gele en rode verf, ideaal voor wil- De kijker ervaart de serie als een aan- schouderklopjes aan het geven.” moois en veiligs van te maken over de snelweg of langs het strand nog af, daarom begon hij een eigen bedrijf de vlammen op de zijkant van de auto, eenschakeling van grappen en grollen. -

Our Attorneys
Our Attorneys JAY TAYLOR [email protected] Jay Taylor is the Managing Partner of Taylor Louis LLP. He specializes in business and finance transactions, including structured finance and derivatives, broker-dealer transactions, project finance and complex business deals and structures. His overall expertise is reducing financial risk across a variety of complex transactions and business arrangements. He has approximately 20 years of experience reviewing, drafting, and negotiating structured trading deals and derivatives and project finance documentation. His expertise includes corporate and financial deals and security arrangements for all transaction types. He advises start-up enterprises and middle-market participants in basic and complex financial documentation and risk management issues. Mr. Taylor has represented a global client base which includes some of the world's largest corporations, energy companies, hedge funds and investment banks. His knowledge of financial transactions and products includes credit, equity, commodity, fixed income, currency and futures and options. He understands the actual and theoretical framework of financial risk management. Mr. Taylor has represented clients in a variety of domestic and international deals in his role as Special Counsel for one of the world's largest law firms, where he served as the firm's key point person for training and instruction in the area of financial derivatives and transactional matters. He has formed and advised several start-up enterprises, managed a multi-national transactional risk management project for a global international bank, led a legal risk assessment team for one of the world's largest hedge funds and served as lead commodities lawyer in the U.S. -

Pimp My Ride: Mapping Vernacular Creativity in an Industrial City Andrew T
University of Wollongong Research Online Faculty of Social Sciences - Papers Faculty of Social Sciences 2013 Pimp My Ride: mapping vernacular creativity in an industrial city Andrew T. Warren University of Wollongong, [email protected] Publication Details Warren, A. (2013). Pimp My Ride: mapping vernacular creativity in an industrial city. In L. Andersen & M. Malone (Eds.), All Culture is Local: Good practice in regional cultural mapping and planning from local government (pp. 42-47). Sydney, Australia: UTS epress. Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] Pimp My Ride: mapping vernacular creativity in an industrial city Abstract This case study reveals how a researcher mapped a creative industry sector - custom car designing in Wollongong - and made it 'visible'. It outlines a process of responsive engagement with youth that revealed a skilled and economic scene that challenges standard conceptions of artistic expression. 'Cruising' with youth and plotting their sites of activity using Google Maps identified an extensive, largely overlooked market and encouraged a renewed discussion about what constituted the city's creative strengths and assets. Keywords my, pimp, ride, mapping, city, vernacular, creativity, industrial Disciplines Education | Social and Behavioral Sciences Publication Details Warren, A. (2013). Pimp My Ride: mapping vernacular creativity in an industrial city. In L. Andersen & M. Malone (Eds.), All Culture is Local: Good practice in regional cultural mapping and planning from local government (pp. 42-47). Sydney, Australia: UTS epress. This book chapter is available at Research Online: http://ro.uow.edu.au/sspapers/2275 CASE STUDY 07 This case study reveals how a researcher mapped Wollongong City Council a creative industry sector – custom car designing in Wollongong – and made it ‘visible’. -

Reality TV and the Reinvention of Britishness
From Making Do to Making-Over: Reality TV and the Reinvention of Britishness RACHEL JENNINGS O YOU LIVE IN TRACK SUITS TO CONCEAL YOUR SAGGY TITS AND big bum? Do not despair—you can still go to the ball. If you Dare brave enough to face those scary godmothers Trinny and Susannah, they will tell you in no uncertain terms What Not to Wear. Do you suspect your garden may have inspired T. S. Eliot to write The Wasteland? No fear. The matey experts from Ground Force can transform it into a pastoral idyll in two days. Has your pokey, gloomy British house been stagnating on the market? Perhaps you need the infamous House Doctor to breeze through and eradicate both your personal history and personality with a few cans of magnolia. A significant proportion of British reality TV is in the makeover line, involving the rapid transformation of some facet of a person’s lifestyle through a process that blends fairytale themes with religious ritual. The subject (or victim) on each episode is a Cinderella character (hereafter referred to collectively as ‘‘Cindy,’’ whether an individual, couple, or family unit) who relinquishes existential responsibility and personal power to one or more authority figures. These fairy god- mothers (of both sexes) navigate Cindy through a battle to give up the past leading to her rebirth, frequently on the third or seventh day. It is easy to comprehend why makeover shows are a hit in the United States—they slot neatly into the American dream of con- stant reinvention of the self, played out on a moving frontier. -
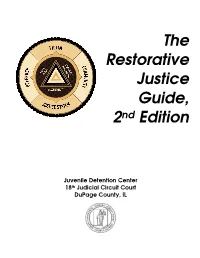
The Restorative Justice Guide, 2Nd Edition
The Restorative Justice Guide, 2nd Edition Juvenile Detention Center 18th Judicial Circuit Court DuPage County, IL 1 . WHAT IS RESTORATIVE JUSTICE? In the dictionary, restore means to bring back to a former or original condition or to give back: return. This is different from retribution, which means a suitable return, esp. punishment, for what one has done. Our current criminal justice system is based on a retribution system. Restorative Justice seeks to identify crime as a break in relationships: to self, to family, to neighborhood, to community, and to the nation and society in general. Instead of retribution, Restorative Justice seeks to restore those relationships which have been broken due to crime or other inappropriate behaviors. There is a lot of restoration going on in our society and community. For example, certain old buildings, which have been determined to have historical or artistic value, are protected. The owners may not tear them down. Instead they are encouraged to fix them up and bring them back to their original condition. While some have said that we live in a throw away society (What does that mean to you?), some things are too valuable to just throw away. A very valuable American Girl doll or 1956 T-bird certainly are worth making new again! Even if you just casually channel surf on TV, you will find shows that focus on restoring things, or bringing them back to their original condition. HGTV, TLC, The Discovery Channel and PBS have shows like “This Old House”, “While You Were Out,” “Trading Spaces,” and “Pimp My Ride” which focus on fixing rooms, furniture, buildings, and cars. -
New Development Causes Tiger Point Flooding
A W A R D ● W I N N I 11BB N G 50¢ YOUR COMMUNITY NEWSPAPER September 21, 2006 Residents: new development Gazebos added to causes Tiger Point flooding Wayside Park East Page A4 BY FRANKLIN HAYES Gulf Breeze News Inside in [email protected] Ganges Trail, Tiger Point res- idents would have been better off taking a canoe to work on PAGE Tuesday, Aug. 12 as overnight 1B rainfall left two feet of standing water in their neighborhood. ■ At 7:15 a.m., Midway Fire Bubba’s name in District emergency responders lights arrived on scene with their res- ■ PBOC installs cue boat in tow to assist three motorists stranded in the flood- new officers ed roadway. Rescue workers ■ Casting Nets ferried motorists from their vehicles to dry land with their fire truck and closed Ganges Trail and portions of Tiger Point Boulevard to traffic until the water receded about an hour later. Although flooding was on WEEKEND a much smaller scale, some res- Weather idents compared the situation to THURSDAY 9/21 the 100-year flood event during Partly Cloudy the spring of 2005 that dumped O more than 20 inches of rain in Karen Murphy/Gulf Breeze News high 84 the Gulf Breeze area in two O Midway Fire District rescue workers respond to emergency calls from Tiger Point residents Sept. 12. Overnight rainfall flood- low 70 weeks. Midway Fire Chief ed yards and left roadways impassable. Stephen Demeter said the water FRIDAY 9/22 level seemed higher than it did a that the standing water drained a torrent of pointed emails and residents. -

10 Shake Jan 17
Firefox http://prtten04.networkten.com.au:7778/pls/DWHPROD/Program_Repor... SYDNEY PROGRAM GUIDE Sunday 17th January 2021 06:00 am Bubble Guppies (Rpt) G Bubble Puppy Gil wants to adopt a puppy! But before he can bring the puppy home, the Bubble Guppies must learn how to take care of pets. 06:30 am Blaze And The Monster Machines (Rpt) G Blaze Of Glory Part 2 Blaze and AJ must find their Monster Machines friends and get back to the race using Blaze's blazing speed engine before Crusher wins and get the Monster Machine World Championship trophy. 07:00 am Blaze And The Monster Machines (Rpt) G The Driving Force When Starla the friendly cowgirl truck loses one of her pistons in the mud pit, Blaze and AJ set out to get it back. But they'll have to hurry before Crusher gets his greedy tyres on it! 07:30 am Paw Patrol (Rpt) G Pups And The Big Freeze / Pups Save A Basketball Game An ice storm causes trouble all over Adventure Bay. The PAW Patrol races to the rescue! Marshall is nervous about playing when Mayor Goodway challenges Mayor Humdinger's basketball team to a game. 07:56 am Shake Takes 08:00 am Paw Patrol (Rpt) G Pups Save An Ace / Pups Save A Wedding Famous stunt pilot Ace runs into engine trouble, and the PAW Patrol must save her so the air show can go on! The pups help Farmer Yumi prepare for her wedding day after a storm blows her barn apart. 08:30 am SpongeBob SquarePants (Rpt) G Keep Bikini Bottom Beautiful/a Pal For Gary Squidward cleans up the city of Bikini Bottom with "help" from SpongeBob. -

Beyond the Grecian Urn: the Teacher As a Writing Model
3 Beyond the Grecian Urn: The Teacher as a Writing Model esterday got off to a bad start. I was about to sit down for my morning bowl of cereal when I opened the refrigerator and found an unpleasant Ysurprise. Overnight, the refrigerator’s thermostat had gone haywire and all of my breakfast staples—milk, orange juice, strawberries—had frozen solid. When the repairman arrived this morning, he was accompanied by a trainee. As the experienced repairman diagnosed the problem and fixed the thermostat, he stopped and demonstrated each step of that process to the rookie. I later learned that this was not the trainee’s first day. Before being sent into the field, he had taken a basic training class. Having passed the class, he was now spending six weeks in the field learning firsthand from an experi- enced repairman before being allowed to answer calls on his own. After the refrigerator was repaired, my wife, Kristin, and I went to a local restaurant for lunch. When the waitress took our order, we noticed that another waitress was shadowing her. It turns out that the waitress who greeted us was experienced, and she was training the new hire how to properly take an order. Over a week’s time, the new waitress would gradually take over. 47 Teaching Adolescent Writers by Kelly Gallagher. Copyright © 2006. Stenhouse Publishers. All rights reserved. No reproduction without written permission from publisher. While eating lunch, Kristin, a freelance writer who regularly writes for a large automaker’s in-house magazine, told me she was writing an article on what it takes to become an auto mechanic. -

MTV: Reposicionamento De Um Canal De Tevê Segmentado
Universidade Federal do Rio de Janeiro Centro de Filosofia e Ciências Humanas Escola de Comunicação MTV: reposicionamento de um canal de tevê segmentado Eduardo Dias Loureiro Rio de Janeiro 2007 Universidade Federal do Rio de Janeiro Centro de Filosofia e Ciências Humanas Escola de Comunicação MTV: reposicionamento de um canal de tevê segmentado Monografia apresentada ao corpo docente da Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos para a obtenção do diploma de Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda. Eduardo Dias Loureiro Orientador: Prof. Marcelo H. N. Serpa, M. Sc. Rio de Janeiro 2007 Loureiro, Eduardo Dias. MTV: reposicionamento de um canal de tevê segmentado, Rio de Janeiro:ECO/UFRJ, 2007. 61 f.: il. Monografia (Graduação em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação. Orientador: Marcelo Helvecio Navarro Serpa 1. MTV. 2. Reposicionamento. 3. Marca. – Monografias. I. Serpa, Marcelo Helvecio Navarro (Orient.). II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Comunicação. III. Monografia ECO. IV. Título. Universidade Federal do Rio de Janeiro Centro de Filosofia e Ciências Humanas Escola de Comunicação MTV: reposicionamento de um canal de tevê segmentado Monografia apresentada ao corpo docente da Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos para a obtenção do diploma de Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda. Eduardo Dias Loureiro ________________________________________ Prof. Marcelo Serpa ________________________________________ Prof. Luiz Sólon ________________________________________ Prof. Paulo César Castro Rio de Janeiro, de dezembro de 2007 Nota: LOUREIRO, Eduardo Dias, MTV: reposicionamento de um canal de tevê segmentado. -

10 Shake Feb 28
Firefox http://prtten04.networkten.com.au:7778/pls/DWHPROD/Program_Repor... SYDNEY PROGRAM GUIDE Sunday 28th February 2021 06:00 am Bubble Guppies (Rpt) G Have A Cow! With an oink, oink here and a moo, moo there, the Bubble Guppies learn all about farm animals, and discover that a lot of their favourite foods come from a farm too! 06:30 am Blue's Clues & You (Rpt) G Meet Josh! Something is missing from Blue's snack, so we play Blue's Clues with our new host, Josh, to find out what it is. With a little help from our old friends, Steve and Joe. 07:00 am Blaze And The Monster Machines (Rpt) G Runaway Rocket When Crusher tries to cheat at a carnival game, he accidentally strands himself and Pickle on a giant rocket! Now it's up to Blaze and AJ to rescue the trucks before their runaway rocket crashes. 07:30 am Paw Patrol (Rpt) G Pup-Fu! The pups are learning the ancient art of Pup-Fu! They'll need it to get back Sensei Farmer Yumi's ancient martial arts scroll after the Catastrophe Crew use their Cat-Jitsu skills to steal it! 07:56 am Shake Takes 08:00 am Paw Patrol (Rpt) G Pups Save The Mayor's Race / Pups Save An Outlaw's Loot The mayors compete in an annual race, but Mayor Humdinger's scheming lands him in trouble. Then, the pups try to find a treasure chest before Mayor Humdinger can get his greedy paws on it! 08:30 am SpongeBob SquarePants (Rpt) G License To Milkshake / Squid Baby SpongeBob learns his milkshake license has expired and is forced to go back to the milkshake academy. -

Télécharger L'article En Pdf
Tune ma caisse ! http://fr.wikipedia.org/wiki/Pimp_My_Ride Voici une séquence de français « qui a marché du tonnerre » pour les élèves de carrosserie et mécanique du CEFA (Centre d'Education et de Formation en Alternance). Elle est transférable à des options de l'enseignement professionnel ou technique, option électromécanique par exemple. J'en ai eu l'idée en entendant de nombreux jeunes expliquer que c'était l'émission « Pimp my ride » qui leur avait donné envie de travailler « dans les voitures ». 1. Connais-tu cette personne ? a) Ecris ici tout ce que tu sais à son sujet (mots ou phrases) : . b) Mise en commun 1 1 Mise en commun orale. Le professeur note les mots clés au tableau : rappeur, animateur de « Pimp my ride »… sans trop se soucier de leur véracité. La biographie de Xzibit (c'est son nom) sera abordée plus tard. En fonction de leur niveau, les élèves rédigent une synthèse seul, à deux (évaluation formative possible), ou alors on l’écrit tous ensemble (le prof prend note au tableau et les élèves recopient ensuite). 2 2. Examine ce document. http://www.staragora.com/star/xzibit/biographie Question 1. A ton avis, comment me suis-je procuré ce document ? Observons-le. Question 2. Qu’est-ce qu’une biographie ? . Question 3. Dans le texte, souligne : - en vert tous les lieux (villes, pays…) cités - en bleu toutes les façons de désigner Xzibit dans ce texte. Ensemble, regroupons ces mots par catégories. Que constate-t-on du point de vue de l'orthographe ? Question 4. Essaie de répondre aux questions suivantes sans regarder le texte.