Sem Título-1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lombada Eletrônica Quarta-Feira, 21 De Novembro De 2018 Localização Dos Equipamentos Velocidade Horário De Permitida Funcionamento
Lombada eletrônica quarta-feira, 21 de novembro de 2018 Localização dos equipamentos Velocidade Horário de permitida funcionamento AVENIDA ALFREDO BALTHAZAR DA SILVEIRA, PROXIMO AO TERMINAL RECREIO BRT - SENTIDO 40 24 HORAS AVENIDA DAS AMERICAS AVENIDA HORACIO DE MACEDO, PROXIMO AO Nº 450 - NOS DOIS SENTIDOS 50 6H AS 22H AVENIDA HORACIO DE MACEDO, PROXIMO AO PREDIO DE LETRAS - NOS DOIS SENTIDOS 50 6H AS 22H AVENIDA LUCIO COSTA, KM 10,2 - NOS DOIS SENTIDOS 60 24 HORAS AVENIDA LUCIO COSTA, KM 12,7 - NOS DOIS SENTIDOS 60 24 HORAS AVENIDA LUCIO COSTA, KM 6,5 - NOS DOIS SENTIDOS 60 24 HORAS AVENIDA LUCIO COSTA, KM 7,8 - NOS DOIS SENTIDOS 60 24 HORAS AVENIDA LUCIO COSTA, KM 8,6 - NOS DOIS SENTIDOS 60 24 HORAS AVENIDA LUCIO COSTA, KM 9,6 - NOS DOIS SENTIDOS 60 24 HORAS AVENIDA MARECHAL FONTENELLE, PROXIMO AO Nº 2906 - SENTIDO REALENGO 60 24 HORAS AVENIDA MENEZES CORTES, PROXIMO AO HOSPITAL CARDOSO FONTES - NOS DOIS SENTIDOS 50 24 HORAS AVENIDA NIEMEYER, PROXIMO AO Nº 750 - SENTIDO ROCINHA 40 6H AS 22H AVENIDA PARANAPUA, PROXIMO AO Nº 174 - NOS DOIS SENTIDOS 40 6H AS 22H AVENIDA PASTEUR, PROXIMO AO Nº 296 - SENTIDO PRAIA VERMELHA 40 6H AS 22H AVENIDA PASTEUR, PROXIMO AO Nº 333 - SENTIDO PRAIA DE BOTAFOGO 40 6H AS 22H AVENIDA PAULO DE FRONTIN, PROXIMO AO Nº 742 - SENTIDO TUNEL REBOUCAS 50 24 HORAS AVENIDA PAULO DE FRONTIN, PROXIMO AO Nº 763 - SENTIDO CIDADE NOVA 50 24 HORAS AVENIDA SALVADOR ALLENDE, PROXIMO AO TERMINAL RECREIO BRT - SENTIDO PRAIA 40 24 HORAS AVENIDA TENENTE CORONEL MUNIZ DE ARAGAO, EM FRENTE AO Nº 898 - NOS DOIS SENTIDOS 40 6H -

Anexo Vii Índice De Aproveitamento De Terreno
ANEXO VII ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DE TERRENO – IAT Macrozona de Bairros Observações Índice de Ocupação Aproveitamento de Terreno Centro - AC-1 Na AEIU do Porto ficam 5,0 mantidos os índices da LC 101/09 INCENTIVADA Saúde Na AEIU do Porto ficam Gamboa mantidos os índices da Santo Cristo LC 101/09 Caju 2,0 Av. Brasil 4,0 Catumbi 2,5 Estácio 2,5 Rio Comprido 2,5 Cidade Nova 11 São Cristóvão Na AEIU do Porto ficam mantidos os índices da Mantidos os índices da LC 101/09 LC 73/2004 Mangueira Benfica Vasco da Gama Praça da Bandeira 3,5 Tijuca 3,5 Maracanã 4,0 Vila Isabel 4,0 Andaraí 4,0 Grajaú 3,0 Manguinhos 1,5 Av. Brasil 4,0 Bonsucesso 3,0 Ramos 3,0 Olaria 3,0 Penha 4,0 Penha Circular 4,0 Brás de Pina 4,0 Higienópolis 3,0 Maria da Graça 3,0 Del Castilho 3,0 Inhaúma 3,0 Engenho da Rainha 3,0 Macrozona de Bairros Observações Índice de Ocupação Aproveitamento de Terreno Tomás Coelho 3,0 Jacaré 1,5 INCENTIVADA S.Francisco Xavier 3,0 Rocha 3,0 Riachuelo 3,0 Sampaio 3,0 Engenho Novo 3,0 Lins de Vasconcelos 3,5 Méier 3,5 Cachambi 3,5 Todos os Santos 3,5 Engenho de Dentro 3,0 Encantado 3,0 Abolição 3,0 Pilares 3,0 Água Santa 3,0 Piedade 3,0 Vila Kosmos 3,0 Vicente de Carvalho 3,0 Vila da Penha 3,0 Vista Alegre 3,0 Irajá 3,0 Rodovia Presidente Dutra 4,0 e Av. -

Relação De Postos De Vacinação
SUBPAV/SVS COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES RELAÇÃO DE POSTOS DE VACINAÇÃO CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-INFLUENZA 2014 PERÍODO DE 22.04 A 09.05 (2a a 6a feira - SEMANA) N RA POSTO DE VACINAÇÃO ENDEREÇO BAIRRO 1 I CMS JOSÉ MESSIAS DO CARMO RUA WALDEMAR DUTRA 55 SANTO CRISTO 2 I CMS FERNANDO ANTONIO BRAGA LOPES RUA CARLOS SEIDL 1141 CAJÚ 3 II CMS OSWALDO CRUZ RUA HENRIQUE VALADARES 151 CENTRO 4 II CEVAA RUA EVARISTO DA VEIGA 16 CENTRO 5 II PSF LAPA RUA RIACHUELO 43 CENTRO 6 III CMS MARCOLINO CANDAU RUA LAURA DE ARAÚJO 36 CIDADE NOVA 7 III HOSPITAL MUNICIPAL SALLES NETTO PÇA. CONDESSA PAULO DE FRONTIN 52 ESTÁCIO 8 III HOSPITAL CENTRAL DA AERONAUTICA RUA BARÃO DE ITAPAGIBE 167 RIO COMPRIDO 9 III CF SÉRGIO VIEIRA DE MELLO AVENIDA 31 DE MARÇO S/Nº CATUMBI 10 III PSF TURANO RUA AURELIANO PORTUGAL 289 TURANO 11 VII CMS ERNESTO ZEFERINO TIBAU JR. AVENIDA DO EXÉRCITO 01 SÃO CRISTOVÃO 12 VII CF DONA ZICA RUA JOÃO RODRIGUES 43 MANGUEIRA 13 VII IBEX RUA FRANCISCO MANOEL 102 - TRIAGEM BENFICA 14 XXI UISMAV RUA BOM JESUS 40 PAQUETÁ 15 XXIII CMS ERNANI AGRÍCOLA RUA CONSTANTE JARDIM 06 SANTA TERESA 16 IV CMS DOM HELDER CAMARA RUA VOLUNTÁRIOS DA PATRIA, 136 BOTAFOGO 17 IV HOSPITAL ROCHA MAIA RUA GENERAL SEVERIANO, 91 BOTAFOGO 18 IV CMS MANOEL JOSE FERREIRA RUA SILVEIRA MARTINS, 161 CATETE 19 IV CMS SANTA MARTA RUA SÃO CLEMENTE, 312 BOTAFOGO 20 V CF PAVÃO PAVÃOZINHO CANTAGALO RUA SAINT ROMAN, 172 COPACABANA 21 V CMS CHAPEU MANGUEIRA E BABILONIA RUA SÃO FRANCISCO, 5 LEME 22 V CMS JOAO BARROS BARRETO RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/Nº COPACABANA 23 VI -

Diagrama De Linhas
Plat. 2 Praça da Bandeira Plat. 8 São Cristóvão Maracanã Mangueira/Jamelão Plat. 11 São Francisco Xavier Central do Brasil Riachuelo Plat. 12 Sampaio Engenho Novo Méier Legenda Estação Olímpica de Triagem Engenho de Dentro Silva Freire Piedade Estação terminal Jacarezinho Final station | Estación final Legend | Descripción escrita Quintino Integração BRT Del Castilho BRT integration | Conexión BRT Cascadura Manguinhos Pilares Madureira Bonsucesso Tomás Coelho Oswaldo Cruz Transferência entre ramais Transfer between lines Cavalcanti Prefeito Bento Ribeiro Transferencia entre líneas Ramos Mercadão Integração metrô Marechal Hermes Subway integration | Conexión metro Olaria de Madureira Deodoro Rocha Miranda Penha Honório Gurgel Penha Circular Vila Militar Magalhães Brás de Pina Barros Filho Bicicletário Bastos Bike rack | Bicicletero Cordovil Costa Barros Integração VLT Realengo Tramway integration | Pavuna/ Mocidade/ P. de Lucas Anchieta São João de Meriti Padre Miguel Vigário Geral Vila Rosali Olinda Guilherme Conexión VLT da Silveira Dq. de Caxias Agostinho Porto Somente saída, através da estação Maracanã Nilópolis Bangu Exit only, through Maracanã station | Solamente salida, por la Estación Maracanã Estação acessível Corte Oito Coelho da Rocha Edson Senador Accessible station | Estación accesible Camará Estação Silva Freire Passos Horário de Funcionamento: dias úteis das 10h às 15h Gramacho Belford Roxo Business days 10am to 3pm | Días hábiles desde las 10h hasta las 15h Mesquita Santíssimo Campos Elíseos Augusto Pres. Juscelino Vasconcelos Station | Estación Jd. Primavera Nova Iguaçu Campo Grande Saracuruna Comendador Benjamim do Monte Soares Morabi Parque Estrela Inhoaíba Austin Imbariê Santa Dalila Queimados Cosmos Suruí Manoel Belo Engenheiro Paciência Santa Guilhermina Pedreira Parada Angélica Tancredo Iriri Neves Japeri Piabetá Santa Cruz Magé Fragoso Jd. -

Serviços Que Realizam Profilaxia Pós Exposição Ao HIV No Município Do Rio De Janeiro
Serviços que realizam Profilaxia Pós Exposição ao HIV no município do Rio de Janeiro Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, em relação às unidades municipais, disponíveis desde outubro de 2013. Última atualização em outubro de 2017. Informações fornecidas pela Secretaria De Estado e Saúde disponíveis desde julho de 2018. PEP Cidade do Rio de Acidente Violência Exposição UNIDADE de ATENDIMENTO Atendimento Dias de Sexual 24 horas Atendimento Janeiro SEGUIMENTO ENDEREÇO Sim / Não Sim / Não Sim / Não Sim / Não Horário fora emergência seg a domingo - Sim Sim Sim Sim Própria unidade AP 1.0 CMS MANOEL ARTHUR VILLABOIM 24 horas Praça Bom Jesus, 40, Ilha de Paquetá seg a sexta - CMS ERNANI AGRÍCOLA Sim Sim Sim Não 08 às 17h Própria unidade Rua constant Jardim, 8, Santa Tereza sáb - 08 às 12h CMS ERNESTO ZEFERINO TIBAU seg a sexta - Sim Sim Sim Própria unidade Av do Exército, 1, São Cristovão 08 às 17h Não CMS JOSÉ MESSIAS DO CARMO seg a sexta - 08 Sim Sim Sim Não Própria unidade Rua Waldemar Dutra, 55, Santo Cristo às 17h CMS MARCOLINO CANDAU seg a sexta - 08 Sim Sim Sim Não Própria unidade R. Laura de Araújo - 36, Cidade Nova às 17h CMS OSWALDO CRUZ seg a sexta - 08 Sim Sim Sim Não Própria unidade Av Henrique Valadares - 151, Centro às 17h CMS FERNANDO ANTONIO BRAFA LOPES seg a sexta - 08 Sim Sim Sim Não Própria unidade Rua Carlos seidl, 785, Caju às 17h CMS SALLES NETTO seg a sexta - 08 Sim Sim Sim Praça Condessa Paulo de Frontin, 52, Rio Não às 17h sáb - Própria unidade Comprido 08 às 12h seg a sexta - 08 -

Relatório Funcional Das Linhas De Ônibus Do Município Do Rio De Janeiro-RJ
Relatório funcional das linhas de ônibus do município do Rio de Janeiro-RJ Este relatório trata de um assunto pertinente ao transporte na cidade do Rio de Janeiro-RJ, e como é de sapiência de todos, a retirada de linhas de ônibus que circulavam no município causou muita confusão entre a população carioca. O transporte rápido e seguro é um dever do estado e um direito do cidadão, e sendo assim nós do movimento transporte consciente, encaminhamos este relatório a prefeitura do rio de janeiro e a rio ônibus, para que as partes venham chegar num acordo, afim de solucionar de uma vez por todas esse problema que vem atrapalhando a vida do cidadão carioca. Neste relatório encontram-se as linhas de ônibus da cidade que foram extintas, encurtadas, e/ou tiveram seu número mudado e também tem aquelas que sem motivo aparente simplesmente sumiram, e aquela que ainda encontram-se funcionando, mas de forma precária, pois, as mesmas, estão fazendo muita falta para os municípios cariocas. Pedimos desculpas por quaisquer equivoco desse dossiê e agradecemos a atenção dos (as) senhores (as). 0 LINHAS QUE FORAM EXTINTAS, ENCURTADAS OU QUE SIMPLESMENTE SUMIRAM 1- 358 – COSMOS – PRAÇA XV 2- 881 – CAMPO GRANDE – VILAR CARIOCA 3- 684 – MEIER – CATIRI 4- 907 – BONSUCESSO – PAVUNA 5- 376 – PAVUNA – PRAÇA XV (VIA PARQUE COLUMBIA) 6- 870 – BANGU – SEPETIBA (VIA EST. DE SEPETIBA) 7- 875 – CAMPO GRANDE – CASCADURA 8- 750 – SEPETIBA – COELHO NETO 9- 391 – TIRADENTES – PADRE MIGUEL 10- 755 – REALENGO – COELHO NETO 11- 367 – REALENGO – PRAÇA XV (VIA PRAÇA MAUÁ) 12- 349 ROCHA MIRANDA – PRAÇA XV 13- 725 – CASCADURA – RICARDO DE ALBUQUERQUE 14- 742 – CASCADURA – PADRE MIGUEL 15- 952 – PENHA – PRAÇA SECA 16- 780 – BENFICA – MADUREIRA 17- 856 – MARECHAL HERMES – BASE AÉREA DE SANTA CRUZ 18- 738 – MARECHAL HERMES – URUCÂNIA 19- 676 – MEIER – PENHA (VIA CASCADURA) 20- 351 – PASSEIO – VAZ LOBO (RÁPIDO) 21- 824 – CAMPO GRANDE – VILA NOVA (CIRCULAR) 22- 872 CAMPO GRANDE – NOVA SEPETIBA (VIA AREIA BRANCA) 23- 873 – CAMPO GRANDE – SANTA CRUZ (VIA GOUVEIAS – JD. -

Coordenadorias Regionais De Educação Do Município Do Rio De Janeiro
COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 1ª CRE (Rua Edgar Gordilho 63 - Praça Mauá); 2ª CRE (Praça General Alcio Souto, s/n° - Lagoa); 3ª CRE (Rua 24 de maio 931 / fundos - Engenho Novo); 4ª CRE (Estrada dos Maracajás 1.294 - Galeão Ilha do Governador); 5ª CRE (Rua Marupiara s/n° - Rocha Miranda); 6ª CRE (Rua dos Abacates s/n° - Deodoro); 7ª CRE (Av. Ayrton Senna 2.001 - Bl.A - Barra da Tijuca); 8ª CRE (Rua Biarritiz 31- Bangu); 9ª CRE (Rua Amaral Costa, 140 - Campo Grande); 10ª CRE (Av. Padre Guilherme Decaminada, 71 - Santa Cruz). Unidades Sigla Coordenador Endereço Telefone Abrangências Escolares 2263- Benfica; Caju; Catumbi; Centro; Cidade E/1ª Fatima Sueli Rua Edgard 2928 96 Nova; Estácio; Gamboa; Mangueira; CRE Joaquim Lourenco Gordilho 63, Praça 2263- Praça da Bandeira; Praça Mauá; Rio Mauá. 2905 Comprido; Rio Comprido – Turano; São 2263- Cristóvão; Santa Teresa; Santa Teresa CEP: 20081-070 2343 - Morro dos Prazeres; Saúde; Santo 2263- Cristo. 2319 2263- 2302 2263- 0371 2263- 0108 2263- 0014 2253- 5907 2253- 5108 2233- 8426 2233- 5666 2253- 4693 2233- 4839 2537- Alto Boa Vista; Andaraí; Botafogo; E/2ª Pça. General Álcio 0277 152 Catete; Copacabana; Copacabana - CRE Souto s/nº, Lagoa. 2535- Morro dos Cabritos; Cosme Velho; 7190 Flamengo; Gávea; Gávea (Rocinha); CEP: 22471-240 2535- Glória; Grajaú; Grajaú - Morro Nova 6225 Divinéia; Humaitá; Ipanema; Jardim 2535- Botânico; Lagoa; Laranjeiras; Leblon; 0629 Leme; Maracanã; Praça da Bandeira; 2286- Rocinha; São Conrado; Tijuca; Tijuca - 8325 Comunidade Chacrinha; Urca; Vidigal; 2286- Vila Isabel. 8024 2286- 8862 2537- 0470 2537- 0411 2537- 5737 3278- Abolição; Água Santa; Benfica (parte); E/3ª Maria do Amparo Rua 24 de 3713 134 Bonsucesso; Bonsucesso - Complexo CRE Miranda Reis Maio 931 Fundos, 3278- do Alemão; Cachambi; Del Castilho; Engenho Novo. -

Relação Das Feiras Livres
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA SUBSECRETARIA DE INTEGRAÇÃO E CONTROLE URBANO COORDENAÇÃO DE CONTROLE URBANO- DIVISÃO DE FEIRA S RELAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES ENDEREÇO BAIRRO DIA HORÁRIO DE FUNC. RA LIVRAMENTO DO, RUA SAUDE Sexta-Feira 07:00 H ÀS 13:00 H 01-Portuária GAL. GURJAO, RUA CAJU Domingo 07:00 H ÀS 13:00 H 01-Portuária TADEU KOSCIUSKO / CARLOS SAMPAIO, RUA CENTRO Sábado 07:00 H ÀS 13:00 H 02-Centro CONDE LAGES, RUA CENTRO Quinta-Feira 07:00 H ÀS 13:00 H 02-Centro EMILIA GUIMARAES, RUA CATUMBI Segunda-Feira 07:00 H ÀS 13:00 H 03-Rio Comprido BARAO DE SERTORIO, RUA RIO COMPRIDO Quarta-Feira 07:00 H ÀS 13:00 H 03-Rio Comprido COSTA FERRAZ, RUA RIO COMPRIDO Sábado 07:00 H ÀS 13:00 H 03-Rio Comprido CEL. CASTELO BRANCO, PCA CIDADE NOVA Quinta-Feira 07:00 H ÀS 13:00 H 03-Rio Comprido SAMPAIO FERRAZ, RUA ESTACIO Quarta-Feira 07:00 H ÀS 13:00 H 03-Rio Comprido GAL ARGOLO, RUA SAO CRISTOVAO Quinta-Feira 07:00 H ÀS 13:00 H 07-São Cristóvão GAL BRUCE, RUA SAO CRISTOVAO Domingo 07:00 H ÀS 13:00 H 07-São Cristóvão RUA TEREZINA SANTA TERESA Sexta-Feira 07:00 H ÀS 13:00 H 23-Santa Teresa ARNO KONDER, RUA / GOV. IRINEU FLAMENGO Terça-Feira 07:00 H ÀS 13:00 H 04-Botafogo BORNHAUSEN, RUA AUGUSTO SEVERO, AV GLORIA Domingo 07:00 H ÀS 13:00 H 04-Botafogo PROF. -

ANEXO III Armazém De Dados
ANEXO III Armazém de Dados Para maiores informações, consulte: Desenvolvimento Humano e Condições de Vida na Cidade do Rio de Janeiro (jan. 2004) (Estudo Nº 1347) Tabela 1172 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), por ordem de IDH, segundo os bairros ou grupo de bairros - 2000 Índice de Ordem Esperança de Taxa de Índice de Índice de Taxa bruta de frequência escolar Renda per capita (em R$ de Índice de Renda Desenvolviment segundo Bairro ou grupo de bairros vida ao nascer alfabetização de Longevidade Educação (%) 2000) (IDH-R) o Humano o IDH (em anos) adultos (%) (IDH-L) (IDH-E) Municipal (IDH) 1 Gávea 80,45 98,08 118,13 (a) 2139,56 (b) 0,924 0,987 1,000 0,970 2 Leblon 79,47 99,01 105,18 (a) 2441,28 (b) 0,908 0,993 1,000 0,967 3 Jardim Guanabara 80,47 98,92 111,15 (a) 1316,86 0,924 0,993 0,972 0,963 4 Ipanema 78,68 98,78 107,98 (a) 2465,45 (b) 0,895 0,992 1,000 0,962 5 Lagoa 77,91 99,46 115,26 (a) 2955,29 (b) 0,882 0,996 1,000 0,959 6 Flamengo 77,91 99,28 119,08 (a) 1781,71 (b) 0,882 0,995 1,000 0,959 7 Humaitá 77,91 99,28 122,20 (a) 1830,65 (b) 0,882 0,995 1,000 0,959 8 Joá, Barra da Tijuca 77,84 99,38 110,09 (a) 2488,47 (b) 0,881 0,996 1,000 0,959 9 Laranjeiras 77,84 98,74 115,98 (a) 1679,22 (b) 0,881 0,992 1,000 0,957 10 Jardim Botânico 77,84 98,71 104,89 (a) 1952,77 (b) 0,881 0,991 1,000 0,957 11 Copacabana 77,78 98,48 107,54 (a) 1623,42 (b) 0,880 0,990 1,000 0,956 12 Leme 77,47 98,75 112,07 (a) 1713,89 (b) 0,875 0,992 1,000 0,955 13 Botafogo, Urca 78,25 98,46 113,01 (a) 1376,47 0,888 0,990 0,979 0,952 14 Maracanã 77,91 -

Casdh - Coordenadorias De Assistência Social E Direitos Humanos Centros De Referência Especializado Da Assistência Social (Creas)
CASDH - COORDENADORIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) 1ª CASDH - PRAÇA ONZE Endereço: Rua Benedito Hipólito,163, Praça XV- Tel.: 2151-5595/98495-2288 E-mail.: [email protected] Bairros de Abrangência: Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Mangueira, Paquetá, Rio Comprido, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, Saúde, Vasco da Gama e Triagem. CREAS SIMONE DE BEAUVOIR Rua Ambiré Cavalcante, nº 95, Rio Comprido Tel.: 99241-6489 E-mail.: [email protected] 2ª CASDH – VILA ISABEL / ZONA SUL Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, nº 34, 2º andar, Vila Isabel Tel.: (21) 2298-7958 // 2298-8989 E-mail.: [email protected] Bairros de abrangência: Alto da Boa Vista, Andaraí, Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme Velho, Flamengo, Gávea, Glória, Grajaú, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Horto, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Maracanã, Praça da Bandeira (parte), Rocinha, São Conrado, Tijuca, Urca, Vidigal, Vila Isabel, Engenho Novo (parte), Sampaio (parte) e São Francisco Xavier (parte). CREAS ARLINDO RODRIGUES Rua Desembargador Isidro, nº 48, Tijuca Tel.: 2268-7115 // 2268-2401 E-mail.: [email protected] CREAS MARIA LINA DE CASTRO LIMA Rua São Salvador, nº 56, Laranjeiras Tel.: 2205--4196 // 2268-8165 E-mail.: [email protected] 3ª CASDH – ENGENHO NOVO Endereço: Rua 24 de Maio, nº 931, Engenho Novo Tel.: 3278-6513 // 3278-6734 E-mail.: [email protected] Bairros de abrangência: Abolição, Agua Santa, Cachambi, Del Castilho, Encantado, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis, Inhaúma, Jacaré, Jacarezinho, Maria da Graça, Méier, Piedade, Pilares, Riachuelo, Rocha, Sampaio, Todos os Santos, Tomas Coelho e Lins de Vasconcelos. -
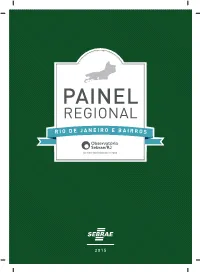
R I O De J a N E I R O E Bai Rros
R I O D E J A N E I R O E B A I R R O S PAINEL REGIONAL RIO DE JANEIRO E BAIRROS SEBRAE/RJ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio do Janeiro Rua Santa Luzia, 685 – 6º, 7º e 9º andares – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20030-041 Presidente do Conselho Deliberativo Estadual Angela Maria Machado da Costa Diretor Superintendente Cezar Vasquez Diretores Armando Clemente Evandro Peçanha Alves Gerente da Unidade de Conhecimento e Competitividade Cezar Kirszenblatt Observatório Sebrae/RJ Equipe Técnica de Estudos e Pesquisas Equipe do Instituto de Estudos Responsável: Bernardo Pereira Monzo do Trabalho e Sociedade - IETS André Bezrutchka de Sousa Correia Coordenação: Adriana Fontes Felipe da Silva Antunes Ana Paula Sampaio Patrícia Reis Pereira Danielle Nascimento Thiago Fonseca de Lima Fabrícia Guimarães Luísa de Azevedo Elaboração de Conteúdo Samuel Franco Suiani Febroni Vânia Gomes Valéria Pero (IE-UFRJ) Revisão: Kathia Ferreira Projeto Gráfico e Diagramação: Maria Clara Thedim | www.mathedim.com.br P7714 Painel regional : Rio de Janeiro e bairros / Observatório Sebrae/RJ. -- Rio de Janeiro : SEBRAE/RJ, 2015. 16 p. : il ; 30 cm. ISBN 978-85-7714-206-4 1. Informações socioeconômicas. 2. Rio de Janeiro e bairros – Estado do Rio de Janeiro. 3. Pequenas Empresas. I. Observatório Sebrae/RJ. II. Título. CDU 311.21:338.12(815.3) APRESENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO O Observatório Sebrae/RJ é uma iniciativa do Sebrae/RJ baseada na sistematização, no monitoramento, na análise e na disseminação de informações ligadas ao ambiente dos pequenos negócios do Estado. Para a realização desse trabalho, além da elaboração própria de estudos, análises e outros documentos, o Sebrae/ RJ possui parcerias com instituições que possuem reconhecida experiência na elaboração de trabalhos relevantes para o Estado do Rio de Janeiro, como o IETS (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade), o CCJE (Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas) da UFRJ, a FGV (Fundação Getúlio Vargas), entre outras. -

Aps, Ras E Bairros
AP 1 AP2 AP3 AP4 AP5 RA Bairro RA Bairro RA Bairro RA Bairro RA Bairro Saúde Flamengo São Francisco Xavier Jacarepaguá Padre Miguel Gamboa Glória Rocha Anil XVII Bangu Bangu I Portuária Santo Cristo Laranjeiras Jacaré Gardênia Azul Senador Câmara Caju Catete Riachuelo Curicica IV Botafogo Cosme Velho Sampaio Freguesia Deodoro XVI Jacarepaguá II Centro Centro Botafogo Engenho Novo Pechincha Vila Militar Humaitá Lins de Vasconcelos Taquara Campo dos Afonsos XXXIII Realengo Catumbi Urca Méier Tanque Jardim Sulacap XIII Méier Rio Comprido Todos os Santos Praça Seca Magalhães Bastos III Rio Comprido Cidade Nova Leme Cachambi Vila Valqueire Realengo V Copacabana Estácio Copacabana Engenho de Dentro Água Santa XXXIV Cidade de Deus Cidade de Deus Santíssimo São Cristóvão Ipanema Encantado Campo Grande Mangueira Leblon Piedade Joá XVIII Campo Grande Senador Vasconcelos VII São Cristóvão Benfica Lagoa Abolição Itanhangá Inhoaíba Vasco da Gama VI Lagoa Jardim Botânico Pilares Barra da Tijuca Cosmos Gávea Camorim XXIV Barra da Tijuca XXI Paquetá Paquetá Vidigal Higienópolis Vargem Pequena Paciência São Conrado Maria da Graça Vargem Grande XIX Santa Cruz Santa Cruz XXIII Santa Teresa Santa Teresa Del Castilho Recreio dos Bandeirantes Sepetiba XII Inhaúma XXVII Rocinha Rocinha Inhaúma Grumari Engenho da Rainha Guaratiba Praça da Bandeira Tomás Coelho XXVI Guaratiba Barra de Guaratiba VIII Tijuca Tijuca Pedra de Guaratiba Alto da Boa Vista XXIX Complexo do Alemão Complexo do Alemão Maracanã XXVIII Jacarezinho Jacarezinho Vila Isabel IX Vila Isabel Andaraí