Cmpilação Da Tese
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Instituto Superior De Educação Departamento De Geociências Licenciatura Em Biologia
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS LICENCIATURA EM BIOLOGIA Aspectos da Biodiversidade no Parque Natural da Serra de Malagueta Linda Lopes Fevereiro de 2007 LINDA MARIA FERNANDES BARRETO LOPES ASPECTOS DA BIODIVERSIDADE NO PARQUE NATURAL DE SERRA DE MALAGUETA Projecto de pesquisa apresentado ao I.S.E – como requisito parcial para obtenção do título de licenciatura em Biologia Orientadora: Dra. Vera Gominho Praia 2007 DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS Trabalho científico apresentado ao I.S.E. para obtenção do grau de licenciatura em ensino de biologia. Elaborado por, Linda Fernandes Barreto Lopes, aprovado pelos membros do júri, foi homologado pelo concelho científico -pedagógico, como requisito parcial à obtenção do grau de licenciatura em ensino de biologia. O JURI ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ PRAIA ____/____/____ DEDICATÓRIA Dedico este trabalho aos meus queridos pais, que com toda a dedicação e carinho, sempre me incentivaram a prosseguir os estudos. Aos meus irmãos, em especial a Nilde, aos meus sobrinhos, enfim a todos os meus familiares, com os quais sempre eu pude contar. De uma forma muito especial ao meu esposo Aristides e minha filha Denise, pelo apoio em todos os sentidos, mas também pelo tempo subtraído ao convívio familiar. 3 AGRADECIMENTOS A realização deste dependeu muito do apoio e colaboração dada por diversas individualidades e instituições, que de uma forma calorosa, responderam as nossas solicitações, ao longo desse tempo. Assim sendo não poderíamos deixar de manifestar a nossa gratidão aos funcionários da Direcção geral do Ambiente (D.G.A), aos do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (I.N.I.D.A.), e do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (I.N.M.G.), pela tolerância e informações prestadas. -

I Série Número 55
Documento descarregado pelo utilizador euridice lopes baptista (10.72.81.72) em 25-09-2015 15:30:38. © Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Segunda-feira, 21 de Setembro de 2015 I Série Número 55 BOLETIM OFICIAL 1 8 7 1 0 0 0 0 0 1 7 0 2 ÍNDICE CONSELHO DE MINISTROS: Decreto-lei nº 44/2015: Estabelece o regime jurídico de fretamento de navios de pesca. .........................................................1666 Decreto-lei nº 45/2015: Autoriza o Banco de Cabo Verde a emitir uma moeda comemorativa alusiva aos 40 anos da Independência Nacional e da criação do Banco de Cabo Verde. .............................................................................1669 Decreto-lei nº 46/2015: Aprova o regulamento das Unidades de Gestão de Aquisições (UGA). ..............................................1670 Decreto-lei nº 47/2015: Eleva as Povoações que se indicam à categoria de Vila. ......................................................................1674 Decreto-lei nº 48/2015: Altera o Decreto-lei n.º 44/2014, de 14 de agosto, que estabelece o regime e fixa o montante das taxas a pagar, no âmbito do exercício da atividade das pescas, industrial e artesanal, amadora e desportiva .........................1685 Decreto-lei nº 49/2015: Autoriza a Ministra das Finanças e do Planeamento, em representação do Estado do Cabo Verde, a proceder à alineação de 43.147 (quarenta e três mil cento e quarenta e sete) ações, correspondentes a 100% (cem por cento) da participação social detida pelo Estado de Cabo Verde no Centro Agroalimentar Porto Novo, SA. ........................................................................................................1688 Decreto-regulamentar nº 7/2015: Aprova os Estatutos do Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária. .............................................1692 Decreto-regulamentar nº 8/2015: Cria a Bolsa de Competências e estabelece as regras da sua utilização, disponibilizada pela Agência de Recrutamento dos Recursos Humanos da Administração Pública (ARH). -
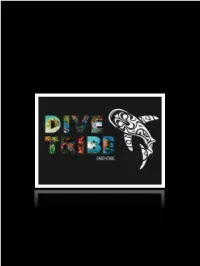
Presentation-Dive-Tr
DIVE TRIBE – São Vicente / Santo Antão Le Cap-Vert "... J’ai trouvé au Cap Vert l’un des mondes sous-marins le plus vivant et plus varié" .... Jacques Yves Cousteau DIVE TRIBE – São Vicente / Santo Antão Le Cap-Vert 1. Situation géographique du Cap Vert Le Cap-Vert est un archipel d’origine volcanique de l'océan Atlantique, au large des côtes du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie. L'archipel se divise en deux séries d'îles : Au sud les îles de Sotavento (Brava, Fogo, Santiago et Maio) et les îlots (Seco ou Rombo, Ilhéu de Cima, Ilhéu Grande, Ilhéu Sapado, Ilhéu Luís Carmeiro et Ilhéu do Rei); Au nord les îles de Barlavento (Boa Vista, Sal, São Nicolau, Santa Luzia, São Vicente et Santo Antão) et les îlots (Branco et Raso). La température de l'air moyenne annuelle des îles de São Vicente et Santo Antão varie de 24 º C à 31 º C et la mer entre 23 º C et 28 º DIVE TRIBE – São Vicente / Santo Antão Le Cap-Vert 2. Île de São Vincente São Vicente fut découverte le jour de la Saint Vincent (22 janvier) 1462. L’île occupe 228 km, elle mesure 24 km d'est en ouest, 16 km du nord au sud. São Vicente serait la dernière île de l'archipel du Cap-Vert à avoir été peuplée. Ce fut seulement en 1838, lorsque fut installé, dans la baie de Porto Grande, un dépôt de charbon pour l'approvisionnement des bateaux sur la route de l'Atlantique, qu'une population commença à se fixer. -

Cabo Verde As Ilhas Da ‘Morabeza’ 30 De Julho a 18 De Agosto
Cabo Verde As ilhas da ‘morabeza’ 30 de julho a 18 de agosto O CAAL vai voltar a um país de língua portuguesa. Cabo Verde foi descoberto pelos portugueses no ano de 1460. A primeira ilha a que acostaram foi a da Boa Vista, nome dado em consequência do longo tempo que permaneceram no mar, sem nenhuma referência de terra. Em seguida os portugueses foram para outras ilhas que foram batizando com o nome do santo correspondente ao dia da descoberta, assim aconteceu com Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau e Santiago. A ilha do Sal foi assim denominada por causa das grandes salinas existentes. A ilha de Maio deve o seu nome ao mês em que foi descoberta e a ilha do Fogo por ter um vulcão, que se supõe ter estado em atividade, no momento da chegada dos navegadores. A ilha Brava foi assim chamada devido ao seu aspeto, um tanto quanto hostil. Como o arquipélago era desabitado os portugueses deram início ao seu povoamento. Por ocupar uma situação privilegiada na encruzilhada entre três continentes - Europa, América e África - Cabo Verde foi um entreposto importante no chamado tráfico negreiro. Os escravos eram capturados e levados para as ilhas de onde seguiam, mais tarde, para trabalhar nas produções de cana-de-açúcar, café e algodão do Brasil e das Antilhas. Na ilha de Santiago, foi erigida a primeira cidade construída por europeus nas colónias, a cidade de Ribeira Grande, hoje mais conhecida por Cidade Velha. A cultura de Cabo Verde possui características singulares. É ‘mestiça’ como a sua população, numa das misturas mais originais e criativas do continente africano. -

República De Cabo Verde
Public Disclosure Authorized REPÚBLICA DE CABO VERDE MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS E ECONOMIA MARÍTIMA Instituto de Estradas Public Disclosure Authorized Projecto de Reforma do Sector dos Transportes PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (PGAS) Public Disclosure Authorized ILHA DE SANTO ANTÃO Elaboração: Arlinda Ramos Duarte Lopes Neves Public Disclosure Authorized - Especialista Sócio-Ambiental - Janeiro 2013 PGAS - SANTO ANTÃO ÍNDICE SIGLAS E ABREVIATURAS ........................................................................ 4 SUMMARY .............................................................................................. 5 RESUMO ................................................................................................ 7 1. INTRODUÇÃO. OBJECTIVOS DO PGAS ...................................................... 9 1.1. Objectivos .......................................................................................................9 1.2. Metodologia ..................................................................................................10 2. CLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE RODOVIÁRIA NACIONAL...... 11 3. ZONA DE INTERVENÇÃO DO PROJECTO ................................................ 13 3.1 Características administrativas e demográficas ................13 3.2. Características físicas .......................................................................14 4. ESTADO INICIAL NAS ZONAS DE INTERVENÇÃO. INFRA-ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS DA ILHA DE SANTO ANTÃO ............................................... 20 5. DESCRIÇÃO -

O Património E O Ambiente Dissertação De Mestrado
UNIVERSIDADE DE ÉVORA Mestrado Em ARQUEOLOGIA E AMBIENTE SANTO ANTÃO: O Património e o Ambiente Dissertação de Mestrado realizada por Francisca Dias Coelho Orientadora: Prof. Doutora Leonor Rocha ÉVORA, Outubro de 2010 Aos meus pais: Ernesto e Sofia À Tina, ao Renato e à Luly Em memória da minha avó Juliana 2 0. Agradecimentos Passo a particularizar os agradecimentos (e que não se ofendam os que não estão incluídos de seguida, mas o número de páginas e o âmbito desta secção é finito): À Patrícia, Susana, Dina, Rita, Celsa, Carlos, Martinha, Cátia, Virgínia, Marisa e Aracy por me terem mostrado uma forma de companheirismo entre colegas que foi, no mínimo, de uma generosidade impressionante. Á Celsa, Djy, Elisabete e Nélida, pelo apoio imediato mesmo que a distância fosse longa. Agradeço o apoio e a orientação da minha orientadora e directora do Mestrado Professora Dra. Leonor Rocha pela possibilidade de ver este trabalho dar frutos positivos, porque só isso constitui uma verdadeira recompensa. Agradeço-lhe igualmente pelas palavras de apoio e pela confiança depositada na minha pessoa, o que também contribuíram para encorajar-me e fazer-me seguir em frente. Agradeço aos Professores Jorge Oliveira e Clara Oliveira, pela força, pelo carinho, pela dedicação e inspiração, um especial obrigado. A Ana e à Carmo pelo sorriso e carinho, que tão bem faz nas horas de maior aflição. Não posso deixar de mencionar, agradecendo, às pessoas que me acompanharam de perto e se preocuparam intensamente com o meu desempenho, a Catarina, o avô José João, a avó Maria Antónia, a avó Marcelina, tia Iuiu e à tia Joana. -

Nº 10 «Bo» Da República De Cabo Verde — 6 De Março De 2006
I SÉRIE — Nº 10 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 6 DE MARÇO DE 2006 291 Decreto-Lei nº 25/2006 conservação de estradas bem como actualizar a classificação das estradas e definir os níveis de serviço das de 6 de Março vias públicas rodoviárias; Não obstante ter sido o Decreto-Lei nº54/2004, de 27 de Após consulta aos Municípios de Cabo Verde através da Dezembro sobre a comercialização, a informação e o controle Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde; da qualidade dos produtos destinados a alimentação de lactentes, objecto de regulamentação através do Decreto No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do Regulamentar nº1/2005, de 17 de Janeiro, em consequência artigo 203 da Constituição, o Governo decreta o seguinte: da não implementação na prática dos preceitos definidos neste último diploma, corre-se o risco de um ruptura de Artigo 1º stocks dos produtos lácteos, destinados a crianças menores Objecto de vinte e quatro meses. O presente diploma tem por objecto, fundamental, a Tornando-se necessário reafirmar, por um lado, a valia classificação administrativa e gestão das vias rodoviárias e o dever da observância rigorosa dos preceituados, de Cabo Verde, bem como a definição dos níveis de serviço naqueles dois mencionados diplomas e, por outro lado, a das mesmas. conveniência em se estar ciente das reais dificuldades sentidas pelos operadores em dar cabal cumprimento ao CAPÍTULO I que neles se preceitua, importa que se encontre uma solução normativa satisfatória para a situação em apreço. Classificação Administrativa das Estradas O que terá que passar, inevitavelmente, pela prorrogação Artigo 2º do prazo para o inicio da vigência do mencionado Decreto- Lei n.º 54/2004. -

Distritos Recenseamento N° De ZONA N° DR
Distritos Recenseamento DISTRITOS DE RECENSEAMENTO A INQUIRIR DISTRITO DE RECENSEAMENTO N° de Familias N° de ZONA N° DR (DR) 1990 1997 Pessoas selecc. CONCELHO DE TARRAFAL Freguesia de Santo Amaro Abade 7 1 1 101 242 Centro de Tarrafal + parte de Ponta Gato 1 7 1 1 102 129 Ponta Lagoa 2 7 1 1 103 238 parte de Ponta Gato + Montearia 3 7 1 1 104 139 Codje Bicho 4 7 1 1 201 191 Achada Longueira 5 7 1 1 202 74 Achada Meio + Figueira Muita 6 7 1 1 204 76 Ribeira das pratas + Milho Branco 7 7 1 1 205 151 Mato Mendes + Curral Velho 8 7 1 1 207 157 Achada Montes+Fazenda+Ponta Furna+Ponta Lobräo 9 7 1 1 208 113 Biscainhos 10 7 1 1 210 119 parte de Achada Moiräo 11 7 1 1 212 115 Lagoa + Achada Lagoa 12 7 1 1 214 138 parte de Chäo Bom 13 7 1 1 215 130 parte de Chäo Bom 14 Freguesia de São Miguel Arcanjo 7 1 2 102 114 Calheta 15 7 1 2 103 109 Calheta 16 7 1 2 104 172 Veneza 17 7 1 2 201 181 Ribeiräo Milho + Chä de ponta 18 7 1 2 202 162 Achada Monte 19 7 1 2 204 133 parte de Principal 20 7 1 2 205 127 parte de Principal 21 7 1 2 207 153 parte de Espinho Branco 22 7 1 2 208 112 Gon-Gon + Xaxa 23 7 1 2 209 145 Piläo Cäo 24 7 1 2 211 125 Casa Branca+Igreja+Varanda+Achada Baril+C.Gomes 25 7 1 2 212 153 Varanda + Fundo Ribeiro 26 7 1 2 213 110 Cutelo Gomes 27 7 1 2 215 107 Pedra Barro+ Tagarra 28 7 1 2 217 102 Ponta Verde 29 7 1 2 218 98 Pedra Serrada 30 Fonte : RGPH/90 Distritos Recenseamento DISTRITOS DE RECENSEAMENTO A INQUIRIR DISTRITO DE RECENSEAMENTO N° de Familias N° de ZONA N° DR (DR) 1990 1997 Pessoas selecc. -

Cabo Verde Country Factsheet
CONTACT: Liz Smith CEPF RIT Manager T: +44 (0)1223 279878 E: [email protected] Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot Cabo Verde Factsheet about future investment in biodiversity conservation projects in Cabo Verde by the Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) Measuring Loggerhead turtles, Island of Sal © Projeto Biodiversidad Established in 2000, the Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) is a joint initiative of l'Agence Française de Développement, Conservation International, the European Union, the Global Environment Facility, the Government of Japan and the World Bank. A fundamental goal is to ensure civil society is engaged in biodiversity conservation. Please visit www.cepf.net and www.birdlife.org/cepf-med for more information about our programs. WHAT IS CEPF? When developing an Ecosystem Profile for a biodiversity hotspot, CEPF decides on a few priorities, which are known as “strategic The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) provides directions.” These are important to grant grants to non-governmental and private sector applicants because each project must address a organizations to help protect biodiversity hotspots. Since strategic direction and one or more of its its establishment in 2000, CEPF has awarded more than investment priorities. For the Mediterranean, 2,120 grants in 92 countries and territories. A fundamental these are the current Strategic Directions: goal is to ensure civil society is engaged in biodiversity conservation. 1. Support civil society to engage stakeholders in demonstrating integrated approaches for the preservation of biodiversity in coastal WHAT IS THE MEDITERRANEAN areas. 2. Support the sustainable management of BIODIVERSITY HOTSPOT? water catchments through integrated approaches for the conservation of Stretching from Cabo Verde to eastern Turkey, the Mediterranean Basin is identified as one of the world's 35 threatened freshwater biodiversity. -

Inventário Dos Recursos Turísticos Do Paúl – Santo Antão
INVENTÁRIO DOS RECURSOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DO PAÚL, ILHA DE SANTO ANTÃO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS Inventário dos Recursos Turísticos do Município do Paúl, Santo Antão Conteúdo APRESENTAÇÃO............................................................................................................................. 4 I. OBJECTIVOS ........................................................................................................................... 5 II. METODOLOGIA ...................................................................................................................... 5 CAPÍTULO I - ASPECTOS GERAIS...................................................................................................... 8 1. Introdução ......................................................................................................................... 8 1.1. Descrição do Meio Físico............................................................................................. 9 1.2. Descrição do Meio Natural........................................................................................ 11 CAPÍTULO IV - MUNICÍPIO DE PAÚL.............................................................................................. 13 1. Caracterização do Município ............................................................................................ 13 1.1. Nome ....................................................................................................................... 13 1.2. Presidente ............................................................................................................... -

Nº Nome Nº. B.I. Zona Posto
Lista dos Novos Beneficiários da pensão Social - Dezembro de 2020 Nº Nome Nº. B.I. Zona Posto 1 Benjamim Luís Rodrigues Fonseca 323555 Janela PAUL 2 Nilton César de Melo 204795 Janela PAUL 3 Aldina Sousa Amador 269508 Figueiral PAUL 4 César da Cruz Santos 265790 Janela PAUL 5 Ana Maria Gertrudes Gomes 369405 Cidade das Pombas PAUL 6 António Manuel Andrade 336979 Janela PAUL 7 Ildo Sousa Silva 374981 Figueiral PAUL 8 Maria Aldina Pires Costa 181117 Campo de Cão PAUL 9 Isabel Maria Sousa Mota 247943 Janela PAUL 10 Alexandre Fonseca Rodrigues 255919 Janela PAUL 11 Paula Maria Rufina Delgado Fortes 244071 Figueiral PAUL 12 Maria Teresa Cândida 245056 Cidade das Pombas PAUL 13 Manuel Jesus Ramos Gomes 336747 Janela PAUL 14 António Pedro Carvalho Nascimento 256499 Janela PAUL 15 Carla Rocha Pascoal 19660315F001Y Cabo da Ribeira PAUL 16 Valentim Rocha Costa 162059 Campo de Cão PAUL 17 Paula Lina dos Santos 19750623F001C Santa Isabel PAUL 18 Irene Antónia Pires 411916 Tarrafal Monte Trigo PORTONOVO 19 Gregório dos Santos Brito 485081 Lagoa PORTONOVO 20 Quintino António dos Reis 240635 João Bento PORTONOVO 21 António Pedro Neves 258763 Alto Mira PORTONOVO 22 Manuel Cirilo Lopes 184307 Alto São Tomé PORTONOVO 23 João Baptista Ferreira 12383 Ribeira Corujinha PORTONOVO 24 Maria da Conceição Auta Soares 309377 Berlim PORTONOVO 25 Maria do Rosário Gomes 268644 Tarrafal-MT PORTONOVO 26 João dos Santos Monteiro 268793 Cidade do Porto Novo PORTONOVO 27 Júlia Andrade Delgado 99529 Abufador PORTONOVO 28 Zaida Maria Ramos Fernandes 276347 Berlim PORTONOVO -

Japan International Cooperation Agency (JICA)
No. Republic of Cape Verde Ministry of Tourism, Industry and Energy Power Transmission and Distribution System Development Project in The Republic of Cape Verde Final Report July 2010 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY Chubu Electric Power Co., Inc. IDD JR 10-062 Preface In response to the request from the Government of the Republic of Cape Verde, the Government of Japan decided to conduct the "Power Transmission and Distribution System Development Project in The Republic of Cape Verde" and entrusted the Study to the Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA sent a Study Team, led by Mr. Keiji SHIRAKI and organized by Chubu Electric Power Co., Inc. to Cape Verde three times from November 2009 to May 2010. The Team held a series of discussions with officials from the Ministry of Tourism, Industry and Energy and conducted related field surveys. After returning to Japan, the Team conducted further studies and compiled the final results in this report. I hope that the report will contribute to the development of power system facilities, stable power supply in Cape Verde, and the enhancement of amity between our two countries. I would also like to express my sincere appreciation to the officials concerned for their close cooperation throughout the Study. July 2010 Atsuo KURODA Vice President Japan International Cooperation Agency July 2010 Atsuo KURODA Vice President Japan International Cooperation Agency Tokyo, Japan Letter of Transmittal We are pleased to submit to you the final report for the “Power Transmission and Distribution System Development Project in The Republic of Cape Verde”. The study was implemented by Chubu Electric Power Co., Inc.