LISBOAEVALEDOTEJO Capítulo D
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bibliografia a Comarca Da Sertã (1997A) - Desenterrar a História Da Sertã: Serra Da Santa Em Destaque
Bibliografia A Comarca da Sertã (1997a) - Desenterrar a história da Sertã: Serra da Santa em destaque. Sertã, 18-7, p. 6. A Comarca da Sertã (1997b) - Arqueólogo Carlos Batata sustenta: Sertã é de origem romana. Sertã, 21-2, p. 6. ALARCÃO, J.; ETIENNE, R.; ALARCÃO, A.; PONTE, S. (1979) - Trouvailles diverses: conclusions générales. In Fouilles de Conimbriga. Paris: Diffusion E. de Boccard. ALARCÃO, J. (19833) - Portugal Romano. Lisboa: Verbo (Historia Mundi). ALARCÃO, J. (1987) - Traços essenciais da geografia política e económica do Vale do Tejo na Época Romana. In Arqueologia no Vale do Tejo. Lisboa: IPPC, p. 55-58. ALARCÃO, J. (1988a) - Roman Portugal. Warminster: Aris & Phillips. ALARCÃO, J. (1988b) - O domínio romano em Portugal. Lisboa: Europa-América. ALARCÃO, J. (1992a) - A evolução da cultura castreja. Conimbriga. Coimbra. 31, p. 39-71. ALARCÃO, J. (1992b) - O Território de Sellium. Actas do Seminário “O Espaço Rural na Lusitânia, Tomar e o Seu Território” (17 a 19 de Março 1989). Tomar: Centro de Arte e Arqueologia da ESTT, p. 9-23. ALARCÃO, J. (1996) - O primeiro milénio a.C. In De Ulisses a Viriato: O primeiro milénio a.C. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, p. 15-30. ALARCÃO, J. (1998) - A paisagem rural romana e alto-medieval em Portugal. Conimbriga. Coimbra. 37, p. 89-119. ALBERTOS, M. L. (1965) - Nuevos antropónimos hispánicos. Emerita. Madrid. 33:1, p. 109-143. ALLAN, J. C. (1965) - A mineração em Portugal na Antiguidade. Boletim de Minas. Lisboa. 2:3, p. 137-173. ALMEIDA, F. (1956) - Egitânia - História e Arqueologia. Lisboa: Universidade. ALMEIDA, J. (1945) - Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses. -

Ocorrência De Infeção Por Hepatozoon Canis Em Cães Nos Concelhos De Abrantes E Sardoal
MAFALDA CRISTINA CARQUEJA LOBATO FERREIRA OLIVEIRA Ocorrência de infeção por Hepatozoon canis em cães nos concelhos de Abrantes e Sardoal Orientadora: Professora Doutora Ana Maria Munhoz Co-orientadora: Professora Joana Fonseca Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Medicina Veterinária Lisboa 2018 MAFALDA CRISTINA CARQUEJA LOBATO FERREIRA OLIVEIRA Ocorrência de infeção por Hepatozoon canis em cães nos concelhos de Abrantes e Sardoal Dissertação apresentada para obtenção do Grau de Mestre em Medicina Veterinária no Curso de Mestrado em Medicina Veterinária Conferido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Presidente: Profa Doutora Laurentina Pedroso Arguente: Profa Doutora Carla Maia (IHMT) Orientador: Profa Doutora Ana Maria Munhoz Vogal: Profa Doutora Margarida Alves Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Medicina Veterinária Lisboa 2018 Mafalda Cristina Carqueja Lobato Ferreira Oliveira - Ocorrência de infeção por Hepatozoon canis em cães nos concelhos de Abrantes e Sardoal Dedicatória Dedico este trabalho aos meus Pais e Irmã por nunca terem desistido de mim. Ao Xuqui, o meu grande amor. Ao Lord, o Amigo que me acompanhou nesta longa caminhada. E por fim, ao meu querido Avó Tó, a minha estrela que me guiou durante estes seis anos dando me força para me tornar numa neta que nunca viu crescer, mas certamente estará orgulhoso por mais tarde poder cuidar daquilo que para ele era o mais precioso, os Animais. Obrigado a todos! Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias – Faculdade de Medicina Veterinária I Mafalda Cristina Carqueja Lobato Ferreira Oliveira - Ocorrência de infeção por Hepatozoon canis em cães nos concelhos de Abrantes e Sardoal Agradecimentos Em primeiro lugar à professora Ana Maria, minha orientadora, por toda a ajuda que me deu ao longo de todo o percurso académico, conhecimentos transmitidos, disponibilidade e amabilidade. -

ERSAR – the Water and Waste Services Regulation Authority
ERSAR – The Water and Waste Services Regulation Authority http://www.ersar.pt/en Organization The organizational and functional model of ERSAR is composed by the Board of Directors, by the operational services (Waste Systems Department, Water Systems Department, Contract Management Department, Direct Management Department, Legal Department and Quality Department. The technical and administrative support services are made up of the Administrative, Financial and Human Resources Department and the Technology and Information Management Department. The organization chart is completed with the advisory board and the statutory auditor (both required by law). Historical Evolution There are four relevant periods in the regulation of the water and waste sector in Portugal: 2000 – 2003: IRAR was the regulation authority for water and waste services of a growing number of concessionaires. At the end of 2003, there were about 50 regulated operators. 2004 – 2009: Besides regulating these 50 operators, IRAR assumed the role of national authority for drinking water quality. In this respect, IRAR had more 400 operators to regulate. Since 2009: ERSAR replaced IRAR and is now the regulation authority for the entire water and waste sector, with over 500 regulated operators, keeping its mission as national authority for drinking water quality. In 2014, ERSAR became an independent body with more autonomy and strengthened sanction and regulation powers. Purpose of Regulation Regulation has as main objective the protection of users’ and consumers’ interests by promoting the quality of service provided by operators and ensuring socially acceptable pricing, since water and waste services must have the following characteristics: essentialness, indispensability, universal access, equity, reliability and cost-efficiency associated with the quality of service. -

O Médio Tejo Dos Meados Do Século IX À Primeira Metade Do Século XIII: Militarização E Povoamento
UNIVERSIDADE DE LISBOA Faculdade de Letras Departamento de História O Médio Tejo dos meados do século IX à primeira metade do século XIII: Militarização e Povoamento Filipa Santos Dissertação de mestrado em História Medieval Lisboa 2011 UNIVERSIDADE DE LISBOA Faculdade de Letras Departamento de História O Médio Tejo dos meados do século IX à primeira metade do século XIII: Militarização e Povoamento Filipa Santos Dissertação de mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, orientada pelo Professor Doutor Hermenegildo Nuno Goinhas Fernandes e co-orientada pelo Professor Doutor José Manuel Henriques Varandas Lisboa 2011 O Médio Tejo dos meados do século IX à primeira metade do século XIII: Militarização e Povoamento «O descuido dos antigos nos roubou 1 a notícia de causas tão notáveis» 1 Frei António Brandão, Monarquia Lusitana, Parte Terceira, Livro X, cap. XVII, [ed. Facsímil, Lisboa, INCM, 2008, p. 152. 1 O Médio Tejo dos meados do século IX à primeira metade do século XIII: Militarização e Povoamento Índice Resumo ............................................................................................................................. 5 Abstract ............................................................................................................................. 6 Palavras-chave / Keywords ............................................................................................... 7 Abreviaturas e siglas utilizadas ....................................................................................... -

Santarém Abrantes Abrantes (São João) Agregação União Das Freguesias De Abrantes (São Vicente E São João) E Alferrarede
Reorganização Administrativa do Território das Freguesias - (RATF) Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro - Reorganização Administrativa do Território das Freguesias; Declaração de Retificação n.º 19/2013, de 28 de março; Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro - Reorganização Administrativa de Lisboa Distrito Concelho Freguesia (JF) Informação adicional Alteração RATF Freguesia criada/alterada pela RATF Informação adicional Santarém Abrantes Abrantes (São João) Agregação União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede Santarém Abrantes Abrantes (São Vicente) Agregação União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede Santarém Abrantes Aldeia do Mato Agregação União das freguesias de Aldeia do Mato e Souto Santarém Abrantes Alferrarede Agregação União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede Santarém Abrantes Alvega Agregação União das freguesias de Alvega e Concavada Santarém Abrantes Bemposta Sem alteração Santarém Abrantes Carvalhal Sem alteração Santarém Abrantes Concavada Agregação União das freguesias de Alvega e Concavada Santarém Abrantes Fontes Sem alteração Santarém Abrantes Martinchel Sem alteração Santarém Abrantes Mouriscas Sem alteração Santarém Abrantes Pego Sem alteração Santarém Abrantes Rio de Moinhos Sem alteração Santarém Abrantes Rossio ao Sul do Tejo Agregação União das freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio Ao Sul do Tejo Santarém Abrantes São Facundo Agregação União das freguesias de São Facundo e Vale das Mós Santarém Abrantes São Miguel do -

Guilherme Caldeira Nunes
RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES Guilherme Caldeira Nunes RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES Os Hábitos Desportivos dos Jovens Alunos do Ensino Secundário Orientadora tutorial: Professora Doutora Salomé Marivoet Orientador institucional: Doutor Luis Valente Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Lisboa 2017 RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES Guilherme Nunes Guilherme Caldeira Nunes RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES Os Hábitos Desportivos dos Jovens Alunos do Ensino Secundário Relatório de estágio defendido em provas públicas para a obtenção do Grau de Mestre em Sociologia do Desporto, Organização e Desenvolvimento, conferido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, no dia 21 de Junho de 2018, perante o júri, nomeado pelo Despacho Reitoral nº 197/2018 com a seguinte composição: Presidente: Professor Doutor Jorge dos Santos Proença Martins Orientador: Professora Doutora Maria Salomé Fernandes Martins Marivoet Arguente: Professor Doutor José Gregório Viegas Brás Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Lisboa 2017 1 ULHT RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES Guilherme Nunes AGRADECIMENTO A todos aqueles que contribuíram para a realização e finalização deste estudo, desde os grandes profissionais da Câmara Municipal de Abrantes, aos prestáveis colaboradores da Comissão de Proteção de Dados, aos meus colegas de curso, aos meus familiares mais próximos, e a todos os professores que me transmitiram o seu conhecimento ao longo do percurso de Mestrado, não poderia finalizar este estudo sem destacar o excelentissimo Dr. -

Câmara Municipal De Abrantes Reunião Ordinária Pública De 06 De Abril De 2021
Câmara Municipal de Abrantes Reunião ordinária pública de 06 de abril de 2021 Divulgação da ordem do dia Manuel Jorge Séneca da Luz Valamatos Reis, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, torna público que, nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, estabeleceu a seguinte ordem do dia para a reunião ordinária da Câmara Municipal de Abrantes, que se realizará no dia 06 de abril de 2021, com início às 09:30 horas, em formato online. I. Período de intervenção aberto ao público II. Intervenções dos membros do executivo antes da ordem do dia III. Aprovação da ata da reunião anterior IV. Ordem do dia • Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Regimento de Cavalaria, nº 6, dando conta da realização exercícios de fogos reais no polígono de tiro do Campo Militar de Santa Margarida, nos dias 8 e 9 de abril de 2021 – para conhecimento. • Correspondência dos Bombeiros de Abrantes com os dados estatísticos da corporação, referentes aos Serviços do ano 2020, com comparativo de anos referente ao período 2016-2020, assim como, os dados referentes a situações motivadas pelo SARS-COV2 (COVID19), que originaram empenhamento de meios do Corpo de Bombeiros, desde o seu início até ao dia 24 de março de 2021 - para conhecimento. • Proposta de declaração de utilidade pública, e consequente constituição de servidões administrativas, nos terrenos rústicos ou parcelas de terrenos necessários à instalação de rede primária de faixas de gestão de combustíveis definida no Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDDFCI) e em particular no Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) – para aprovação. -

Santarém Abrantes Abrantes (São João) Agregação União Das Freguesias De Abrantes (São Vicente E São João) E Alferrarede
Reorganização Administrativa do Território das Freguesias - (RATF) Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro - Reorganização Administrativa do Território das Freguesias; Declaração de Retificação n.º 19/2013, de 28 de março; Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro - Reorganização Administrativa de Lisboa Distrito Concelho Freguesia (JF) Informação adicional Alteração RATF Freguesia criada/alterada pela RATF Informação adicional Santarém Abrantes Abrantes (São João) Agregação União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede Santarém Abrantes Abrantes (São Vicente) Agregação União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede Santarém Abrantes Aldeia do Mato Agregação União das freguesias de Aldeia do Mato e Souto Santarém Abrantes Alferrarede Agregação União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede Santarém Abrantes Alvega Agregação União das freguesias de Alvega e Concavada Santarém Abrantes Bemposta Sem alteração Santarém Abrantes Carvalhal Sem alteração Santarém Abrantes Concavada Agregação União das freguesias de Alvega e Concavada Santarém Abrantes Fontes Sem alteração Santarém Abrantes Martinchel Sem alteração Santarém Abrantes Mouriscas Sem alteração Santarém Abrantes Pego Sem alteração Santarém Abrantes Rio de Moinhos Sem alteração Santarém Abrantes Rossio ao Sul do Tejo Agregação União das freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio Ao Sul do Tejo Santarém Abrantes São Facundo Agregação União das freguesias de São Facundo e Vale das Mós Santarém Abrantes São Miguel do -

Aces Médio Tejo
ACES MÉDIO TEJO 06-2016 ACES MÉDIO TEJO 2016 Direção de ACES A sede do agrupamento localiza-se em Riachos, sito na Rua Dr. Rivotti, 2350-365 Riachos: Mensagem Diretora Executiva O ACES Médio Tejo, com um total de cerca de 227.000 utentes, tem por missão garantir a prestação de cuidados de saúde, promoção da saúde e prevenção da doença, à população de 11 concelhos: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila nova da Barquinha, numa área territorial de 2.706 Km². Prestamos cuidados de saúde em 96 locais. O ACES Médio Tejo tem em funcionamento 9 Unidades de Saúde Familiar (USF), 10 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e 7 Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC). Tem também uma Unidade de Saúde Pública (USP) e uma Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP). Temos planeado a muito curto prazo a abertura de mais duas Unidades de Cuidados na Comunidade e o alargamento de uma já existente, ficando apenas um concelho do ACES sem cobertura. O ACES Médio Tejo ACES Médio Tejo 2 ACES MÉDIO TEJO 2016 desenvolve também atividades de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, controlo e avaliação dos resultados e participa na formação de diversos grupos profissionais nas suas diferentes fases, pré-graduada, pós-graduada e contínua. No ACES Médio Tejo existem inúmeras possibilidades de trabalho para recém- especialistas de Medicina Geral e Familiar. No espirito da reforma dos cuidados de saúde primários, os profissionais podem integrar projetos já em funcionamento ou criar um novo projeto. A Direção Executiva do ACES procura sempre que possível adequar as necessidades dos utentes aos objetivos profissionais e pessoais de cada profissional. -

CONCELHO FREGUESIA Az /Sb PMPB Cs Ec Bemposta ME MMM
CONCELHO FREGUESIA Az /Sb P M P B Cs Ec Bemposta ME M M M Pego E M M M Tramagal E E M União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede E M ME M União das freguesias de Alvega e Concavada E E M União das freguesias de São Facundo e Vale das Mós ME M M M Abrantes União das freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo E M E M Martinchel M E M Mouriscas E M Rio de Moinhos ME M Fontes M M Carvalhal E M União das freguesias de Aldeia do Mato e Souto ME M Aguada de Cima M E Fermentelos E E Macinhata do Vouga E E Valongo do Vouga M E União das freguesias de Águeda e Borralha M E Águeda União das freguesias de Barrô e Aguada de Baixo M E União das freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão E E União das freguesias de Recardães e Espinhel E E União das freguesias de Travassô e Óis da Ribeira M E União das freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga E E União das freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba E E Carapito ME E Cortiçada E ME Dornelas ME E Eirado ME E Forninhos E Aguiar da Beira Pena Verde ME ME Pinheiro E E União das freguesias de Aguiar da Beira e Coruche ME ME União das freguesias de Sequeiros e Gradiz ME ME União das freguesias de Souto de Aguiar da Beira e Valverde ME ME Santiago Maior ME Capelins (Santo António) ME Alandroal Terena (São Pedro) ME M União das freguesias de Alandroal (Nossa Senhora da Conceição), São Brás dos Matos (Mina do ME M M Bugalho) e Juromenha (Nossa Senhora do Loreto) Alquerubim M E Angeja E E Albergaria-a-Velha Branca E E Ribeira de Fráguas -

Distrito Concelho Freguesia N.º Eleitores Mandatos AF Obs. Aveiro Águeda Aguada De Cima 3627 9 Aveiro Águeda Fermentelos 2841
AL2021 N.º Mandatos Distrito Concelho Freguesia Obs. Eleitores AF Aveiro Águeda Aguada de Cima 3627 9 Aveiro Águeda Fermentelos 2841 9 Aveiro Águeda Macinhata do Vouga 3008 9 Aveiro Águeda União das freguesias de Águeda e Borralha 12066 13 Aveiro Águeda União das freguesias de Barrô e Aguada de Baixo 2921 9 Aveiro Águeda União das freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão 1354 9 Aveiro Águeda União das freguesias de Recardães e Espinhel 5333 13 Aveiro Águeda União das freguesias de Travassô e Óis da Ribeira 2010 9 Aveiro Águeda União das freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga 4042 9 Aveiro Águeda União das freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba 772 7 Aveiro Águeda Valongo do Vouga 4276 9 Aveiro Albergaria-a-Velha Albergaria-a-Velha e Valmaior 9701 13 Aveiro Albergaria-a-Velha Alquerubim 2031 9 Aveiro Albergaria-a-Velha Angeja 1807 9 Aveiro Albergaria-a-Velha Branca (Albergaria-a-Velha) 4949 9 Aveiro Albergaria-a-Velha Ribeira de Fráguas 1431 9 Aveiro Albergaria-a-Velha São João de Loure e Frossos 2506 9 Aveiro Anadia Avelãs de Caminho 1081 9 Aveiro Anadia Avelãs de Cima 1836 9 Aveiro Anadia Moita (Anadia) 2124 9 Aveiro Anadia Sangalhos 3556 9 Aveiro Anadia São Lourenço do Bairro 2195 9 Aveiro Anadia União das freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas 2463 9 Aveiro Anadia União das freguesias de Arcos e Mogofores 5635 13 Aveiro Anadia União das freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro 3003 9 Aveiro Anadia Vila Nova de Monsarros 1499 9 Aveiro Anadia Vilarinho do Bairro 2664 9 Aveiro -
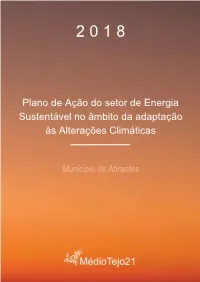
Plano De Ação Do Setor De Energia Sustentável No Âmbito Da Adaptação Às Alterações Climáticas
Município de Abrantes 2 0 1 8 Plano de Ação do setor de Energia Sustentável no âmbito da adaptação às Alterações Climáticas Município de Abrantes 0 Município de Abrantes Índice Município de Abrantes .................................................................................................. 9 População ............................................................................................................... 10 Agência Regional de Energia .................................................................................. 10 Matriz energética ........................................................................................................ 12 Nota Metodológica .................................................................................................. 12 Vetores Energéticos ................................................................................................ 13 Consumos Setoriais ................................................................................................ 15 Índices e Indicadores de Densidade e Intensidade Energética ................................ 23 Desagregação subsetorial de consumos ................................................................. 57 Comparação de indicadores de Abrantes com Portugal Continental ....................... 61 Matriz de Emissões .................................................................................................... 62 Nota Metodológica .................................................................................................. 62 Emissões