Factores Determinantes Do Comércio Internacional
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Strategic Trade and Investment Policies: Implications for the Study of International Political Economy
Strategic Trade and Investment Policies: Implications for the Study of International Political Economy Jeffrey A. Hart and Aseem Prakash 1. INTRODUCTION USINESS gurus point out that successful firms often carefully strategise B about what to sell, where to sell, how to sell, and how and where to manufacture their goods and services.1 Suppose a country, drawing inspiration from such firms, were to formulate a set of economic policies to become globally competitive in leading economic sectors. How specific or encompassing would such policies be and what might be the justifications for them? Even though the theory and practicality of such policies — the strategic trade and industrial policies (STIPs) — is contested, they retain their appeal for politicians and policymakers. In this paper we discuss how and why STIPs have created a new agenda for the study of international political economy. State intervention to directly guide industrial activity is called industrial policy and to guide foreign trade is called trade policy. Industrial policies differ from macroeconomic policies in that they target only a subset of the economy. Whereas macroeconomic policies (such as tax rates, level of deficit spending and interest-rate policies) generally do not discriminate among types of firms or industries, industrial policies (such as R&D subsidies, tax subsidies, preferential loans and credit allocations) are targeted at specific firms or industries. JEFFREY A. HART is Professor in the Department of Political Science, Indiana University. ASEEM PRAKASH is Assistant Professor in the School of Business, George Washington University. This is a revised version of a paper presented at the 37th annual convention of the International Studies Association, San Diego, California, April 16–20, 1996. -

Past Exams Questions
International Business Economics Instructions: 3 points demand: Determine whether the statement is true or false and motivate your answer; 9 points demand: short essay. 1. Globalisation: • Describe the globalisation process and discuss its link with poverty and inequality (9 points). • “The extreme poverty has shrunk in the last 20 years”. Comments. (9 points) • Describe the main features of the globalisation process. (9 points) • The world poverty has decreased. Globalisation has increased. Hence we can infer that to reduce the poverty level we should decrease globalisation. (9 points) 2. Causes and consequences of international trade: the principle of comparative advantage (differences in relative labour productivity). 2.1 The Ricardian Model: Comparative and Absolute Advantages. • A country cannot have comparative advantages in producing all goods/in all its sectors. (3 points) • A country cannot have a comparative and absolute advantage in the same goods. (3 points) • A country cannot have an absolute advantage in all its sectors. (3 points) • A country cannot have a comparative disadvantage in producing all goods. (3 points) • If a country has a comparative advantage in producing a good, it cannot have an absolute advantage on the same production. (3 points) • China has an absolute and comparative advantage in all its sectors. (3 points) • Thanks to the comparative advantage’s theory we can explain the “inter-industry” but not the “intra-industry” (i.e. of similar goods) trade. (3 points) • A country has a comparative advantage in producing a good if its labour force produces it relatively more efficiently than workers in the other country. (3 points) • A country has a comparative advantage in a sector if the workers employed in that sector are relatively more productive than the labour force in another country. -
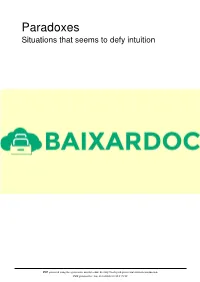
Paradoxes Situations That Seems to Defy Intuition
Paradoxes Situations that seems to defy intuition PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Tue, 08 Jul 2014 07:26:17 UTC Contents Articles Introduction 1 Paradox 1 List of paradoxes 4 Paradoxical laughter 16 Decision theory 17 Abilene paradox 17 Chainstore paradox 19 Exchange paradox 22 Kavka's toxin puzzle 34 Necktie paradox 36 Economy 38 Allais paradox 38 Arrow's impossibility theorem 41 Bertrand paradox 52 Demographic-economic paradox 53 Dollar auction 56 Downs–Thomson paradox 57 Easterlin paradox 58 Ellsberg paradox 59 Green paradox 62 Icarus paradox 65 Jevons paradox 65 Leontief paradox 70 Lucas paradox 71 Metzler paradox 72 Paradox of thrift 73 Paradox of value 77 Productivity paradox 80 St. Petersburg paradox 85 Logic 92 All horses are the same color 92 Barbershop paradox 93 Carroll's paradox 96 Crocodile Dilemma 97 Drinker paradox 98 Infinite regress 101 Lottery paradox 102 Paradoxes of material implication 104 Raven paradox 107 Unexpected hanging paradox 119 What the Tortoise Said to Achilles 123 Mathematics 127 Accuracy paradox 127 Apportionment paradox 129 Banach–Tarski paradox 131 Berkson's paradox 139 Bertrand's box paradox 141 Bertrand paradox 146 Birthday problem 149 Borel–Kolmogorov paradox 163 Boy or Girl paradox 166 Burali-Forti paradox 172 Cantor's paradox 173 Coastline paradox 174 Cramer's paradox 178 Elevator paradox 179 False positive paradox 181 Gabriel's Horn 184 Galileo's paradox 187 Gambler's fallacy 188 Gödel's incompleteness theorems -

A Test of the Heckscher-Ohlin Theorem on India Exports
A TEST OF THE HECKSCHER-OHLIN THEOREM ON INDIA EXPORTS A Thesis Presented to the Faculty of California State Polytechnic University, Pomona In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Master of Science In Economics By Amith Jay Shetty 2014 SIGNATURE PAGE THESIS: A TEST OF THE HECKSCHER-OHLIN THEOREM ON INDIA EXPORTS AUTHOR: Amith Jay Shetty DATE SUBMITTED: Spring 2014 Economics Department Dr. Carsten Lange _________________________________________ Project Committee Chair Professor of Economics Dr. Bruce Brown _________________________________________ Professor of Economics Dr. Craig Kerr _________________________________________ Professor of Economics ii ABSTRACT The Heckscher-Ohlin model is a general equilibrium mathematical model of international trade. The model states that countries will export products that will utilize their abundant and cheap factors of productions and import products that utilize the countries’ scarce factors. This paper will test that theory against the international trade data between India and the United States. India is known to be a labor abundant country, which should result in India exporting labor-intensive goods to the United States. Using 126 commodities and labor statistics taken from both countries, this paper will find if the 2009 trade data between India and the United States are consistent with the Heckscher- Ohlin model. iii TABLE OF CONTENTS Signature Page .............................................................................................................. ii Abstract ........................................................................................................................ -

Economic Growth, Capitalism and Unknown Economic Paradoxes
Sustainability 2012, 4, 2818-2837; doi:10.3390/su4112818 OPEN ACCESS sustainability ISSN 2071-1050 www.mdpi.com/journal/sustainability Article Economic Growth, Capitalism and Unknown Economic Paradoxes Stasys Girdzijauskas *, Dalia Streimikiene and Andzela Mialik Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Muitines g. 8, LT-44280, Kaunas, Lithuania; E-Mails: [email protected] (D.S.); [email protected] (A.M.) * Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: [email protected]; Tel.: +370-37-422-566; Fax: +370-37-423-222. Received: 28 August 2012; in revised form: 9 October 2012 / Accepted: 16 October 2012 / Published: 24 October 2012 Abstract: The paper deals with failures of capitalism or free market and presents the results of economic analysis by applying a logistic capital growth model. The application of a logistic growth model for analysis of economic bubbles reveals the fundamental causes of bubble formation—economic paradoxes related with phenomena of saturated markets: the paradox of growing returnability and the paradoxes of debt and leverage trap. These paradoxes occur exclusively in the saturated markets and cause the majority of economic problems of recent days including overproduction, economic bubbles and cyclic economic development. Unfortunately, these paradoxes have not been taken into account when dealing with the current failures of capitalism. The aim of the paper is to apply logistic capital growth models for the analysis of economic paradoxes having direct impact on the capitalism failures such as economic bubbles, economic crisis and unstable economic growth. The analysis of economic paradoxes and their implication son failures of capitalism provided in the paper presents the new approach in developing policies aimed at increasing economic growth stability and overcoming failures of capitalism. -
Editors' Introduction and Summary
Editors' Introduction and Summary THIS IS THE FIFTH ISSUE OF BrookingsPapers on EconomicActivity, a publicationthat appearsthree times a yearand contains the articles,reports, and highlightsof the discussionfrom conferencesof the BrookingsPanel on EconomicActivity. Financed by grantsfrom the AlfredP. SloanFoun- dation and the Alex C. WalkerFoundation, the panelwas formedto pro- mote professionalresearch and analysisof key developmentsin U.S. eco- nomic activity.Prosperity and pricestability are its basic subjects. The expertiseof the panel is concentratedon the "live" issues of eco- nomic performancethat confront the maker of public policy and the executivein the privatesector. Particular attention is devotedto recentand currenteconomic developments that aredirectly relevant to the contempo- raryscene or especiallychallenging because they stretchour understanding of economictheory or previousempirical findings. Such issues are typically quantitativein character,and the researchfindings are often of a statistical nature.Nonetheless, in all the articlesand reports,the reasoningand the conclusionsare developedin a form both intelligibleto the interested,in- formednonspecialist and usefulto the macroeconomicexpert. In short,the papers aim at several objectives-meticulous and incisive professional analysis,timeliness and relevanceto currentissues, and lucid presentation. The four principalarticles and seven shorterreports presented in this issue were preparedfor the fifth conferenceof the Brookingspanel, held in Washingtonon September9-10, -

List of Paradoxes 1 List of Paradoxes
List of paradoxes 1 List of paradoxes This is a list of paradoxes, grouped thematically. The grouping is approximate: Paradoxes may fit into more than one category. Because of varying definitions of the term paradox, some of the following are not considered to be paradoxes by everyone. This list collects only those instances that have been termed paradox by at least one source and which have their own article. Although considered paradoxes, some of these are based on fallacious reasoning, or incomplete/faulty analysis. Logic • Barbershop paradox: The supposition that if one of two simultaneous assumptions leads to a contradiction, the other assumption is also disproved leads to paradoxical consequences. • What the Tortoise Said to Achilles "Whatever Logic is good enough to tell me is worth writing down...," also known as Carroll's paradox, not to be confused with the physical paradox of the same name. • Crocodile Dilemma: If a crocodile steals a child and promises its return if the father can correctly guess what the crocodile will do, how should the crocodile respond in the case that the father guesses that the child will not be returned? • Catch-22 (logic): In need of something which can only be had by not being in need of it. • Drinker paradox: In any pub there is a customer such that, if he or she drinks, everybody in the pub drinks. • Paradox of entailment: Inconsistent premises always make an argument valid. • Horse paradox: All horses are the same color. • Lottery paradox: There is one winning ticket in a large lottery. It is reasonable to believe of a particular lottery ticket that it is not the winning ticket, since the probability that it is the winner is so very small, but it is not reasonable to believe that no lottery ticket will win. -

Ma Finalsemester Subject Code: Maeco502 International Economics
1 M.A (ECONOMICS) MA FINALSEMESTER SUBJECT CODE: MAECO502 INTERNATIONAL ECONOMICS 2 BOARD OF STUDIES 1. Prof. S.K Nayak Head Chairman (Ex-officio) Dept. of Economics, RGU Member 2. Prof. A. Mitra Dept. of Economics, RGU Member 3. Prof. (Ms.) V. Upadhyay Dept. of Economics, RGU Member 4. Prof. N.C Roy Dept. of Economics, RGU Member 5. Prof. M P Bezbaruah Dept. of Economics, Guwahati University, Guwahati Member 6. Dr. RajuMondal Dept. of Economics, Assam University, Silchar, Assam Member Secretary 7. Dr. LijumNochi Dept. of Economics, RGU Authors: - Prof. S.K. Nayak, Dept. of Economics, RGU & Dr. R.K. Mandal, Dept. of Economics, DNGC, Itanagar (Unit: I & II) Prof. S.K. Nayak, Dept. of Economics, RGU & Dr. A.I. Singh, Dept. of Economics, DNGC, Itanagar (Unit: II & X) Dr. Lijum Nochi & Mr. Nyage Riba, Dept. of Economics, RGU (Unit: IV & V) Dr. D.B. Gurung, Dept. of Economics, RGU (Unit: VI, VII & VIII) Dr. Kaju Nath, NIT, Agartala (Unit: IX) 3 SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE PAPER NO: MAECO502 INTERNATIONAL ECONOMICS SYLLABI Mapping in Book UNIT- I: COMPARATIVE COST AND OPPORTUNITY COST MODELS Ricardo’s Model of Comparative Advantages - Modified Ricardian Theory (Elaboration and Refinement) - Haberler’s Opportunity Cost Theory - Trade under Increasing, Decreasing And Constant Cost Conditions UNIT-II: TRADE, FACTOR ENDOWMENTS AND FACTOR PRICE Leontief Paradox - Stolper-Samuelson Theorem: Factor Price Equalization Theorem - International Trade and Imperfect Competition UNIT- III: TERMS OF TRADE Meaning of Terms of Trade UNIT-IV: TARIFF Arguments -

A Critique of the Leontief Paradox. Diarmaid Smyth Senior Sophister
A Critique of the Leontief Paradox. Diarmaid Smyth Senior Sophister The exploitation of comparative advantage is one of the central tenets of classical trade theory. When Leontief found evidence of a lack of applicability to the real world, a flurry of research was begun to explain these results. Diarmaid Smyth discusses the apparent paradox and explains how the gap between theory and practice was eventually bridged. Introduction The Heckscher-Ohlin (H-O) theorem is one of the most celebrated theorems of International economics. According to the theorem, countries will tend to have a comparative advantage (CA) in the production of those goods that make intensive use of their abundant factor of production. Therefore, a nation will seek to export those goods that use its abundant factor relatively intensively in return for imports of those goods that use its scarce factor relatively intensively. In 1953, Wassily Leontief, using an input-output matrix, sought to test the validity of the theorem with respect to American trade in 1947. At the time, US workers visibly worked with more capital per capita than all other nations, so in accordance with the theorem it was predicted that the US would have a CA in the production of capital intensive goods and should, therefore, export these. However, Leontiefs startling results cast huge doubt on the H-O theorem as US imports were found to be more capital intensive than its exports. This famous conclusion was labelled as the Leontief paradox. The purpose of this paper is to explain why, in fact, the paradox occurred, by primarily focusing on what are known as the natural resource and human capital explanations before going on to discuss the critical importance and modern day relevance of the factor content of trade approach. -

International Trade: Evolution in the Thought and Analysis of Wassily Leontief
August 19, 2000 DRAFT International Trade: Evolution in the Thought and Analysis of Wassily Leontief by Faye Duchin Department of Economics Rensselaer Polytechnic Institute 110 8th St. Troy, NY USA Summary. Leontief’s 1933 article on the use of indifference curves in the analysis of foreign trade is widely cited as a fundamental contribution to neoclassical theory. Twenty years later, he collected the data for a simple input-output computation. The results exhibited the famous trade “paradox” that placed the modern theory of factor proportions seriously in doubt, laying the groundwork for today’s more heterodox “new trade theory.” After the passage of yet another 20 years, Leontief published his Nobel Memorial lecture, which described in embryonic form the input-output model of international exchange he was to construct several years later. A total of only eight publications about international trade exemplify the dramatic evolution in Leontief’s thought and analysis about economic structure and interdependence over a period of several decades. The early work, both theoretical and empirical, garnered widespread attention within the profession. By contrast, the post-1973 work with its emphasis on structure and scenario analysis has had more influence on issue-oriented research, notably in the area of the environment, and holds great promise as the framework of choice for a new generation of interdisciplinary scholars. ************ Between 1933 and 1977, Wassily Leontief published 4 articles, 2 reviews of the work of other economists, his Nobel Memorial Lecture, and a book on the subject of international trade. Despite the short length of this list, the subject was central to his concern with economic interdependence. -

Mgs 726 Course Title: Global Economic Environment
NATIONAL OPEN UNIVERSITY OF NIGERIA SCHOOL OF MANAGEMENT SCIENCES COURSE CODE: MGS 726 COURSE TITLE: GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT NATIONAL OPEN UNIVERSITY OF NIGERIA SCHOOL OF MANAGEMENT SCIENCES COURSE GUIDE GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT Course Code MGS 726 Course Title Global Economic Environment Course Developers/Writers Dr C.I. Okeke (NOUN) Mrs.E.A. Adegbola (NOUN) Mr. S.O Israel- Cookey (NOUN) Mrs Temi Olajide-Arise (NOUN) Miss Remi Adelowo (NOUN) Programme Leader Mr S.A Araga (NOUN) Course Editor Programme Coordinator Mrs Ihuoma Efugi (NOUN) COURSE GUIDE MGS 726 CONTENTS PAGE Introduction 3 Course Contents 3 Course Aims 3 Course Objectives 4 Working through This Course 4 Course Materials 4 Study Units 5 Textbooks and References 5 Assignment File 5 Assessment 6 Tutor-Marked Assignment 6 Final Examination and Grading 6 How to get the Best out of this Course 7 Facilitators/Tutors and Tutorials 7 Useful Advice 7 Summary 7 MGS 726 COURSE GUIDE INTRODUCTION MGS 726: Global Economic Environment is a one semester course work having three credit units. It is available to students on PGD degree programme in the School of Management Sciences at the National Open University of Nigeria. The course is made up of 16 units covering essential topics in Global Economic Environment. The topics treated include: global culture and multilateral negotiations, global power and wealth distribution and multilateral negotiations among others. This course guide tells you what the course is all about, the relevant textbooks you should consult, and how to work through your course materials to get the best out of it. It also contains some guidelines on your tutor-marked assignments. -

Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Research Papers in Economics This PDF is a selection from an out-of-print volume from the National Bureau of Economic Research Volume Title: Economic Research: Retrospect and Prospect Vol 6: Human Resources Volume Author/Editor: Schultz, Theodore W. Volume Publisher: UMI Volume ISBN: 0-87014-255-0 Volume URL: http://www.nber.org/books/schu72-1 Publication Date: 1972 Chapter Title: Human Capital: Policy Issues And Research Opportunities Chapter Author: Theodore W. Schultz Chapter URL: http://www.nber.org/chapters/c4126 Chapter pages in book: (p. 1 - 84) Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities Theodore W. Schultz The University of Chicago Human capital is a new research area in economics. It was the unex- plained rise in the economic value of man that led to the concept of human capital. Extensions of investment, theory to analyze the formation of human capital set the stage for empirical studies of a wide array of such investments. Then, seeing the associated rise in the value of time of human agents, this led to the further extension of economic theory to cope with the allocation of time, a development that has greatly increased the possibilities of analyzing nonmarket activities with reference to the economic activities of the household. Human capital research has important policy implications, as I shall show. My purpose in this survey is to examine some of the interactions between policy and research with special reference to human capital. As I proceed, I shall attempt to appraise the more important parts of this research—with a view to assessing the need for additional work in this area that may be useful in making policy decisions.' In thinking about these interactions, I find it helpful to approach them in terms of the supply of and demand for economic information.