LETICIA FREIRE DE OLIVEIRA.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
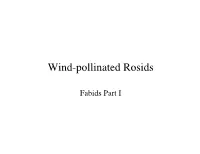
Phylogeny of Rosids
Wind-pollinated Rosids Fabids Part I Announcements Lab Quiz today. Lecture review Tuesday, 3-4pm, HCK 320. Lecture Exam Wednesday. Arboretum Field Trip Wednesday. Phylogeny of angiosperms Angiosperms “Basal angiosperms” Parallel venation scattered vascular bundles 1 cotyledon Tricolpate pollen vessels (Jansen et al. 2007) Phylogeny of Eudicots (or Tricolpates) Eudicots (or Tricolpates) “Basal eudicots” (Soltis et al. 2011) Phylogeny of Rosids Rosids Saxifragales Saxifragaceae Crassulaceae Fabids: Malvids: Malpighiales Brassicales Salicaceae Brassicaceae Violaceae Malvales Euphorbiaceae Fabales Malvaceae Sapindales Fabaceae Rosales Aceraceae Myrtales Rosaceae Fagales Onagraceae Betulaceae Geraniales Fagaceae Geraniaceae (The Angiosperm Phylogeny Group 2009) Crassulaceae (Stonecrop family) http://www.blankees.com/house/plants/image/kalanchoe.jpg Kalanchoe sp. Echeveria derenbergii Echeveria sp. http://www.smgrowers.com/imagedb/Echeveria_derenbergii.JPG http://micheleroohani.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/succulent-echeveria-michele-roohani-huntington.jpg Crassulacean Acid Metabolism http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/biology/phoc.html#c4 Green Roofs http://en.wikipedia.org/wiki/Sedum Sedum acre biting stonecrop http://ecobrooklyn.com/extensive-green-roof/ Crassulaceae (Stonecrop family) 35 genera, 1500 species (Crassula, Echeveria, Kalanchoe, Sedum) Habit: Stem: Leaves: Tim Hagan 2006 Crassulaceae (Stonecrop family) Inflorescence: Flowers: Tim Hagan 2003 Sex of plant: Rod Gilbert 2006 Crassulaceae (Stonecrop family) Textbook -

Aleurites Moluccana (°) Invasif : Score: 12 ( ) (L
Fiche présentation arbre : Aleurites moluccana (°) Invasif : score: 12 ( ) (L. ) Willd. , 1805 (PIER ) ↑ Utilisations (°) Nom scientifique. Auteur © Benjamin Lisan Nom s commun s : Noms vernaculaires : « noyer des Moluques », « noyer de bancoule », « bancoule » ou « bancoulier ». À Tahiti , on l'appelle Ti'a'iri, Tutui, Tutui ma'ohi ou Tuitui (Source : Wikipedia Fr). Nom s commerciaux : Candlenut , Candleberry, india n wallnut , Kemiri, Varnish tree , Nu ez de la Ind ia, Buah keras ou Kukui nuts tree (Anglais). Synonyme (s) : Les espèces ci-dessous sont considérées comme synonymes de Aleurites moluccana (L.) Willd. : • Jatropha moluccana L. • Aleurites angustifolia Vieill. • Aleurites integrifolia Vieill. • Aleurites javanica Gand. • Aleurites pentaphylla Wall. • Aleurites pentaphyllus mur. ex Langeron • Aleurites remyi Sherff • Aleurites triloba J.R.Forst. & G.Forst. • Aleurites trilobus JRForst. & G.Forst. (Sources : Wikipedia Fr & Wikipedia En). Distribution, r épartiti on et régions géographique s : Cet arbre est originaire de différentes zones de l'Asie tropicale (notamment la Malaisie ) et de certaines îles du Pacifique ( Indonésie , Nouvelle-Calédonie ) (Source : Wikipedia Fr). Aire de répartition naturelle : « Originaire de Malaisie, bien que son aire d'origine précise est pratiquement impossible à déterminer en raison de sa propagation rapide par l'homme, maintenant répandue dans de nombreuses régions tropicales » (Wagner et al , 1999; 598 p.) (Source : PIER). Son aire de répartition naturelle est impossible à établir avec précision en raison de sa propagation rapide par l'homme, et l'arbre est maintenant distribué dans tous les tropiques du Nouveau et de l'Ancien Monde (Source : Wikipedia En). Répartition géographique : Native : Brunei, Cambodge, Chine, Iles Cook, Fidji, Polynésie française, Indonésie, Kiribati, Laos, Malaisie, Îles Marshall, Myanmar, Nouvelle-Calédonie, l'île de Norfolk, en Papouasie-Nouvelle- Guinée, Philippines, Samoa, Îles Salomon, Thaïlande, Tonga, Vanuatu, Vietnam. -

Seeds and Plants Imported
U. S. DEPARTMENT GF AGRICULTURE. .-- - / - BUREAU OF PLANT INDUSTRY. ... , WILLIAM A. TAYLOR, Chief oiBureau. ,,«,, INVENTORY SEEDS AND PLANTS IMPORTED BY THE OFFICE OF FOREIGN SEED AND PLANT INTRODUCTION DURING THE -PERIOD FROM OCTOBER 1 TO DECEMBER 31,1913, (No. 37; Nos. 36259 TO 36936.) WASHINGTON: GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 1916. Issued March 25,1916. U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. BUREAU OF PLANT INDUSTRY. WILLIAM A. TAYLOR, Chief of Bureau, INVENTORY OF SEEDS AND PLANTS IMPORTED OFFICE OF FOREIGN SEED AND PLANT INTRODUCTION DURING THE PERIOD FROM OCTOBER 1 TO DECEMBER 31,1913. (No. 37; Nos. 36259 TO 36936.) WASHINGTON: GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 1916. BUREAU OF PLANT INDUSTRY. Chief of Bureau, WILLIAM A. TAYLOR. Assistant Chief of Bureau, KARL F. KELLERMAN. Officer in Charge of Publications, J. E. ROCKWELL. Chief Clerk, JAMES E. JONES. FOREIGN SEED AND PLANT INTRODUCTION. SCIENTIFIC STAFF. David Fairchild, Agricultural Explorer in Charge. P. H. Dorsett, Plant Introducer, in Charge of Plant Introduction Field Stations. Peter Bisset, Plant Introducer, in Charge of Foreign Plant Distribution. Frank N. Meyer and Wilson Popenoe, Agricultural Explorers. H. C. Skeels, S. C. Stuntz, and R. A. Young, Botanical Assistants. Nathan Menderson and Glen P. Van Eseltine, Assistants. Robert L. Beagles, Superintendent, Plant Introduction Field Station, Chico, Cal. Edward Simmonds, Superintendent, Subtropical Plant Introduction Field Station, Miami, Fla. John M. Rankin, Superintendent, Yarrow Plant Introduction Field Station, Rockville, Md. E. R. Johnston, In Charge, Plant Introduction Field Station, Brooksville, Fla. Edward Goucher and H. Klopfer, Plant Propagators. Collaborators: Aaron Aaronsohn, Director, Jewish Agricultural Experimental Station, Haifa, Palestine; Thomas W. Brown, Gizeh, Cairo, Egypt; H. -

Plant DNA Barcodes and a Community Phylogeny of a Tropical Forest Dynamics Plot in Panama
Plant DNA barcodes and a community phylogeny of a tropical forest dynamics plot in Panama W. John Kressa,1, David L. Ericksona, F. Andrew Jonesb,c, Nathan G. Swensond, Rolando Perezb, Oris Sanjurb, and Eldredge Berminghamb aDepartment of Botany, MRC-166, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, P.O. Box 37012, Washington, DC 20013-7012; bSmithsonian Tropical Research Institute, P.O. Box 0843-03092, Balboa Anco´n, Republic of Panama´; cImperial College London, Silwood Park Campus, Buckhurst Road, Ascot, Berkshire SL5 7PY, United Kingdom; and dCenter for Tropical Forest Science - Asia Program, Harvard University Herbaria, 22 Divinity Avenue, Cambridge, MA 02138 Communicated by Daniel H. Janzen, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, September 3, 2009 (received for review May 13, 2009) The assembly of DNA barcode libraries is particularly relevant pling: the conserved coding locus will easily align over all taxa within species-rich natural communities for which accurate species in a community sample to establish deep phylogenetic branches identifications will enable detailed ecological forensic studies. In whereas the hypervariable region of the DNA barcode will align addition, well-resolved molecular phylogenies derived from these more easily within nested subsets of closely related species and DNA barcode sequences have the potential to improve investiga- permit relationships to be inferred among the terminal branches tions of the mechanisms underlying community assembly and of the tree. functional trait evolution. To date, no studies have effectively In this respect a supermatrix design (8, 9) is ideal for using a applied DNA barcodes sensu strictu in this manner. In this report, mixture of coding genes and intergenic spacers for phylogenetic we demonstrate that a three-locus DNA barcode when applied to reconstruction across the broadest evolutionary distances, as in 296 species of woody trees, shrubs, and palms found within the the construction of community phylogenies (10). -

Checklist of the Vascular Plants of San Diego County 5Th Edition
cHeckliSt of tHe vaScUlaR PlaNtS of SaN DieGo coUNty 5th edition Pinus torreyana subsp. torreyana Downingia concolor var. brevior Thermopsis californica var. semota Pogogyne abramsii Hulsea californica Cylindropuntia fosbergii Dudleya brevifolia Chorizanthe orcuttiana Astragalus deanei by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson San Diego Natural History Museum and San Diego State University examples of checklist taxa: SPecieS SPecieS iNfRaSPecieS iNfRaSPecieS NaMe aUtHoR RaNk & NaMe aUtHoR Eriodictyon trichocalyx A. Heller var. lanatum (Brand) Jepson {SD 135251} [E. t. subsp. l. (Brand) Munz] Hairy yerba Santa SyNoNyM SyMBol foR NoN-NATIVE, NATURaliZeD PlaNt *Erodium cicutarium (L.) Aiton {SD 122398} red-Stem Filaree/StorkSbill HeRBaRiUM SPeciMeN coMMoN DocUMeNTATION NaMe SyMBol foR PlaNt Not liSteD iN THE JEPSON MANUAL †Rhus aromatica Aiton var. simplicifolia (Greene) Conquist {SD 118139} Single-leaF SkunkbruSH SyMBol foR StRict eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §§Dudleya brevifolia (Moran) Moran {SD 130030} SHort-leaF dudleya [D. blochmaniae (Eastw.) Moran subsp. brevifolia Moran] 1B.1 S1.1 G2t1 ce SyMBol foR NeaR eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §Nolina interrata Gentry {SD 79876} deHeSa nolina 1B.1 S2 G2 ce eNviRoNMeNTAL liStiNG SyMBol foR MiSiDeNtifieD PlaNt, Not occURRiNG iN coUNty (Note: this symbol used in appendix 1 only.) ?Cirsium brevistylum Cronq. indian tHiStle i checklist of the vascular plants of san Diego county 5th edition by Jon p. rebman and Michael g. simpson san Diego natural history Museum and san Diego state university publication of: san Diego natural history Museum san Diego, california ii Copyright © 2014 by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson Fifth edition 2014. isBn 0-918969-08-5 Copyright © 2006 by Jon P. -

Adurruthy Design @Copyright2015 ISBN: 978-9945-8999-0-0
XXIV CONGRESS SILAE ISBN: 978-9945-8999-0-0 ADurruthy Design @copyright20151 INDEX PLENARY LECTURE PL1 / INTRACELLULAR PROTEIN DEGRADATION: FROM A VAGUE IDEA THRU THE LYSOSOME AND THE UBIQUITIN-PROTEASOME SYSTEM AND ONTOHUMAN DISEASES AND DRUG TARGETING Aaron Ciechanover, Nobel Laureate in Chemistry, Israel 17 PL2 / PRIMARY HEALTH CARE: INTEGRATIVE MEDICINE AND REGULATORY FRAMEWORK Jorge R. Alonso 18 PL3 / FOODOMICS: NATURAL INGREDIENTS AND FOOD IN THE POSTGENOMIC ERA Alejandro Cifuentes 19 PL4 / A NEW FLUORINE BIOCHEMICAL SPACE IN TARGETED CANCER THERAPY Gerald B. Hammond, Paula J. Bates, Tarik Malik, Bo Xu and Francesca Rinaldo 20 PL5 / INHIBITING THE HIV INTEGRATION PROCESS: PAST, PRESENT, AND THE FUTURE Roberto Di Santo 21 PL6 / VITAMIN A DEFICIENCY SYNDROME- WAY BEYOND VISION Ram Reifen 22 PL7 / CHEMICAL AND BIOLOGICAL STUDIES OF PLANTS BELONGING TO ECUADORIAN FLORA Alesandra Braca 23 PL8 / A NEW STRATEGY FOR THE PREVENTION OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTIONS Ernesto Abel-Santos 24 PL9 / INTEGRATING PLANT PRODUCTS INTO CONVENTIONAL ANTITHROMBOTIC TREATMENTS: A CURRENT CHALLENGE Milagros T. García Mesa 25 SESSION LECTURES SL01 / ADVANCES IN CHEMICAL CHARACTERIZATION OF ANTIPROLIFERATIVE CONSTITUENTS FROM SONORA PROPOLIS C. Velázquez 27 SL02 / CHEMICAL COMPOSITION AND IN VITRO BIOLOGICAL ACTIVITIES OF THE ESSENTIAL OIL FROM LEAVES OF PEPEROMIA INAEQUALIFOLIA RUIZ & PAV F. Noriega Rivera, T. Mosquera, A. Baldisserotto, S. Vertuani, J. Abad, C. Aillon, D. Cabezas, J. Piedra, I. Coronel, and S. Manfredini 28 SL03 / COMPOSITION-ANTIFUNGAL ACTIVITY RELATIONSHIPS OF UNFRACTIONATED EXTRACTS OF SEVERAL PIPER SPECIES EVALUATED THROUGH METABOLIC PROFILING. S. Rincón and E. Coy-Barrera 29 SL04 / ETHNOPHARMACOLOGICAL STUDY OF JATROPHA CURCASSEEDS: TRADITIONAL DETOXIFICATION AND ANTIMYCOBACTERIAL ACTIVITY D.R. -

Euphorbiaceae
EUPHORBIACEAE 大戟科 da ji ke Li Bingtao (李秉滔 Li Ping-tao)1, Qiu Huaxing (丘华兴 Chiu Hua-hsing, Kiu Hua-shing, Kiu Hua-xing)2, Ma Jinshuang (马金双)3, Zhu Hua (朱华)4; Michael G. Gilbert5, Hans-Joachim Esser6, Stefan Dressler7, Petra Hoffmann8, Lynn J. Gillespie9, Maria Vorontsova10, Gordon D. McPherson11 Trees, shrubs, or herbs, rarely woody or herbaceous lianas, monoecious or dioecious, indumentum of simple, branched, stellate, or gland-tipped hairs, peltate or glandular scales or stinging hairs, latex often present, clear, white, or colored; roots woody, rarely roots tuberous and stems succulent, sometimes spiny. Leaves alternate or opposite, rarely whorled; stipules usually present, often free, sometimes modified into spines or glands, deciduous or persistent; petioles long to short, sometimes with glands at apex or base; leaf blade simple, sometimes palmately lobed, rarely compound, or reduced to scales, margins entire or toothed, sometimes with distinct glands along margin and/or on surface, venation pinnate or palmate. Inflorescences axillary or terminal, flowers in cymes or fascicles, these often arranged along an elongated axis, branched or unbranched, forming a thyrse, in congested heads, or in a flowerlike cyathium with very reduced flowers enclosed within a ± cupular involucre; bracts sometimes petaloid. Flowers unisexual, within same inflorescence or in separate inflorescences, actinomorphic. Sepals (1–)3–6(–8), free or connate into calyx tube, valvate or imbricate, rarely absent (Euphorbia). Petals free, often reduced or absent. Disk present or absent. Male flowers with disk intrastaminal or extrastaminal, entire to dissected. Stamens one to very many, hypogynous; filaments free or connate; anthers 2(–4)-locular, mostly dehiscing longitudinally, rarely transversely or by pores, introrse or extrorse; rudimentary ovary sometimes present. -

The Occurrence of Extrafloral Nectaries in Hong Kong Plants
SBoo t—. B uTlhl.e A occacdu. rSrienn. c(2e 0o0f4 e)x 4t5ra: f2lo3r7a-l2 4n5ectaries in Hong Kong plants 237 The occurrence of extrafloral nectaries in Hong Kong plants May Ling SO* Biology Department, Hong Kong Baptist University, 224 Waterloo Road, Hong Kong (Received September 3, 2003; Accepted March 2, 2004) Abstract. This is a study of the extrafloral nectaries in Hong Kong plants. Five major types can be discerned: button-shaped, cup-shaped, stalk-shaped, pit-shaped, and pore-shaped. Euphorbiaceae is the largest family with extrafloral nectaries which are always visible structures, attracting ants. SEM micrographs of extrafloral nectaries are included. Keywords: Extrafloral nectaries; Hong Kong plants. Introduction Brenar et al. (1992) also indicate that secretion is appar- ently related to ant patrolling activities. Ness (2003) also Nectaries not involved in pollination are called showed that production of nectar increases two- to three- extrafloral nectaries (EFNs), sugar producing glands found fold when leaves are attacked by caterpillars, together with outside the flower. They occur in at least 66 families (Elias, further attraction of ant bodyguards. The presence of EFNs 1983), many in the tropics. Hong Kong, situated in a sub- may further add an ecological advantage to these plants in tropical region, is rich in flowering plants, many of them self-protection, reduce vegetative damage, and help to pre- either cultivated in parks and gardens or grow in the wild vent heavy foraging by other animals (Bentley, 1976; in many countryparks. EFNs have been shown to play an Pemberton, 1998). An experiment conducted on Sapium important part in the defense mechanism of plants against sebiferum by Rogers et al. -

Disadvantages of Herbaceous Oil-Bearing Plants As Feedstock in the Biodiesel Production
Advanced technologies 9(2) (2020) 88-97 DISADVANTAGES OF HERBACEOUS OIL-BEARING PLANTS AS FEEDSTOCK IN THE BIODIESEL PRODUCTION Marija B. Tasić* (REVIEW PAPER) UDC 662.756.3: 633.85 DOI: 10.5937/savteh2002088T Faculty of Technology, University of Niš, Leskovac, Serbia The cultivation of non-edible oil-bearing plants as feedstocks for the biodiesel pro- duction can aggressively take advantage of natural environments. Herbaceous non-edible oil-bearing plants have been significantly favored as an ideal feedstock for biodiesel fuel, though little is known about its industrial feasibility and environ- Keywords: biodiesel; non-edible oil; her- mental impact. The items with the greatest sensitivity in capital and ecology are baceous oil-bearing plants; trees; phytore- land acquisition, plant life cycle, mechanical harvesting, fertilizer, control of weed, mediation; weed. pests and diseases, seed yield and oil content. This study aims at analyzing the disadvantages of herbaceous non-edible oil-bearing plants and suggests imped- ing their industrial cultivation for the biodiesel production. The source of information for the proper selection of non-edible oil-bearing plants suitable as biodiesel feed- stocks has been the recent relevant literature. Herbaceous non-edible oil-bearing plants have a low phytoremediation potential and oil yield, but high weed potential. They occupy a large arable area while demand harder cultivation conditions and mechanical harvesting. Non-edible oils from woody plants are promising biodiesel feedstock. However, the weed potential of woody oil-bearing plants must also be considered to prevent their invasiveness. Introduction The energy crisis is a burning global problem. The world's WEO and AISW shortfalls. -

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO CARRERA: INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES TEMA: EVALUACIÓN ANTIBACTERIANA DE EXTRACTO DE MOSQUERA (Croton elegans.) FRENTE A: (Staphylococcus aureus ATCC: 25923, Streptococcus pyogenes ATCC: 19615, Streptococcus pneumoniae ATCC: 49619 y Streptococcus mutans ATCC: 25175), PATÓGENOS DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AUTOR: OMAR LEONARDO ORDÓÑEZ REA TUTORA: TATIANA DE LOS ÁNGELES MOSQUERA TAYUPANTA Quito, abril del 2016 Índice Introducción ........................................................................................................................... 1 Capítulo 1 ............................................................................................................................... 4 Marco Teórico ........................................................................................................................ 4 1.1 Droga ............................................................................................................................ 4 1.2 Familia Euphorbiaceae ................................................................................................. 4 1.2.1 Croton elegans Kunth ........................................................................................ 5 1.2.1.1 Taxonomía................................................................................................... 5 1.2.1.2 Descripción botánica .................................................................................. -

Breeding Status of Tung Tree (Vernicia Sp.) in China, a Multipurpose Oilseed Crop with Industrial Uses
Zhan et. al.·Silvae Genetica (2012) 61-6, 265-270 Breeding status of tung tree (Vernicia sp.) in China, a multipurpose oilseed crop with industrial uses By ZHIYONG ZHAN1),3), YANGDONG WANG1),*), J. SHOCKEY2), YICUN CHEN1), ZHICHUN ZHOU1), XIAOHUA YAO1) and HUADONG REN1) (Received 28th May 2012) Abstract Tung (Vernicia fordii H., previously classified as Aleu- As a developing country with the world’s largest popu- rites fordii) oil, extracted from tung tree seeds, contains lation, China faces a serious challenge in satisfying its 80% (w/w) ␣-eleostearic acid, a conjugated trienoic 18- continuously increasing energy demands. Tung trees carbon fatty acid (18:3̅9cis, 11trans, 13trans) that imparts (Vernicia sp., especially V. fordii and V. montana), are useful drying and blending properties to the oil (SONN- multipurpose, perennial plants belonging to the Euphor- TAG, 1979). Tung oil is currently used in paints, high- biaceae family. The unique chemical properties of tung quality printing, plasticisers, and in certain types of seed oil make it one of the best known industrial drying medicines and chemical reagents (PARK et al., 2008; oils. In this review, the breeding status of tung trees in SHANG et al., 2010; CHEN et al., 2010a). China and some factors which limit the development of tung tree breeding will be summarised. Improvements The tung tree is a multipurpose perennial plant in ecological performance and pathogen resistance, belonging to the genus Vernicia. Tung is adaptable to through to improved breeding methods, will help to several soil types, provided that proper drainage and rapidly expand the development and use of tung trees aeration conditions are met (POTTER, 1959). -
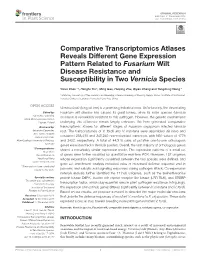
Comparative Transcriptomics Atlases Reveals Different Gene Expression Pattern Related to Fusarium Wilt Disease Resistance and Susceptibility in Two Vernicia Species
ORIGINAL RESEARCH published: 27 December 2016 doi: 10.3389/fpls.2016.01974 Comparative Transcriptomics Atlases Reveals Different Gene Expression Pattern Related to Fusarium Wilt Disease Resistance and Susceptibility in Two Vernicia Species Yicun Chen *†, Hengfu Yin †, Ming Gao, Huiping Zhu, Qiyan Zhang and Yangdong Wang * 1 State Key Laboratory of Tree Genetics and Breeding, Chinese Academy of Forestry, Bejing, China, 2 Institute of Subtropical Forestry, Chinese Academy of Forestry, Hangzhou, China Vernicia fordii (tung oil tree) is a promising industrial crop. Unfortunately, the devastating Edited by: Fusarium wilt disease has caused its great losses, while its sister species (Vernicia Agnieszka Ludwików, montana) is remarkably resistant to this pathogen. However, the genetic mechanisms Adam Mickiewicz University in Poznan,´ Poland underlying this difference remain largely unknown. We here generated comparative Reviewed by: transcriptomic atlases for different stages of Fusarium oxysporum infected Vernicia Sebastien Carpentier, root. The transcriptomes of V. fordii and V. montana were assembled de novo and KU Leuven, Belgium Taras P. Pasternak, contained 258,430 and 245,240 non-redundant transcripts with N50 values of 1776 Albert Ludwigs University of Freiburg, and 2452, respectively. A total of 44,310 pairs of putative one-to-one orthologous Germany genes were identified in Vernicia species. Overall, the vast majority of orthologous genes *Correspondence: shared a remarkably similar expression mode. The expression patterns of a small set Yicun Chen [email protected] of genes were further validated by quantitative real-time PCR. Moreover, 157 unigenes Yangdong Wang whose expression significantly correlated between the two species were defined, and [email protected] gene set enrichment analysis indicated roles in increased defense response and in †These authors have contributed equally to this work.