Tese J Guilherme LAST
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Último Encontro Antes Do Embate Com a Suécia
COMITIVA OFICIAL PROGRAMA DA SELEÇÃO NACIONAL SUB-21 10.11.2014 segunda-feira 11h30 Concentração dos jogadores Centro de Estágios de Rio Maior 11h30 Roda de Imprensa com um jogador Centro de Estágios de Rio Maior 16h00 Treino Centro de Estágios de Rio Maior 11.11.2014 terça-feira 10h00 ou 17h00 Treino Centro de Estágios de Rio Maior A definir Roda de Imprensa com um jogador Centro de Estágios de Rio Maior 12.11.2014 quarta-feira 14h05 Voo Lisboa/Manchester Voo TP 322 17h00 Chegada a Manchester Antes do Treino Roda de Imprensa com o Treinador Nacional, Rui Estádio Turf Moor, Burnley Jorge 19h45 Treino (Fechado – Aberto 15 minutos aos OCS) Estádio Turf Moor, Burnley 13.11.2014 quinta-feira 19h45 Jogo Inglaterra vs Portugal Estádio Turf Moor, Burnley Após o jogo Conferência de Imprensa com o Treinador Estádio Turf Moor, Burnley Nacional, Rui Jorge, e zona mista 14.11.2014 sexta-feira 10h45 Voo Manchester/Lisboa Voo TP 321 13h35 Chegada a Lisboa e partida para Rio Maior Antes do treino Roda de Imprensa com um jogador Centro de Estágios de Rio Maior 18h30 Treino Centro de Estágios de Rio Maior 15.11.2014 sábado 10h00 ou 17h00 Treino Centro de Estágios de Rio Maior A definir Roda de Imprensa com um jogador Centro de Estágios de Rio Maior 16.11.2014 domingo 10h00 ou 17h00 Treino Centro de Estágios de Rio Maior A definir Roda de Imprensa com um jogador Centro de Estágios de Rio Maior 17.11.2014 segunda-feira 10h00 Treino (a confirmar) Centro de Estágios de Rio Maior 17h00 Jogo-treino (a confirmar) Estádio Municipal de Rio Maior Após o jogo-treino Conferência de Imprensa com o Treinador Estádio Municipal de Rio Maior Nacional, Rui Jorge Notas: A hora das sessões de treino e das rodas de imprensa serão confirmadas nas vésperas das mesmas. -

Futuro Nas Urnas Correm Com 31 Facadas Dentro Do ������������������������������������������������������������������������� Próprio Carro
Bom domingo! SUPERDOTADO Aos 12 O charme todo especial de Pedro Augusto, anos, que completa seu primeiro menino aninho hoje. Pág. 12 prodígio encanta dando palestras Pág. 08 RESULTADOS ! " #$% Cascavel, domingo, ' 7 de outubro de 2012 R$ 1,00 ( ) "% Edição 6460 PARA FALAR AO TELEFONE É PRECISO IR A LOCAIS MAIS ALTOS Agricultores cobram ampliação de sinal para utilizarem celular Falar ao celular nos distritos de Cascavel demanda sorte e estar em um ponto AÍLTON SANTOS AÍLTON Urnas foram instaladas elevado. Produtores ontem; votação que moram na começa às 8h região afirmam que a falta de sinal das operadoras de telefonia móvel prejudica os negócios. “Não tem sinal algum. Você cai na baixada, o celular não funciona. Nenhuma operadora pega”, contam. Pág. 09 Brutalidade AÍLTON SANTOS AÍLTON LEIA MAIS Candidatos Um taxista foi morto ontem Futuro nas urnas correm com 31 facadas dentro do [ próprio carro. A principal atrás dos suspeita é latrocínio, [ embora os ladrões não pontos de votação, com 600 seções, num total de 733 urnas eletrônicas, incluindo indecisos tenham visto parte do Pág. 05 dinheiro que o trabalhador ser conhecido pouco depois das 20h. Págs. 03 e 04 guardava no bolso. Pág. 15 www.jhoje.com.br Cascavel, 07 de outubro de 2012 M ;?.1@:AI Hoje é dia de votar. É o momento em que o N cidadão mostra sua força e que a democracia chega a seu ápice. Cascavel, pela primeira vez na história, tem a chance de eleger seus candidatos a prefeito no segundo turno. É um privilégio para algumas dezenas de municípios brasileiros e a forma de afunilar os candidatos mais bem coloca- dos, dando a oportunidade de a população ter um pouco mais de tempo para escolher seus repre- realizado de 22 a 26 de sentantes. -

Under-21 Championship
UNDER-21 CHAMPIONSHIP - 2013/15 SEASON MATCH PRESS KITS Eden Arena - Prague Tuesday 30 June 2015 20.45CET (20.45 local time) Sweden Matchday 6 - Final Portugal Last updated 14/06/2019 12:26CET UEFA UNDER 21 OFFICIAL SPONSORS Previous meetings 2 Match background 3 Squad list 6 Match officials 8 Competition facts 9 Match-by-match lineups 12 Team facts 16 Legend 19 1 Sweden - Portugal Tuesday 30 June 2015 - 20.45CET (20.45 local time) Match press kit Eden Arena, Prague Previous meetings Head to Head UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached Uherske Gonçalo Paciência 24/06/2015 GS-FT Portugal - Sweden 1-1 Hradiste 82; Tibbling 89 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached Hugo Viana 76 (P), Jorge Ribeiro 85, 3-2 08/06/2004 3rdPO Portugal - Sweden Oberhausen Carlitos 114 ET; (aet) Elmander 45, Rosenberg 90 Elmander 40, 50, 28/05/2004 GS-FT Sweden - Portugal 3-1 Mannheim Ishizaki 71; Hugo Almeida 28 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached Gren 19, 30, Rehn 27, 22/09/1987 QR (GS) Sweden - Portugal 4-2 Uppsala Eklund 33; Pacheco 9, 75 11/10/1986 QR (GS) Portugal - Sweden 2-0 Lisbon Mito 35, Barros 47 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached 13/11/1984 QR (GS) Portugal - Sweden 0-1 Lisbon Nilsson 84 Larsson 44; Caetano 11/09/1984 QR (GS) Sweden - Portugal 1-1 Stockholm 70 Final Qualifying Total tournament Home Away Pld W D L Pld W D L Pld W D L Pld W D L GF GA Total Sweden 2 1 1 0 2 1 0 1 3 1 1 1 7 3 2 2 12 10 Portugal 2 1 0 1 2 0 1 1 3 1 1 1 7 2 2 3 10 12 2 Sweden - Portugal Tuesday 30 June 2015 - 20.45CET (20.45 local time) Match press kit Eden Arena, Prague Match background Sweden and Portugal both have their sights set on a first UEFA European Under-21 Championship title when they meet in the final of the 2015 tournament at Prague's Eden Stadium. -
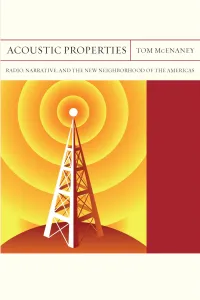
Qt03d7j97v Nosplash 30A7dd2
Acoustic Properties The FlashPoints series is devoted to books that consider literature beyond strictly national and disciplinary frameworks, and that are distinguished both by their historical grounding and by their theoretical and conceptual strength. Our books engage theory without losing touch with history and work historically without falling into uncritical positivism. FlashPoints aims for a broad audience within the humanities and the social sciences concerned with moments of cultural emergence and transformation. In a Benjaminian mode, FlashPoints is interested in how literature contributes to forming new constellations of culture and history and in how such formations function critically and politically in the present. Series titles are available online at http://escholarship.org/uc/flashpoints. series editors: Ali Behdad (Comparative Literature and English, UCLA), Founding Editor; Judith Butler (Rhetoric and Comparative Literature, UC Berkeley), Founding Editor; Michelle Clayton (Hispanic Studies and Comparative Literature, Brown University); Edward Dimendberg (Film and Media Studies, Visual Studies, and European Languages and Studies, UC Irvine), Coordinator; Catherine Gallagher (English, UC Berkeley), Founding Editor; Nouri Gana (Comparative Literature and Near Eastern Languages and Cultures, UCLA); Susan Gillman (Literature, UC Santa Cruz); Jody Greene (Literature, UC Santa Cruz); Richard Terdiman (Literature, UC Santa Cruz) A complete list of titles begins on page 314. Acoustic Properties Radio, Narrative, and the New Neighborhood of the Americas Tom McEnaney ❘ , this book is made possible by a collaborative grant from the andrew w. mellon foundation. Northwestern University Press www.nupress.northwestern.edu Copyright © 2017 by Northwestern University Press. Published 2017. All rights reserved. Printed in the United States of America Support for the publication of this book was provided by the Hull Memorial Publication Fund of Cornell University. -

João Tiago Costa Figueiredo.Pdf
Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais João Tiago Costa Figueiredo As particularidades do jornalismo online ao serviço das preferências dos leitores: análise dos elementos multimédia no site Maisfutebol Outubro de 2010 Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais João Tiago Costa Figueiredo As particularidades do jornalismo online ao serviço das preferências dos leitores: análise dos elementos multimédia no site Maisfutebol Dissertação de Mestrado Mestrado em Ciências da Comunicação Área de Especialização em Informação e Jornalismo Trabalho efectuado sob a orientação do Professor Doutor Joaquim Fidalgo Outubro de 2010 DECLARAÇÃO NOME João Tiago Costa Figueiredo EMAIL [email protected] NÚMERO DE BILHETE DE IDENTIDADE 12955886 TÍTULO “As particularidades do jornalismo online ao serviço das preferências dos leitores: análise dos elementos multimédia no site Maisfutebol” ORIENTADOR Professor Doutor Joaquim Fidalgo MESTRADO Mestrado em Ciências da Comunicação – Área de Especialização em Informação e Jornalismo É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA TESE APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE Universidade do Minho, 25 de Outubro de 2010 João Tiago Costa Figueiredo Agradecimentos Por todos os bons conselhos: ao meu orientador, professor Doutor Joaquim Fidalgo. Pelas mil e uma dicas e pelo excepcional acolhimento: à redacção do Porto do Maisfutebol, nas pessoas dos jornalistas Pedro Jorge da Cunha, Sérgio Pereira e Vítor Hugo Alvarenga. Pelo suporte financeiro essencial e por todo o apoio: à minha mãe, madrinha, padrinho e restante família. Pelas oportunas distracções: aos meus amigos. Por tudo: a ti. iii “As particularidades do jornalismo online ao serviço das preferências dos leitores: análise dos elementos multimédia no site Maisfutebol” Resumo Esta tese de mestrado tem por base uma experiência de estágio no jornal desportivo online Maisfutebol, realizada entre Setembro e Novembro de 2009. -

Reading Counts
Title Author Reading Level Sorted Alphabetically by Author's First Name Barn, The Avi 5.8 Oedipus The King (Knox) Sophocles 9 Enciclopedia Visual: El pla... A. Alessandrello 6 Party Line A. Bates 3.5 Green Eyes A. Birnbaum 2.2 Charlotte's Rose A. E. Cannon 3.7 Amazing Gracie A. E. Cannon 4.1 Shadow Brothers, The A. E. Cannon 5.5 Cal Cameron By Day, Spiderman A. E. Cannon 5.9 Four Feathers, The A. E. W. Mason 9 Guess Where You're Going... A. F. Bauman 2.5 Minu, yo soy de la India A. Farjas 3 Cat-Dogs, The A. Finnis 5.5 Who Is Tapping At My Window? A. G. Deming 1.5 Infancia animal A. Ganeri 2 camellos tienen joroba, Los A. Ganeri 4 Me pregunto-el mar es salado A. Ganeri 4.3 Comportamiento animal A. Ganeri 6 Lenguaje animal A. Ganeri 7 vida (origen y evolución), La A. Garassino 7.9 Takao, yo soy de Japón A. Gasol Trullols 6.9 monstruo y la bibliotecaria A. Gómez Cerdá 4.5 Podría haber sido peor A. H. Benjamin 1.2 Little Mouse...Big Red Apple A. H. Benjamin 2.3 What If? A. H. Benjamin 2.5 What's So Funny? (FX) A. J. Whittier 1.8 Worth A. LaFaye 5 Edith Shay A. LaFaye 7.1 abuelita aventurera, La A. M. Machado 2.9 saltamontes verde, El A. M. Matute 7.1 Wanted: Best Friend A. M. Monson 2.8 Secret Of Sanctuary Island A. M. Monson 4.9 Deer Stand A. -

Under-21 Championship
UNDER-21 CHAMPIONSHIP - 2013/15 SEASON MATCH PRESS KITS City Stadium - Uherske Hradiste Sunday 21 June 2015 20.45CET (20.45 local time) Italy Group B - Matchday 2 Portugal Last updated 20/06/2015 19:15CET UEFA UNDER 21 OFFICIAL SPONSORS Match background 2 Legend 4 1 Italy - Portugal Sunday 21 June 2015 - 20.45CET (20.45 local time) Match press kit City Stadium, Uherske Hradiste Match background Three days on from facing Sweden, their first UEFA European Under-21 Championship final victims from 1992, Italy now play the team they beat to retain the trophy two years later, Portugal, in their second Group B fixture. • Italy began their Group B campaign with a 2-1 loss to Sweden on Thursday. They trail Sunday's opponents by three points after João Mário scored the only goal on 57 minutes as Portugal defeated England later the same day. • The four semi-finalists in the Czech Republic will qualify for next summer's Olympic Games in Rio de Janeiro. Should England reach the last four, the two third-placed teams will contest a play-off on 28 June to take their place. Previous meetings • This will be their 13th match in this competition, the most important coming in 1994 when Italy faced Portugal in the first one-off final. • Italy were the holders having beaten Sweden two years earlier, and in a final packed with future stars overcame Portugal 1-0 in Montpellier thanks to an extra-time winner from substitute Pierluigi Orlandini. • The teams at the Stade de la Mosson on 20 April 1994 were: Italy: Toldo; Cannavaro, Colonnese, Panucci, Berretta, Cherubini, F Inzaghi (Orlandini 84), Marcolin, Scarchilli, Carbibem, Muzzi. -

Ana Leonor Morais Taveira 2º Ciclo De Estudos Em Ciências Da
FACULDADE DE LETRAS UNIVERSIDADE DO PORTO Ana Leonor Morais Taveira 2º Ciclo de Estudos em Ciências da Comunicação A análise da linguagem desportiva nas aberturas da Segunda Liga do jornal O JOGO 2013 Orientador: Professor Doutor Helder Bastos Coorientador: Rui Ferreira Classificação: Ciclo de estudos: Dissertação/relatório/Projeto/IPP: Versão definitiva Faculdade de Letras da Universidade do Porto Mestrado em Ciências da Comunicação A análise da linguagem desportiva nas aberturas da Segunda Liga do jornal O JOGO Relatório de Estágio de Mestrado em Ciências da Comunicação Orientador de curso: Professor Doutor Helder Bastos Orientador de estágio: Rui Ferreira Estagiária: Ana Leonor Morais Taveira PORTO 22 de julho de 2013 1 Relatório de Estágio apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Jornalismo realizado sob a orientação científica do Professor Doutor Helder Bastos 2 “Corro atrás dos meus objetivos e lido com as pessoas com transparência.” Cláudia Leitte 3 Agradecimentos Os meus agradecimentos dirigem-se, em primeiro lugar, ao Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Porto pela oportunidade única que me proporcionaram ao estagiar num dos jornais desportivos mais prestigiados do país, o jornal O JOGO, tornando assim realidade um sonho que há muito almejava. Agradeço de igual forma à empresa de acolhimento, a Global Notícias Publicações, S.A., pertencente ao grupo português Controlinveste, por apostar na parceria entre estudantes e jornalistas experientes, permitindo uma troca de conhecimentos entre gerações; ao diretor do jornal O JOGO, José Manuel Ribeiro, por me ter dado a liberdade inicial de escolher entre as diversas secções da redação; a todos os jornalistas do jornal que me ajudaram a crescer ao longo do estágio, sempre prontos para esclarecer as minhas dúvidas, e com quem aprendi as ‘regras do jogo’ da profissão. -

Under-21 Championship
UNDER-21 CHAMPIONSHIP - 2013/15 SEASON MATCH PRESS KITS City Stadium - Uherske Hradiste Sunday 21 June 2015 20.45CET (20.45 local time) Italy Group B - Matchday 2 Portugal Last updated 14/06/2019 12:21CET UEFA UNDER 21 OFFICIAL SPONSORS Previous meetings 2 Match background 4 Squad list 6 Match officials 8 Competition facts 9 Match-by-match lineups 12 Team facts 16 Legend 19 1 Italy - Portugal Sunday 21 June 2015 - 20.45CET (20.45 local time) Match press kit City Stadium, Uherske Hradiste Previous meetings Head to Head UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached 0-0 21/06/2007 3rdPO Portugal - Italy Nijmegen (aet, 3-4pens) UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached Gilardino 19, 77, Pinzi 05/06/2004 SF Italy - Portugal 3-1 Bochum 24; Pedro Oliveira 28 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached Bonazzoli 57; Hélder 17/05/2002 GS-FT Italy - Portugal 1-1 Basel Postiga 48 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached 2-0 27/03/1996 QF Italy - Portugal Palermo Vieri 40, Tommasi 55 agg: 2-1 13/03/1996 QF Portugal - Italy 1-0 Lisbon Porfírio 19 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached 1-0 20/04/1994 F Italy - Portugal Montpellier Orlandini 97 ET gg Muzzi 11, Vieri 42; 18/11/1993 QR (GS) Italy - Portugal 2-1 Padova Soares Gama 36 Jorge Costa 54, 23/02/1993 QR (GS) Portugal - Italy 2-0 Braga Soares Gama 60 UEFA European Under-21 Championship -

Relatório E Contas Do 1º Trimestre Do
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - Futebol, SAD Relatório e Contas - Não Auditado 1º TRIMESTRE 2012/2013 _____________________________________________________________________________________ Índice Pág. INFORMAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2012/2013 o RELATÓRIO DE ACTIVIDADE NOS PRIMEIROS 3 MESES 2 Demonstração dos Resultados comparativa 3 Balanço comparativo 4 Relatório do Conselho de Administração 5 o DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 9 Demonstração dos Resultados 10 Balanço 11 Demonstração de Alterações no Capital Próprio 12 Notas às Demonstrações Financeiras 13 1 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - Futebol, SAD Relatório e Contas - Não Auditado 1º TRIMESTRE 2012/2013 _____________________________________________________________________________________ RELATÓRIO DE ACTIVIDADE DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 DE JULHO DE 2012 E 30 DE SETEMBRO DE 2012 2 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - Futebol, SAD Relatório e Contas - Não Auditado 1º TRIMESTRE 2012/2013 _____________________________________________________________________________________ Demonstração dos Resultados para os exercícios EUR'000 EUR'000 Variação findos em 30 de Setembro de 2012 e 2011 30.Set.12 30.Set.11 Euro'000 % Proveitos Operacionais Prestações de serviços 7.350 9.038 (1.688) -18,7% Quotizações 321 1.044 (723) -69,3% Bilheteira e Bilhetes de Época 1.393 2.036 (643) -31,6% Patrocínios e Publicidade 1.949 2.040 (91) -4,5% Merchandising e Licenciamento 331 353 (22) -6,2% Direitos Televisivos 3.085 3.336 (251) -7,5% Serviços Directos 256 218 38 17,4% Outros 15 11 4 36,4% Outros Proveitos Operacionais 2.154 -

Under-21 Championship
UNDER-21 CHAMPIONSHIP - 2013/15 SEASON MATCH PRESS KITS City Stadium - Uherske Hradiste Thursday 18 June 2015 20.45CET (20.45 local time) England Group B - Matchday 1 Portugal Last updated 14/06/2019 12:17CET UEFA UNDER 21 OFFICIAL SPONSORS Previous meetings 2 Match background 4 Squad list 6 Match officials 8 Competition facts 9 Match-by-match lineups 11 Team facts 15 Legend 18 1 England - Portugal Thursday 18 June 2015 - 20.45CET (20.45 local time) Match press kit City Stadium, Uherske Hradiste Previous meetings Head to Head UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached 03/09/2010 QR (GS) Portugal - England 0-1 Barcelos Sturridge 32 14/11/2009 QR (GS) England - Portugal 1-0 London Rose 40 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached Milner 44 (P), 05/09/2008 QR (GS) England - Portugal 2-0 London Agbonlahor 63 Vieirinha 3 (P); A. 20/11/2007 QR (GS) Portugal - England 1-1 Agueda Johnson 49 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached Barton 36; Ricardo 09/09/2003 QR (GS) England - Portugal 1-2 Liverpool Quaresma 4, Hélder Postiga 80 Hélder Postiga 7, Ricardo Quaresma 28/03/2003 QR (GS) Portugal - England 4-2 Rio Maior 10, Carlos Martins 60, Ronaldo 71; Sh. Ameobi 8, 33 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result Venue Goalscorers reached Filipe Teixeira 7, Makukula 20 (P), 22/05/2002 GS-FT Portugal - England 3-1 Zurich Hugo Viana 69; Smith 43 UEFA European Under-21 Championship Stage Date Match Result -

U.S. Military Fatal Casualties of the Vietnam War for Home-State-Of-Record: California
U.S. Military Fatal Casualties of the Vietnam War for Home-State-of-Record: California Name Service Rank / Birthdate Home of Record: Incident or Remains Rate (YYYYMMDD) City County Death Date Recovered (YYYYMMDD) ABBIE DONALD PAUL ARMY PFC 19481024 SACRAMENTO SACRAMENTO 19680912 Y ABBOTT EDWARD ARMY PFC 19491008 YUBA CITY SUTTER 19680506 Y DONALD ABBOTT JOHN NAVY CAPT 19270820 SAN DIEGO SAN DIEGO 19660420 Y ABEYTA ERNEST MARINE CORPS PFC 19490329 LOS ANGELES LOS ANGELES 19690601 Y ABINA ROBERT THOMAS MARINE CORPS PFC 19470813 SAN LEANDRO ALAMEDA 19671130 Y ABLES ELMER ROBERT ARMY SFC 19371025 NEWHALL LOS ANGELES 19671026 Y LEE JR ABNER CARL EDWARD MARINE CORPS LCPL 19470924 CAMPBELL SANTA CLARA 19671227 Y ABRAHAM PAUL ARMY CPL 19471013 SANTA ANA ORANGE 19680502 Y LEONARD ACEVEDO RICHARD MARINE CORPS LCPL 19480601 LOS ANGELES LOS ANGELES 19671026 Y JOSEPH ACHICA EDDIE ARMY SGT 19300905 SAN SAN 19660810 Y FRANCISCO FRANCISCO ACHOR TERRENCE ARMY PFC 19470719 WHITTIER LOS ANGELES 19680304 Y WILLIAM ACKLEY GERALD LEVIE MARINE CORPS SGT 19461119 DUNNIGAN YOLO 19670603 Y ACOSTA DANIEL MARINE CORPS PFC 19450713 STOCKTON SAN JOAQUIN 19661112 Y ACOSTA JOHN MICHAEL ARMY PFC 19470815 SACRAMENTO SACRAMENTO 19680121 Y ACOSTA LOYD DEAN MARINE CORPS LCPL 19490114 NORWALK LOS ANGELES 19690915 Y Source of data: the Vietnam Conflict Extract Data File, as of April 29, 2008, of the Defense Casualty Analysis System (DCAS) Files, part of Record Group 330: Records of the Office of the Secretary of Defense. You can view the full DCAS record for an individual named in the list via the Access to Archival Databases resource, or AAD.