Universidade Federal Do Paraná Juliana Vlastuin As
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

RIO BID DOSSIER for Hosting the 2013 8TH International Forum on Elite Sport
RIO BID DOSSIER for hosting the 2013 8TH International Forum on Elite Sport RIO DE JANEIRO, CANDIDATE CITY Mr. Jukka Lahtinen PRESIDENT IAHPSTC-International Association of High-Performance Sports Training Centers Barcelona, Spain Dear President, The Brazilian Olympic Committee is most honored to submit the Bid of the City of Rio de Janeiro to host the VIII International Forum on Elite Sport of the IAHPSTC-International Association of High Performance Sport Training Center in 2013. Hosting large sports events as the 2014 FIFA World Cup and the 2016 Olympic and Paralympic Games has initiated the development of the sports transformation process throughout Brazil and especially in the City of Rio de Janeiro. The Brazilian Olympic Movement supports the goals, philosophy and actions of the IAHPSTC. We believe that the Brazilian elite sports can greatly profit from the expertise, knowledge and experience of the members of the IAHPSTC viewing the implementation of strategies for top-level sports performance. We trust and are confident that our vision and mission in the pursuit of developing excellence in sports training will be welcomed by the members of the International Association of High-Performance Sports Training Centers. The Brazilian Olympic Committee and Sports Federation keenly look forward to hosting the 2013 VIII International Forum on Elite Sport for the first time in our country. Sincerely yours, Carlos Arthur Nuzman PRESIDENT SECTION I Vision 06 Support 08 The Country 10 The State 12 The City 14 Why – Motivation 16 Brazilian Training -
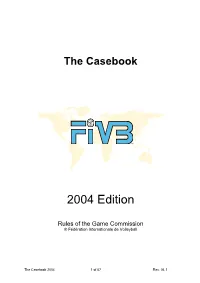
2004 Edition
The Casebook 2004 Edition Rules of the Game Commission © Fédération Internationale de Volleyball The Casebook 2004 1 of 57 Rev. 04.1 The Casebook 2004 Edition INDEX PAGE TOPIC OF RULINGS CASES 2 INDEX 3 PREFACE 4 PART I: THEORETICAL PRINCIPLES OF APPLICATON 7 PART II: CASES 7 CHAPTER 1: FACILITIES AND EQUIPMENT 7 Net Heights 1.1 8 CHAPTER 2: PARTICIPANTS 8 Wearing Forbidden Objects 2.1 – 2.2 8 Captain 2.3 – 2.7 10 Coach 2.8 – 2.14 13 CHAPTER 3: PLAYING FORMAT 13 The Toss 3.1 13 Positional and Rotational Faults 3.2 – 3.5 14 Substitutions 3.6 – 3.10 16 CHAPTER 4: PLAYING ACTIONS 16 Playing the Ball 4.1 – 4.7 18 Penetration Under the Net 4.8 – 4.9 20 Player At or Contacting the Net 4.10 – 4.22 23 Service 4.23 – 4.27 25 Attack Hit 4.28 – 4.32 26 Block 4.33 – 4.43 31 CHAPTER 5: INTERRUPTIONS AND DELAYS 31 Substitutions 5.1 – 5.6 33 Improper Request 5.7 – 5.9 34 Injuries 5.10 – 5.12 35 Delays to the Game 5.13 – 5.15 36 External Interference 5.16 37 CHAPTER 6: LIBERO 6.1 – 6.14 44 CHAPTER 7: PARTICIPANTS’ CONDUCT 7.1 – 7.7 47 CHAPTER 8: REFEREES AND THEIR RESPONSIBILITIES 47 Officials Responsibilities 8.1 – 8.3 48 CHAPTER 9: SPECIAL CASES 9.1 – 9.25 The Casebook 2004 2 of 57 Rev. 04.1 PREFACE Volleyball is a great game – just ask the millions of people who play it, watch it, analyses it and referee it. -

Ya Exhibe Sorpresas La Copa Mundial De Voleibol Para Hombres
Image not found or type unknown www.juventudrebelde.cu Ya exhibe sorpresas la Copa Mundial de Voleibol para hombres Entre los resultados inesperados de las dos primeras jornadas del certamen está la victoria de Puerto Rico sobre EE.UU., lo que no ocurría desde hacía 30 años Publicado: Martes 20 noviembre 2007 | 01:19:12 am. Publicado por: Ricardo Quiza Dos jornadas han bastado para que la Copa del Mundo de Voleibol para hombres exhiba sus primeras sorpresas, sinónimo de que el camino resultará bastante complicado para los pronósticos. Los boricuas (izquierda) no le ganaban a Estados Unidos desde 1977. Foto: FIVB El primer resultado inesperado fue la victoria de Puerto Rico sobre Estados Unidos, tres sets por uno, en el segundo cartel efectuado en la ciudad japonesa de Matsumoto. Imagínense que eso no ocurría desde hacía 30 años, en el torneo NORCECA de 1977. Los boricuas, que al cierre marchaban invictos con dos triunfos en el grupo A, al igual que Rusia y Bulgaria, dependieron fundamentalmente de su astro Héctor «Pinky» Soto, quien anotó 29 puntos, secundado por José Rivera (14). Y el éxito tiene mayor envergadura si tomamos en consideración que Estados Unidos reúne en su nómina a siete jugadores con experiencia olímpica: Lloy Ball, Gabriel Gardner, Thomas Hoff, Ryan Millar, William Priddy, Riley Salmon y Clayton Stanley. Es evidente que el entrenador estadounidense, Hugh McCutheon, quiere conseguir ahora uno de los tres boletos en litigio para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y ya engrasa la maquinaria para la cita estival. Tan en serio va el asunto que el día anterior, fueron los propios estadounidenses los protagonistas de otro resultado poco esperado, aunque no tan insólito, al pulverizar al más prominente conjunto de los últimos años, Brasil, en sets corridos. -

Estudantes Ocupam Mais De Mil Escolas
Ano CXX1II Número 230 R$ 1,00 Assinatura anual R$ 200,00 AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA,UNIÃO 25 de outubro de 2016 123 A nos - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb RECURSOS PARA A PARAÍBA Governo questiona rebaixamento fiscal O governador Ricardo Coutinho vai solicitar audiência com o presidente Michel Temer para tentar derrubar o rebaixamento PÁGInA 3 FOTO: Marcos Russo fiscal do Estado - medida que cria barreiras no acesso a financiamentos - e buscar assegurar recursos para a Paraíba. EDUCAÇÃO Rede Estadual de Ensino abre matrículas calendário vai ajudar no planejamentoAdiantamento do ano do letivo PÁGInA 3 FOTO: Secom-PB de 2017. Vice-governadora Lígia Feliciano PEc Do TETo DE gasTos PáginA 5 Entidades estudantis, sindicais e de movimentos sociais ENEM 2016 realizaramR EprotestosFORMA em DO João E NSINPessoaO e M CampinaÉDIO Grande contra a PEC 241. Começa a reta Esportes final de preparação Futebol: Estudantes ocupam mãe e filha mais de mil escolas jogam juntas Mais de 235 mil za dos Santos disputam candidatos devem PÁGIn fazerA 7 Alcione e Andre- as provas do Enem 2016 PÁGInA 14 PÁGInA 21 na Paraíba. Segundo a UNE, em todo o País, 51 universidades e 993 escolas e IFs estão o Campeonato Paraibano de Futebol Feminino pelo Kashima. ocupados. Alunos protestam contra medidas que afetamFOTO a Educação.S: Divulgação Paraíba MÚSICA Polícia apreende Encontro de ecstasy e LSD bandas na UFPB Banda Marcial José Em seis dias de ação, a Operação Impacto prendeu do Patrocínio e Banda 21 pessoas por tráfico de Sinfônica PÁGI José nSiqueiraA 9 drogas, cinco porPÁGI homicídio,nA 6 apresentam-se no 28 por roubo e 19 por porte CCTA. -

Criação De Bovinos De Corte No Estado Do Pará
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Criação de Bovinos de Corte no Estado do Pará José Ferreira Teixeira Neto Norton Amador da Costa Editores- Técnicos Belém, PA 2006 Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na: Embrapa Amazônia Oriental Trav. Dr. Enéas Pinheiro, s/n Caixa Postal, 48 CEP: 66095-100 - Belém, PA Fone: (91) 3204-1044 Fax: (91) 3276-9845 E-mail: [email protected] Comitê de Publicações Presidente: Joaquim Ivanir Gomes Membros: Gladys Ferreira de Sousa João Tomé de Farias Neto José de Brito Lourenço Júnior Kelly de Oliveira Cohen Moacyr Bernardino Dias Filho Supervisor editorial: Guilherme Leopoldo da Costa Fernandes Revisor de texto: Marlúcia Oliveira da Cruz e Regina Alves Rodrigues Normalização bibliográfica: Silvio Leopoldo Lima Costa Editoração eletrônica: Euclides Pereira dos Santos Filho l' edição 1a impressão (2006): 300 exemplares Todos os direitos reservados. A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610). Teixeira Neto, José Ferreira Criação de bovinos de corte no Estado do Pará/editado por José Ferreira Texeira Neto, Norton Amador da Costa. - Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2006. 194p. : il. ; 21cm.-(Embrapa Amazônia Oriental. Sistemas de Produção, 03). ISBN 978-85-87690-52-4 ISSN 1807-0043 1. Gado de corte - Criação - Pará - Brasil. 2. Produção animal. 3. Nutrição animal. 4. Manejo. 5. Controle de erva daninha. 6. Recuperação de pastagem. 7. Reprodução. 8. Sanidade. 9. Mercado. I. Costa, Norton Amador da. 11. Título. CDD: 636.213098115 © Embrapa 2006 Autores Alfredo Kingo Oyama Homma Eng. -

Swot Analysis: a Case Study with Brazilian Elite of Volleyball
FIEP BULLETIN Volume 85 - Special Edition - ARTICLE II - 2015 53 - SWOT ANALYSIS: A CASE STUDY WITH BRAZILIAN ELITE OF VOLLEYBALL JACQUES ARAÚJO NETTO; ELZIR MARTINS DE OLIVEIRA; LUCIANA SILVA ABDALAD; MARIA AUXILIADORA TERRA CUNHA; CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO DA SILVA Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM/ RJ, Brasil doi: 10.16887/85.a2.53 [email protected] The Sport includes dimensions that go beyond just health related reasons. According Barbanti (2000) scientific discoveries, methods and discussions related to issues and events of the sport were characterized by so-called cross-cutting, interdisciplinary and multidisciplinary sciences. In the process Cruz (2003) stated that the sports sciences should be considered plural, because the social impact of sport phenomenon expresses a multifaceted reality and needs the assistance of other areas of scientific knowledge. The Brazilian Volleyball Confederation, in its administration, among sports, considers the Brazilian Volleyball as an example to be followed by other sports federations, there is the view-ISO 9001: 2000 certification received in 2003. Thus, studies such as those by Araújo Fernandes Netto and Son (2008) and Araujo Neto, Neves and Santos (2005) describe how this process occurred in Brazil and can contribute significantly to issues related to innovation, management and sports management, which may serve as a model for other confederations and subsequent studies This article provides analysis through the SWOT method of discourses of elite volleyball players, highlighted in the period of transformation and evolution of Volleyball in Brazil, which Kasznar and Graça Filho (2006a), can contribute not only to reflect on the sport Brazilian, but mainly with the development of public policy and directing the activities related to education, sport and leisure of the population. -

Daily Bulletin #1 VNL 2021 Bubble, Rimini, Italy
Daily Bulletin #1 VNL 2021 Bubble, Rimini, Italy Monday, May 24, 2021 Lausanne, 24 May 2021 VNL 2021 Bubble / Preliminary Inquiry Dear Participating Teams, We are happy to welcome you to the VNL 2021 Bubble in Rimini, Italy. With the scale of the event, we stress the importance of the Team Delegations to follow their individual activity schedules, and the requirement not to leave the hotel and / or competition complex, unless otherwise indicated. We note that members of some of the Team Delegations have not fully complied with the requirement, and ask first and foremost the Team Delegations to take responsibility for the enforcement of these measures. We truly thank your Team’s participation in the organized photoshoots and invite to visit the www.volleyballworld.com for the first photos available! Please note that the access to the Volleyball World TV platform shall be provided to each of your Team Delegation’s member shortly so you can follow the exciting volleyball action. We thank you for being part of the game! Kind Regards, Mr. Willy Paredes FIVB Technical Delegate FIVB Volleyball Nations League - Women O-2 Team registration BEL - Belgium Weight Height Highest reach [cm] National selections Shirt no Last name First name Shirt name Pos. Birthdate Club [kg] [cm] Spike Block WC OG Oth. Tot. 2 Van Sas Elise Van Sas S 01-Aug-1997 74 188 308 290 VC Oudegem - - 42 42 3 Herbots Britt Herbots OH 24-Sep-1999 63 182 312 292 Novara - - 84 84 4 Lemmens Nathalie Lemmens MB 12-Mar-1995 85 192 130 292 Paris - - 83 83 5 Guilliams Jodie Guilliams -

Histórias E Memórias De Pioneiros Do Vôlei De Praia Na Cidade Do Rio De Janeiro
DOI: 10.4025/reveducfis.v21i1.8126 HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DE PIONEIROS DO VÔLEI DE PRAIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO STORIES AND MEMORIES FROM THE FORERUNNERS OF THE BEACH VOLLEY IN RIO DE JANEIRO Lenice Peluso de Oliveira ∗ Vera Lúcia de Menezes Costa ** RESUMO O objetivo do estudo foi interpretar a história oral de pioneiros do Vôlei de Praia que, a partir de 1940, estabeleceram a trajetória inicial deste esporte como lazer na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Observou-se pouco a pouco a visibilidade do Vôlei de Praia e a adesão do povo carioca, despertando para o prazer e a sociabilidade de um jogo coletivo. Aos registros dos depoimentos de pioneiros do jogo recolhidos por Lenice Peluso, foram agregados materiais colhidos na internet, jornais da época e relatos de antigos jogadores, possibilitando maior abrangência do tema. Concluiu-se que o Vôlei de Praia, jogado exclusivamente como lazer até a sua institucionalização, instituiu sua identidade cultural na cidade do Rio de Janeiro satisfazendo o gosto dos jogadores e do público por paisagens, espaços livres e abertos, que transmitem momentos e sensações de bem-estar, amplitude e plenitude, contribuindo para a esportivização da praia. Palavras-chave : Vôlei de praia. Pioneiros. Memórias. INTRODUÇÃO Areia..., e também o Vôlei de Praia. Atrativos como a beleza de corpos quase despidos, Oriundo do Voleibol e adaptado às areias, o associados a uma área repleta de sol, mar e surgimento e desenvolvimento do Vôlei de Praia areia, configuram uma paisagem que transmite deram-se nos Estados Unidos no período da 1ª momentos e sensações de bem-estar, amplitude, Guerra Mundial, em 1915, como forma de lazer. -

❸Opposites. ❷Olympics Roster Spots. Who Will
COLLEGE PREP: A WORKOUT TO EASE THE TRANSITION FROM HIGH SCHOOL TO COLLEGE APRIL 2016 ❸ OPPOSITES. ❷ OLYMPICS ROSTER SPOTS. WHO WILL KARCH CHOOSE? KHALIAKHALIA LANIERLANIERHeadlines the Girls’ Fab 50 GET TO KNOW ITALY’S MARTA MENEGATTI PHOTO CREDIT PHOTO INDUSTRY’S #1 MAGAZINE March/April 2016 | VOLLEYBALLMAG.COM | A #USAVolley2016 If you’re serious about volleyball, you need VERT. The most advanced wearable jump technology for players and coaches. Motivate, manage jump load, and most importantly… prevent injuries. Karch Kiraly Head Coach, USA Women’s National Team “VERT allows us to track our training loads in a way that’s never been done before. It’s already helping us train SMARTER and better preserve our most precious resource: our ATHLETES and their HEALTH.” The official Jump Technology of @VERT I USAVERT.com I 510.629.3665 65 Mayfonk Athletic LLC covered by U.S. Patent nos. 8,253,586, 8,860,584 and other patent(s) pending. Designed for iPhone® 6Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch® (5th Gen), iPad Air, iPad mini, iPad® (3rd and 4th Gen). Apple and the Apple logo are trade marks of Apple Inc registered in the US and other countries. MARCH/APRIL 2016 Volume 27, Issue 2 VOLLEYBALL MAGAZINE FEATURES 40 20 BUILD YOUR BASE Five basic moves all high school athletes should master before graduation. By Tony Duckwall 24 X FACTOR High school senior Khalia Lanier brings it to every competition—for Team USA, Arizona Storm, and Xavier Prep High School—and soon she’ll take her talents to USC. -

Linha Do Tempo Do Esporte
Lars Grael 1988 Governo Sarney Ministro da Educação: Hugo Napoleão Secretário de Educação Física e Desporto: Alfredo Nunes Presidente do Conselho Nacional do Desporto – CND: Manoel Gomes Tubino Assembléia Nacional Constituinte promulgada Artigo 217 Presidente do COB: Sylvio de Magalhães Padilha Jogos Olímpicos de Seul – Brasil 6 medalhas – 24º Lugar Jogos Paralímpicos – Brasil 27 medalhas – 25º Lugar Jogos Escolares Brasileiros – São Luís/MA JUBs – João Pessoa/PB TÍTULO VIII DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO III DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO SEÇÃO III DO DESPORTO Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados: I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional; IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. § 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. § 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. § 3º O poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 1988 Aurélio Miguel – Ouro em Seul 88 1989 Professor Manoel Tubino 1989 Ministro da Educação: Carlos Sant’anna Secretário de Educação Física e Desporto: Manoel Gomes Tubino Jogos Escolares Brasileiros – Brasília/DF JUBs – São Luís/MA 1990 Ministro da Educação: Carlos Chiarelli Fundação da Confederação Brasileira de Clubes – CBC (Pres. -

Educação Física Nº 128 Ano De 2004
REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA Nº 128 ANO DE 2004 EDITORIAL É com imensa satisfação que apresentamos nosso primeiro exemplar do ano de 2004, de um total de 128 edições, uma caminhada iniciada em 1932, sendo a revista especializada em educação física mais antiga do Brasil. Estamos editando neste ano, pela primeira vez desde sua criação, 02 tiragens sem auxílio de qualquer subsídio estatal ou institucional, mantendo a gratuidade de distribuição desde seu início. Nos tempos atuais, manter uma revista científica de qualidade, periodicidade e com grande circulação e penetração, torna-se um enorme desafio para o Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, órgão responsável pela edição da revista, sendo um motivo de extremo orgulho para a nossa instituição. Procuramos nesta edição trazer artigos nas áreas de treinamento, da ética, da antropometria, da história desportiva, culminando com um artigo sobre as Olimpíadas de Atenas, motivo maior neste ano olímpico. Os artigos estão apresentados de acordo com as Normas Nacionais de Redação, apresentando sempre cientificidade como fator primordial. Nossa Revista possui o código indexador ISSN e estamos em processo de indexação. Será também, a partir de sua primeira publicação em 2004, uma revista eletrônica, podendo ser acessada no site www.revistadeeducacaofisica.com.br o qual conterá todas as edições anteriores, desde 1932, constituindo-se no maior acervo na área de educação física do Brasil. Estes indicadores nos motivam, dentro do nosso planejamento de gerência empresarial empreendido por esta instituição de pesquisa, e nos impulsionam a novas e perenes conquistas. Cel JOSÉ RICARDO PASCHOAL Diretor do IPCFEx REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Nº 128 - ANO DE 2004 - PÁG. -

O Voleibol: Do Amadorismo À Espetacularização Da Modalidade No Brasil (1970 – 2000)
Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Educação Física “SACANDO” O VOLEIBOL: DO AMADORISMO À ESPETACULARIZAÇÃO DA MODALIDADE NO BRASIL (1970 – 2000) Wanderley Marchi Júnior 2001 WANDERLEY MARCHI JÚNIOR “SACANDO” O VOLEIBOL: DO AMADORISMO À ESPETACULARIZAÇÃO DA MODALIDADE NO BRASIL (1970 – 2000) Tese de doutorado apresentada à Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. Orientador: Prof. Dr. Ademir Gebara CAMPINAS 2001 Este exemplar corresponde à redação final da tese defendida por Wanderley Marchi Júnior e aprovada pela Comissão Julgadora em 10 de dezembro de 2001. Data: Prof. Dr. Ademir Gebara iii COMISSÃO JULGADORA Prof. Dr. Ademir Gebara (presidente) Prof. Dr. Miguel Cornejo (titular) Prof. Dr. Márcio Sérgio Batista Silveira de Oliveira (titular) Prof. Dr. Gustavo Luis Gutierrez (titular) Prof. Dr. Roberto Rodrigues Paes (titular) iii iv Este trabalho não poderia ser dedicado a outra pessoa senão àquela que soube compreender e compartilhar todos esses momentos e, principalmente, os sentimentos e os sonhos que nos cercaram diariamente... A você, Kátia, com muito amor, gratidão e carinho. iv v “Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido, na verdade bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico. Correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais em rios. Iria a lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvete e comeria menos lentilha, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveram sensata e produtivamente cada minuto da sua vida. É claro que tive momentos de alegria.