Pesquisa Tese Andreappel 20
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
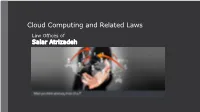
Cloud Computing and Related Laws
Cloud Computing and Related Laws Law Offices of Salar Atrizadeh Online Privacy In general, privacy falls under two categories: 1. Corporate privacy 2. Personal privacy Corporate Privacy . It concerns the protection of corporate data from retrieval or interception by unauthorized parties . Security is important for protection of trade secrets, proprietary information, and privileged communications . The failure to maintain confidentiality can result in a loss of “trade secret” status . See Civil Code §§ 3426 et seq. Corporate Privacy . The recent trends in outsourcing have increased the risks associated with “economic espionage” . In fact, manufacturers should be cautious when transferring proprietary technology to overseas partners because foreign governments sponsor theft . See 18 U.S.C. §§ 1831 et seq. (e.g., economic espionage, theft of trade secrets) Helpful Policies . Identify and label confidential information . Restrict access to confidential information . Use encryption – e.g., truecrypt.org, axantum.com . Use firewall and secure username/password . Use software that detects trade secret theft – e.g., safe-corp.biz . Include warnings in privileged correspondence (e.g., “this email contains privileged communications”) Helpful Policies . Provide computers without hard drives + Prohibit use of removable storage (e.g., flash drives) . Audit employee computers . Prohibit and/or monitor external web-based email services . Execute Confidentiality and Non-disclosure Agreements . Execute Computer-Use Policies Personal Privacy . Constitution . Federal: Fourth Amendment protects against unreasonable searches and seizures . State: California Constitution, under Art. I, § 1 recognizes right to individual privacy . Federal computer crimes . Electronic Communications Privacy Act – 18 U.S.C. §§ 2510 et seq. Privacy Act – 5 U.S.C. § 552a . Computer Fraud and Abuse Act – 18 U.S.C. -

2Nd USENIX Conference on Web Application Development (Webapps ’11)
conference proceedings Proceedings of the 2nd USENIX Conference Application on Web Development 2nd USENIX Conference on Web Application Development (WebApps ’11) Portland, OR, USA Portland, OR, USA June 15–16, 2011 Sponsored by June 15–16, 2011 © 2011 by The USENIX Association All Rights Reserved This volume is published as a collective work. Rights to individual papers remain with the author or the author’s employer. Permission is granted for the noncommercial reproduction of the complete work for educational or research purposes. Permission is granted to print, primarily for one person’s exclusive use, a single copy of these Proceedings. USENIX acknowledges all trademarks herein. ISBN 978-931971-86-7 USENIX Association Proceedings of the 2nd USENIX Conference on Web Application Development June 15–16, 2011 Portland, OR, USA Conference Organizers Program Chair Armando Fox, University of California, Berkeley Program Committee Adam Barth, Google Inc. Abdur Chowdhury, Twitter Jon Howell, Microsoft Research Collin Jackson, Carnegie Mellon University Bobby Johnson, Facebook Emre Kıcıman, Microsoft Research Michael E. Maximilien, IBM Research Owen O’Malley, Yahoo! Research John Ousterhout, Stanford University Swami Sivasubramanian, Amazon Web Services Geoffrey M. Voelker, University of California, San Diego Nickolai Zeldovich, Massachusetts Institute of Technology The USENIX Association Staff WebApps ’11: 2nd USENIX Conference on Web Application Development June 15–16, 2011 Portland, OR, USA Message from the Program Chair . v Wednesday, June 15 10:30–Noon GuardRails: A Data-Centric Web Application Security Framework . 1 Jonathan Burket, Patrick Mutchler, Michael Weaver, Muzzammil Zaveri, and David Evans, University of Virginia PHP Aspis: Using Partial Taint Tracking to Protect Against Injection Attacks . -

Scholarship in the Digital Age: Information, Infrastructure, and The
Scholarship in the Digital Age Scholarship in the Digital Age Information, Infrastructure, and the Internet Christine L. Borgman The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England © 2007 Christine L. Borgman All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or informa- tion storage and retrieval) without permission in writing from the publisher. For information about special quantity discounts, please e-mail <special_sales @mitpress.mit.edu>. This book was set in Sabon by SNP Best-set Typesetter Ltd., Hong Kong. Printed and bound in the United States of America. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Borgman, Christine L., 1951– Scholarship in the digital age : information, infrastructure, and the Internet / Christine L. Borgman. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-262-02619-2 (hardcover : alk. paper) 1. Communication in learning and scholarship—Technological innovations. 2. Scholarly electronic publishing. 3. Information technology. 4. Learning and scholarship—Social aspects. I. Title. AZ195.B67 2007 001.2—dc22 2006036057 10987654321 For Cindy Contents Detailed Contents ix Preface xvii Acknowledgments xxi 1 Scholarship at a Crossroads 1 2 Building the Scholarly Infrastructure 13 3 Embedded Everywhere 33 4 The Continuity of Scholarly Communication 47 5 The Discontinuity of Scholarly Publishing 75 6 Data: The Input and Output of Scholarship 115 7 Building an Infrastructure for Information 149 8 Disciplines, -

Universidade De Brasília Instituto De Arte Programa De Pós-Graduação Em Arte
Universidade de Brasília Instituto de Arte Programa de Pós-Graduação em Arte TIAGO FRANKLIN RODRIGUES LUCENA m-arte: arte_comunicação_móvel Brasília-DF 2010 1 TIAGO FRANKLIN RODRIGUES LUCENA # m-arte: ((( arte_comunicação_móvel ))) Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade de Brasília como requisito básico para a obtenção do título de Mestre. Orientadora: Professora Dra. Suzete Venturelli Área de concentração: Arte Contemporânea Linha de Pesquisa: Arte e Tecnologia Brasília-DF 2010 2 3 4 RESUMO A dissertação m-arte: arte_comunicação_móvel é fruto de uma pesquisa prática-téorica, cujo objetivo foi o de estudar a relação existente entre arte e os dispositivos móveis (aparelhos celulares, palmtops, netbooks), consolidando o campo da Arte em Mídias Móveis, que denominamos m-arte. Iniciamos nossa pesquisa abordando a conexão e presença das câmeras nos aparelhos celulares (cellcams) e as possibilidades de criação com este dispositivo no audiovisual. Descrevemos um breve histórico de trabalhos artísticos que usaram as redes de telecomunicação (telemática) acompanhado das mudanças sofridas pelo aparelho celular ao longo dos anos. Na Arte Telemática presenciamos o potencial comunicador da arte, defendendo que a conexão amplia os pontos de encontro entre artistas-receptores. Em nossa pesquisa, além da interatividade, característica bastante observada nos trabalhos da arte tecnológica, exploramos a m-arte; destacando as qualidades da conectividade, mobilidade, portabilidade e ubiqüidade. A criação colaborativa e em ferramentas livres (hardware e software) foram também outras ações observadas por nós no campo da m-arte. Entendemos que os dispositivos móveis são os representantes de uma vida moderna nômade marcada pelos deslocamentos espaciais urbanos dos indivíduos que passam de uma cultura marcada pelo emprego das tecnologias de comunicação digital para uma cibercultura versão 2.0 ou cultura móvel. -

Model-Controller Interfacing Using Struts-Based Web Application
CS 298 Report Model-Controller Interfacing using Struts-Based Web Application A Writing Project Presented to The Faculty of the Department of Computer Science San José State University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Computer Science By Deepti Bhardwaj Spring 2011 - 1 - CS 298 Report ©2011 Deepti Bhardwaj ALL RIGHTS RESERVED - 2 - CS 298 Report SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY The Undersigned Thesis Committee Approves the Thesis Titled Model-Controller Interfacing using Struts-Based Web Application By Deepti Bhardwaj APPROVED FOR THE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE ___________________________________________________________ Dr. Chris Pollett, Department of Computer Science 05/17/2011 __________________________________________________________ Dr. Robert Chun, Department of Computer Science 05/17/2011 __________________________________________________________ Dr. Agustin Araya, Department of Computer Science 05/17/2011 - 3 - CS 298 Report ABSTRACT “Model-Controller Interfacing using Struts-Based Web Application” is an IDE, named as StrutsHib IDE, for interfacing the model and controller of a MVC architecture based applications. It is developed using Java based technologies such as Struts framework, Hibernate and jQuery. The StrutsHib IDE maximizes the programmer productivity and is available across the network. It offers features which makes the creation of the model and controller component of MVC effortless and time effective. Moreover, it automates the process of database creation for a web application which means the user does not have to be a database expert when dealing with databases. Finally, StrutsHib IDE takes all the advantages of a web based application and provides lot of flexibility to the users. - 4 - CS 298 Report ACKNOWLEDGEMENTS I would like to take the opportunity to thank my advisor, Dr. -

Cej: Um Ambiente Para a De~Çãoe Execução De Processos Customizáveis De Publicação Científica
CEJ: UM AMBIENTE PARA A DE~ÇÃOE EXECUÇÃO DE PROCESSOS CUSTOMIZÁVEIS DE PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA Daniel Serrão Schneider TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO. Aprovada por: Prof. Sérgio Palma da Justa Medeiros, Profa. Vera Maria Benjamin Werneck, D.Sc. RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL DEZEMBRO DE 2004 SCKNEIDER, DANIEL SERRÃO CEJ - Um ambiente para a definição e execução de processos customizáveis de publicação científica [Rio de Janeiro] 2004 XIV, 153 p., 29,7 cm (COPPE/UFRJ, M.Sc., Engenharia de Sistemas e Computação. 2004) Tese - Universidade Federal do Rio de Janeiro. COPPE 1. Ma-estruturas do conhecimento científico 2. Sistemas de Anotações na Web. 3. Sistemas de Wor&!ows customizáveis 4. Web Semântica I. COPPE/UFRJ II. Título (série). iii AOS MEUS AVÓS TERESA E JOSE Primeiramente a Deus, por toda a força que me proporcionou durante a caminhada desta longa e árdua estrada do mestrado, e com quem compartilho todos os momentos de felicidade. A duas pessoas maravilhosas que são os meus pais: Ligia Maria Schneider e Ricardo Luiz Schneider. Agrade90 igualmente aos meus irmãos Adriana e André, aos meus avós Teresa e José, à minha tia Magaly e primo Pedro, e toda a minha família, e peço desculpas por ter me privado do convívio mais intenso com vocês em hnção deste trabalho de pesquisa. A todos os colegas da minha turma do mestrado. O convívio de vocês foi muito importante ao longo desta jornada. -

Collaborative Coding in the Browser
Collabode: Collaborative Coding in the Browser The MIT Faculty has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters. Citation Max Goldman, Greg Little, and Robert C. Miller. 2011. Collabode: collaborative coding in the browser. In Proceedings of the 4th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE '11). ACM, New York, NY, USA, 65-68. As Published http://dx.doi.org/10.1145/1984642.1984658 Publisher Association for Computing Machinery (ACM) Version Author's final manuscript Citable link http://hdl.handle.net/1721.1/79662 Terms of Use Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Detailed Terms http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Collabode: Collaborative Coding in the Browser Max Goldman Greg Little Robert C. Miller MIT CSAIL MIT CSAIL MIT CSAIL 32 Vassar St. 32 Vassar St. 32 Vassar St. Cambridge, MA 02139 Cambridge, MA 02139 Cambridge, MA 02139 [email protected] [email protected] [email protected] ABSTRACT Collaborating programmers should use a development envi- ronment designed specifically for collaboration, not the same one designed for solo programmers with a few collaborative processes and tools tacked on. This paper describes Colla- bode, a web-based Java integrated development environment built to support close, synchronous collaboration between programmers. We discuss three collaboration models in which participants take on distinct roles: micro-outsourcing to combine small contributions from many assistants; test- driven pair programming for effective pairwise development; and a mobile instructor connected to the work of many stu- dents. In particular, we report very promising preliminary results using Collabode to support micro-outsourcing. -

Upgrading the Interface and Developer Tools of the Trigger
FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY TECHNOLOGY CAMPUS GEEL Upgrading the Interface and Developer Tools of the Trigger Supervisor Software Framework of the CMS experiment at CERN Glenn DIRKX CERN-THESIS-2016-303 27/06/2016 Supervisor: Peter Karsmakers Master Thesis submitted to obtain the degree of Master of Science in Engineering Technology: Co-supervisor: Christos Lazaridis Master of Science in Electronics Engineering Internet Computing Academic Year 2015 - 2016 This page is intentionally left almost blank c Copyright KU Leuven Without written permission of the supervisor(s) and the author(s) it is forbidden to reproduce or adapt in any form or by any means any part of this publication. Requests for obtaining the right to reproduce or utilise parts of this publication should be addressed to KU Leuven, Technology Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, B-2440 Geel, +32 14 56 23 10 or via e-mail [email protected]. A written permission of the supervisor(s) is also required to use the methods, products, schematics and programs described in this work for industrial or commercial use, and for submitting this publication in scientific contests. This page is intentionally left almost blank Acknowledgements I would like to thank the following people for their assistance during this project: Christos Lazaridis for being a great mentor and for not getting mad when I break the nightlies or even SVN itself. Alessandro Thea for his advice on how to proceed with implementing new functionalities and his supply of motivation and inspiration. Evangelos Paradas for his guidance trough the architecture of the TS and pointing me to useful resources. -

TIME LINK Developer Aplicacoes Web Em Java.Pdf
Mestrado em Engenharia Informática Estágio Relatório Final TIME LINK Developer (Aplicações Web em Java) Paulo Alexandre Duarte da Silva [email protected] Orientador DEI: Prof. Doutor Mário Zenha Rela Orientador iClio: Prof. Doutor Joaquim Ramos de Carvalho Data: 2 de Setembro de 2015 Mestrado em Engenharia Informática Estágio Relatório Final TIME LINK Developer (Aplicações Web em Java) Paulo Alexandre Duarte da Silva [email protected] Orientador DEI: Prof. Doutor Mário Zenha Rela Orientador iClio: Prof. Doutor Joaquim Ramos de Carvalho Júri Arguente: Prof. Raul Barbosa Júri Vogal: Prof. Paulo Simões Data: 2 de Setembro de 2015 TIME LINK Developer (Aplicações Web em Java) Resumo O presente documento descreve os resultados do trabalho desenvolvido no âmbito do estágio do Mestrado em Engenharia Informática. O âmbito deste estágio consistiu no desenvolvimento de uma aplicação que possibilite ao utilizador acelerar o processo de introdução dos dados no sistema TIME LINK. O TIME LINK é um sistema informático desenvolvido pelo orientador externo, Doutor Joaquim Ramos de Carvalho, e que serve para apoiar investigações académicas. Este sistema é baseado em interfaces web e é bastante eficaz na recolha e tratamento de dados biográficos presentes em diversas fontes e no cruzamento de toda esta informação. Para que a informação seja populada na base de dados, é necessária a transcrição dos dados biográficos através de uma notação especial denominada de Kleio. Esta notação segue uma estrutura de modelo de dados que se baseia em três conceitos: grupos, unidades nucleares de recolha de informação; elementos, descrevem os grupos; e aspetos, atribuem valores aos elementos. -

VALERIA GAUZ História E Historiadores De Brasil Colonial, Uso De Livros Raros Digitalizados Na Comunicação Científica E a Produção Do Conhecimento, 1995-2009
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – PPGCI UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) - INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IBICT) VALERIA GAUZ HISTÓRIA E HISTORIADORES DE BRASIL COLONIAL, USO DE LIVROS RAROS DIGITALIZADOS NA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, 1995-2009 NITERÓI 2011 HISTÓRIA E HISTORIADORES DE BRASIL COLONIAL, USO DE LIVROS RAROS DIGITALIZADOS NA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, 1995-2009 Tese aprovada para a obtenção do título de doutora em Ciência da Informação, do Curso de Pós- Graduação do convênio UFF/IBICT ORIENTADORA: PROFA. DRA. LENA VANIA RIBEIRO PINHEIRO NITERÓI 2011 G278 GAUZ, Valeria História e Historiadores de Brasil Colonial, uso de livros raros digitalizados na Comunicação Científica e a produção do conhecimento, 1995‐2009 / Valeria Gauz. – Rio de Janeiro, 2011. [14], 249 p. Tese (Doutorado) – Curso de Pós ‐graduação em Ciência da Informação, Convênio Universidade Federal Fluminense/Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 2011. Orientadora: Profa. Dra. Lena Vania Ribeiro Pinheiro 1. Comunicação Científica. 2. História. 3. Acesso Livre. 4. Livro Raro. 5. Duas Culturas. 6. Estudos de uso de coleção. 7. Estudos de fluxo de informação. I. Curso de Pós‐graduação em Ciência da Informação. II. Universidade Federal Fluminense. III. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). IV. Título. VALERIA GAUZ História e Historiadores de Brasil Colonial, uso de livros raros digitalizados na Comunicação Científica e a produção do conhecimento, 1995-2009 BANCA EXAMINADORA: ____________________________________________ Profa. Dra. Lena Vania Ribeiro Pinheiro, IBICT (Orientadora) Doutora em Comunicação e Cultura, UFRJ _____________________________________________ Profa. -

Kostyginde Pz.Pdf
« » __________ .. , « » 2020 . - - 09.04.01 09.04.01.04 , ... , , ё , . , , , ..-.. , , ё , , ... , , ё , 2020 « » __________ .. , « » 2020 . Ы , , , , , 18-01-4 () 09.04.01 « » - - № 19113/ 19.12.2018 . , , ... , , , : : 1. ; 2. ; 3. ; 4. . : , , , , - . . «20» 2018 . «- - » 65 , 30 , 2 , 20 . , , Щ , , , ACE EDITOR. , - «», - . , , , , . , «» - . .............................................................................................................. 2 ................................................................................................................... 5 1 ............................................................................... 8 1.1 ........................................................... 8 1.2 , - ............... 9 1.3 «» .......................................................................................... 10 1.4 ................................................................. 11 1.4.1 ............................................... 11 1.4.1.1 Ace Editor ........................................................................................... 11 1.4.1.2 Monaco ................................................................................................ 12 1.4.1.3 CodeMirror ......................................................................................... -

Cloud Ides for Web Developers – Best Of
Natasha Tasha — Coding (Http://Www.Hongkiat.Com/Blog/Category/Coding/) Get daily articles in your inbox for free. Cloud IDEs For Web Developers – Insert email address Subscribe! Best Of With so much of the traditional, desktop-based productivity software we know and love moving to the Cloud, it’s no surprise that Cloud-based IDEs are quickly gaining ground with developers. Nowadays, the browser is essentially a thin client that allows users to access a variety of Cloud-based applications and services. However, many are still hesitant to put their full faith in a remote Cloud IDE for development purposes. Tools like Github (https://github.com/)and Pastebin (http://pastebin.com/) helped to ease the transition to Cloud-based development, and full-fledged Cloud IDEs are now commonly used by many developers. Here are 13 of the best Cloud IDEs you can get your hands on and a quick summation of each. Cloud9 (http://c9.io/) After a few minutes using the appropriately named Cloud9, you’ll feel like you’ve died and gone to coder heaven. The front end is all Javascript, while the back end died and gone to coder heaven. The front end is all Javascript, while the back end relies on the popular NodeJS framework. Though it’s favored by UI designers and developers, it has syntax highlighting for C#, C++, Python, Perl, Ruby, Scala and a few others as well. The built-in Vim mode is a nice touch, as is the support for popular revision control systems like Git, Mercurial and SVN. Thanks to the inclusion of CSSLint and JSBeautify, it’s also one of the prettier environments found online.