Eunice Ribeiro Durham
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
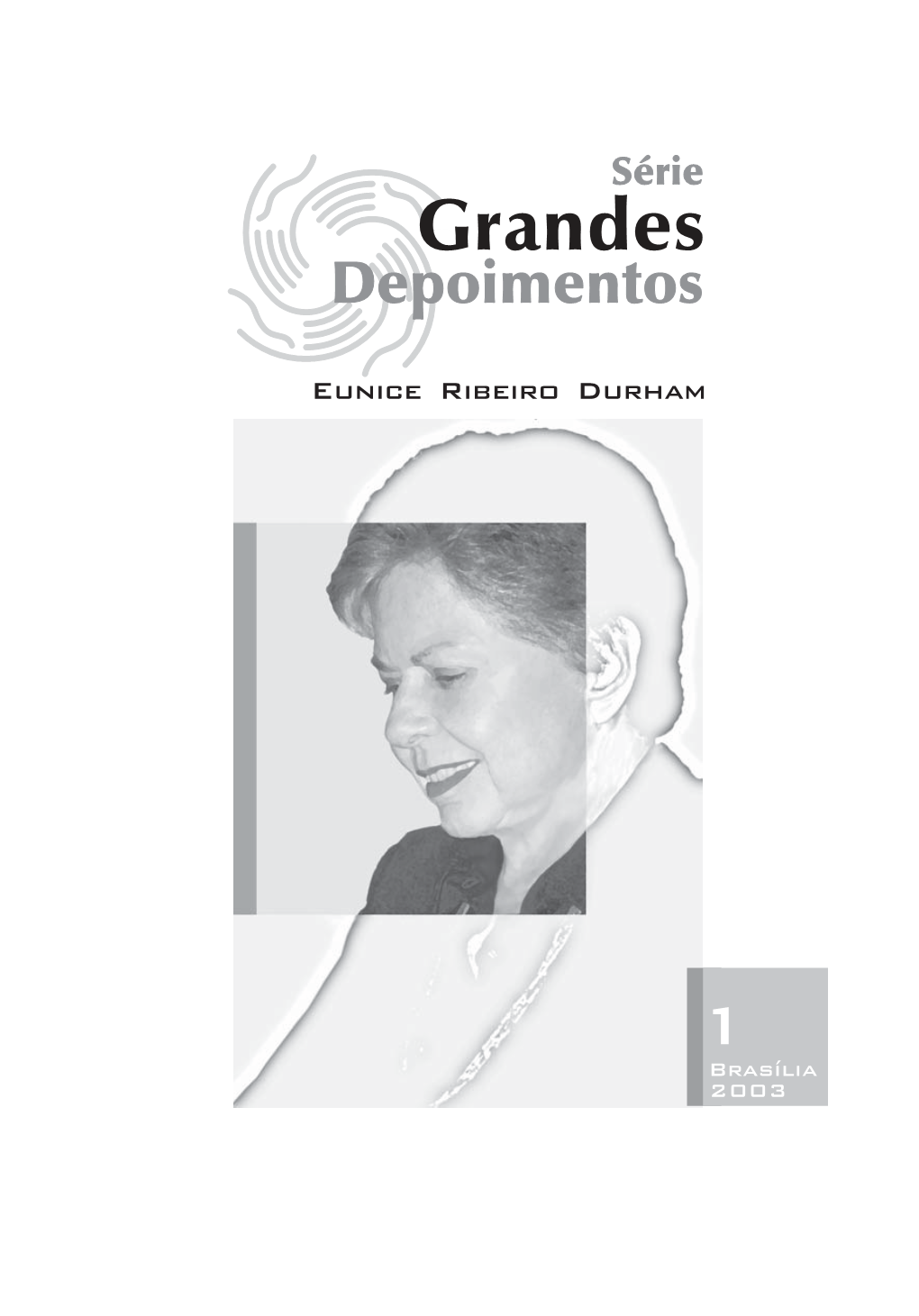
Load more
Recommended publications
-

Poder Executivo
Diário Oficial Eletrônico ANO XLIII n. 10.581 Campo Grande, sexta-feira, 23 de julho de 2021. 183 páginas PODER EXECUTIVO Governador ............................................................................................................... Reinaldo Azambuja Silva Vice-Governador ............................................................................................................................. Murilo Zauith Secretário Interino de Estado de Governo e Gestão Estratégica .................................... Flávio César Mendes de Oliveira Secretário de Estado da Casa Civil ..................................................................................................Sérgio de Paula Controlador-Geral do Estado .................................................................................. Carlos Eduardo Girão de Arruda Secretário de Estado de Fazenda .................................................................................Felipe Mattos de Lima Ribeiro Secretária de Estado de Administração e Desburocratização .............................................. Ana Carolina Araujo Nardes Procuradora-Geral do Estado ................................................................................. Fabiola Marquetti Sanches Rahim Secretária de Estado de Educação ........................................................................... Maria Cecília Amendola da Motta Secretário de Estado de Saúde .......................................................................................... Geraldo Resende Pereira Secretário -

SECRETO Y*Üxy
/-} C I E X SECRETO y*Üxy y N-°100 / Ena 04 f 05 /-A 71 Avaliação : /A-l Distribuição SNI/AC 2i Se^ /ME / 2» Sec/EMA ER 2§ Sec/ 4MA / CISA índice "Movimientc > de Acción Revolucionária", México, 1. Em anexo, uma tradução de documento do Departa - mento de Polícia federal do México a respeito da recente desço berta de um grupo subversivo denominado "Movimiento de Acción* Revolucionária", cujos integrantes haviam sido recrutados como bolsistas na Universidade Patrice Lumumba de Moscou e, posteri ormente, treinados em dois grupos na Coréia do Norte, 6fc ^Ni.BSd ib~.06.5T, f. 5/^5- SüãiJJsdtíp) C I E X SECRETO N / 7-1 Avaliação: -°101 > ^ yío 05/^ B-2 / Distribuição SNI/AC <f CIE 21 Sea/EME / ' 28 Sec/EMAER / 2§Sec/EMA /' CISA índice Q^^e e Uruguai. Asilados e refugiados brasileiros. 1. Em fins de MAB/71 ou em princípios de ABR/71, che gou a Montevidéu procedente do Chile, o brasileiro de nome HM BERTO (último nome desconhecido)• 2. 0 marginado teria há tempos fugido da Fortaleza* de Santa Cruz (Brasil), juntamente com o ex-tenente NILO SIL VEIRA e ARAKEN VAZ GALVÃO, 3. 0 elemento HUMBERTO seria pessoa vinculada à VPR. SECÀETO C I E X SECRE TO I /" Mo / «i^ff „., Avaliação: JB? "' 102 _ O Distribuição SNI/AC / OlEyf /EME 2ô Sec/EMAER' 2â Sec/EMA /CISA índice Chile e Uruguai, Asilados e refugiados brasileiros, 1. CARLOS FIGUEIREDO DE SA* embarcou pela Alitalia • dia 17/ABR/71, com destino ao Chile. 2. O marginado, que até então esperava a vinda de A- POLÔNIO DE CARVALHO ao Uruguai, resolveu ir ao encontro do mes mo no Chile, 3, As atividades do marginado no Uruguai ficaram à cargo do ex-deputado GERALDO SARDINHA, inclusive a instalação* de uma base da ALN no Uruguai. -

Relatório De Abastecimento Período De 01/09/2017 a 19/09/2017
Relatório de Abastecimento Período de 01/09/2017 a 19/09/2017 Data Hora Modelo Placa Matrícula Condutor Unidade Cidade Combustível Qtde Valor Valor Litro ANP Valor c/ ANP Valor Considerado Taxa (%) Valor à Pagar 01/09/2017 06:48:57 SENTRA 2.0 SL PAH-9601 164000 WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS VIANA GABINETE DO SENADOR AÉCIO NEVES BRASILIA GASOLINA 27,27 R$ 107,94 3,959 3,84 R$ 104,59 R$ 104,59 1,75 R$ 106,42 01/09/2017 06:52:02 SENTRA 2.0 SL PAH-9622 169538 RONALDO BARBOSA DA SILVA GABINETE DO SENADOR VICENTINHO ALVES BRASILIA GASOLINA 32,54 R$ 132,08 4,059 3,84 R$ 124,82 R$ 124,82 1,75 R$ 127,01 01/09/2017 06:52:30 SENTRA 2.0 SL PAH-9607 235821 ANTONIO SALGADO NETO GABINETE DO SENADOR CIRO NOGUEIRA BRASILIA GASOLINA 35,73 R$ 141,44 3,959 3,84 R$ 137,05 R$ 137,05 1,75 R$ 139,45 01/09/2017 07:38:12 SENTRA 2.0 SL PAH-9612 298338 MARCELO AMORIM SILVA DIRETORIA GERAL BRASILIA GASOLINA 40,36 R$ 160,21 3,97 3,84 R$ 154,82 R$ 154,82 1,75 R$ 157,53 01/09/2017 07:47:33 SENTRA 2.0 SL PAH-9594 300370 CLEITON PAULINO DE SOUZA SILVA GABINETE DA SENADORA ROSE DE FREITAS BRASILIA GASOLINA 33,33 R$ 132,39 3,972 3,84 R$ 127,87 R$ 127,87 1,75 R$ 130,10 01/09/2017 08:10:38 SENTRA 2.0 SL PAH-9591 33525 JOEL BRAGA DA SILVA GABINETE DA SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN BRASILIA GASOLINA 29,17 R$ 115,47 3,959 3,84 R$ 111,88 R$ 111,88 1,75 R$ 113,84 01/09/2017 08:20:14 SENTRA 2.0 SL PAH-9626 236229 MARCIO MARTINS CASTRO GABINETE DO SENADOR JOSÉ AGRIPINO BRASILIA GASOLINA 10 R$ 40,69 4,069 3,84 R$ 38,36 R$ 38,36 1,75 R$ 39,03 01/09/2017 09:11:23 SENTRA 2.0 SL PAH-9649 178308 -

Aspectos Do Cultivo Da Mandioca Em Mato Grosso Do
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you byCORE provided by Infoteca-e Aspectos do Cultivo da Mandioca em Mato Grosso do Sul Dietrich Gerhard Quast José Honório Accarini Sérgio Fausto República Federativa do Urbano Campos Ribeiral Brasil Membros Fernando Henrique Cardoso Diretoria Executiva da Presidente Embrapa Ministério da Agricultura, Alberto Duque Portugal Pecuária e Abastecimento Diretor-Presidente Marcus Vinicius Pratini de Dante Daniel Giacomelli Scolari Moraes Bonifácio Hideyuki Nakaso Ministro José Roberto Rodrigues Peres Diretores-Executivos Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Agropecuária Oeste Embrapa José Ubirajara Garcia Fontoura Conselho de Administração Chefe-Geral Márcio Fortes de Almeida Fernando Mendes Lamas Presidente Chefe-Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento Alberto Duque Portugal Vice-Presidente Josué Assunção Flores Chefe-Adjunto de Administração Prof. Ivo Arcângelo Vendrúsculo Busato Pró-Reitor de Extensão Prof. Pedro Chaves dos Profa. Andréia Tostes Santos Filho Filgueiras Fernandes Reitor Pró-Reitora de Graduação Profa. Therezinha de Jesus dos Prof. Manfredo Luiz Lins e Santos Samways Silva Pró-Reitora Administrativa Pró-Reitor de Pesquisa e Pós- Graduação Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Aspectos do Cultivo da Mandioca em Mato Grosso do Sul Auro Akio Otsubo Fábio Martins Mercante Celso de Souza Martins (Editores) (Este documento contém palestras apresentadas -

Lista De Autoridades 2021
LISTA DE AUTORIDADES 2021 Pa lá ci o Gu a i c uru s Aven i d a D es emba rga do r J os é Nu n es d a Cu nh a Ja rdim Vera n ei o – Parq u e d os Pode r es – Bloc o 0 9 Ca mpo Gra n de / M S – CE P: 7 9 . 031 - 9 01 Tel. : ( 67 ) 33 8 9 . 656 5 – CNPJ : 03 . 9 7 9 . 390 / 0 001 - 8 1 www. a l . ms. l e g. b r A Gerência de Cerimonial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a fim de manter atualizadas as informações contidas nesta Lista de Autoridades/MS, solicita aos senhores titulares ou encarregados pelos diversos órgãos citados que procedam as correções necessárias, encaminhando as alterações de imediato e de forma oficial via correio ou pelo email [email protected]. Esta Gerência compromete-se com as informações apenas quando acessadas por meio do Portal: www.al.ms.gov.br. Outras informações, colocamo-nos à disposição nos telefones: (67) 3389-6359/6473/6484. Gerência de Cerimonial 2 Pa lá ci o Gu a i c uru s Aven i d a D es emba rga do r J os é Nu n es d a Cu nh a Ja rdim Vera n ei o – Parq u e d os Pode r es – Bloc o 0 9 Ca mpo Gra n de / M S – CE P: 7 9 . 031 - 9 01 Tel. : ( 67 ) 33 8 9 . 656 5 – CNPJ : 03 . 9 7 9 . -

Lista De Autoridades 2019
LISTA DE AUTORIDADES 2019 Palácio Guaicurus Avenida Desembargador José Nunes da Cunha Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 09 Campo Grande / MS – CEP: 79.031-901 Tel.: (67)3389.6565 – CNPJ: 03.979.390/0001-81 www.al.ms.leg.br A Gerência de Cerimonial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a fim de manter atualizadas as informações contidas nesta Lista de Autoridades/MS, solicita aos senhores titulares ou encarregados pelos diversos órgãos citados que procedam as correções necessárias, encaminhando as alterações de imediato e de forma oficial via correio ou pelo email [email protected]. Esta Gerência compromete-se com as informações apenas quando acessadas por meio do Portal: www.al.ms.gov.br Outras informações, colocamo-nos à disposição nos telefones: (67) 3389-6359/6473/6233. Gerência de Cerimonial 2 Palácio Guaicurus Avenida Desembargador José Nunes da Cunha Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 09 Campo Grande / MS – CEP: 79.031-901 Tel.: (67)3389.6565 – CNPJ: 03.979.390/0001-81 www.al.ms.leg.br INDÍCE APRESENTAÇÃO 02 INDÍCE 03 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 08 MESA DIRETORA 09 CORREGEDOR PARLAMENTAR 09 DEPUTADOS ESTADUAIS 10 PARLASUL/BRASIL E UNALE 11 BLOCOS PARLAMENTARES/ LÍDER E VICE-LÍDER 12 COMISSÕES PERMANENTES 13 SECRETARIAS E GERÊNCIAS 14 ESCOLA DO LEGISLATIVO SENADOR RAMEZ TEBET 15 PODER EXECUTIVO DO ESTADO 16 GOVERNADORIA – GABGOV 17 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA 18 – SEGOV AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MS 20 – AGEPAN FUNDAÇÃO DE DESPORTO E -

Diário Oficial De Campo Grande-Ms
DIOGRANDE DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS Registro n. 26.965, Livro A-48, Protocolo n. 244.286, Livro A-10 4 º Registro Notarial e Registral de Títulos e Documentos da Comarca de Campo Grande - Estado de Mato Grosso do Sul ANO XVII n. 3.923 - quinta-feira, 2 de janeiro de 2014 14 páginas PARTE I PODER EXECUTIVO PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal de SECRETARIAS Saúde Pública, e a Associação Pestalozzi de Campo Grande - MS. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 8.666, de 21/6/93, Lei Municipal n. 3.452, de 11/5/98, Decreto n. 7.761, de 30/12/98 e Lei n. 8.080, 19/9/90. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação Mútua n. 17, de PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO 23/8/2011. PRAZO: Até 30 de novembro de 2014. RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Termo de Cooperação Mútua n. REPUBLICA-SE POR CONSTAR COM INCORREÇÕES NO ORIGINAL PUBLICADO NO 17/2011 e de seu Termo Aditivo, desde que não conflite com o presente instrumento. DIOGRANDE n. 3922, de 30/12/2013. ASSINATURAS: Ivandro Corrêa Fonseca e Gysélle Saddi Tannous. EXTRATO DO CONTRATO n. 165-A, CELEBRADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013. PARTES: Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS, e a Empresa Alena Engenharia, CAMPO GRANDE-MS, 27 DE NOVEMBRO DE 2013. Gerenciamento e Tecnologia de Informação Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 8.666, de 21/6/93 e Legislação Complementar, de JOSÉ ROBERTO NUNES GONDIM conformidade com o Edital de Tomada de Preços n. -

Aspectos Do Cultivo Da Mandioca Em Mato Grosso Do
Aspectos do Cultivo da Mandioca em Mato Grosso do Sul Dietrich Gerhard Quast José Honório Accarini Sérgio Fausto República Federativa do Urbano Campos Ribeiral Brasil Membros Fernando Henrique Cardoso Diretoria Executiva da Presidente Embrapa Ministério da Agricultura, Alberto Duque Portugal Pecuária e Abastecimento Diretor-Presidente Marcus Vinicius Pratini de Dante Daniel Giacomelli Scolari Moraes Bonifácio Hideyuki Nakaso Ministro José Roberto Rodrigues Peres Diretores-Executivos Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Agropecuária Oeste Embrapa José Ubirajara Garcia Fontoura Conselho de Administração Chefe-Geral Márcio Fortes de Almeida Fernando Mendes Lamas Presidente Chefe-Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento Alberto Duque Portugal Vice-Presidente Josué Assunção Flores Chefe-Adjunto de Administração Prof. Ivo Arcângelo Vendrúsculo Busato Pró-Reitor de Extensão Prof. Pedro Chaves dos Profa. Andréia Tostes Santos Filho Filgueiras Fernandes Reitor Pró-Reitora de Graduação Profa. Therezinha de Jesus dos Prof. Manfredo Luiz Lins e Santos Samways Silva Pró-Reitora Administrativa Pró-Reitor de Pesquisa e Pós- Graduação Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Aspectos do Cultivo da Mandioca em Mato Grosso do Sul Auro Akio Otsubo Fábio Martins Mercante Celso de Souza Martins (Editores) (Este documento contém palestras apresentadas nos I e II Seminários sobre a cultura da mandioca em Mato Grosso do Sul) Dourados, MS 2002 Exemplares -

Diário Oficial De Campo Grande-Ms
DIOGRANDE DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS Registro n. 26.965, Livro A-48, Protocolo n. 244.286, Livro A-10 4 º Registro Notarial e Registral de Títulos e Documentos da Comarca de Campo Grande - Estado de Mato Grosso do Sul ANO XVII n. 3.970 - terça-feira, 11 de março de 2014 21 páginas PARTE I PODER EXECUTIVO DECRETOS DECRETO n. 12.303, DE 07 DE MARÇO DE 2014. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR À UNIDADE DECRETO n. 12.302, DE 07 DE MARÇO DE 2014. ORÇAMENTÁRIA MENCIONADA NO ANEXO ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ÀS UNIDADES ÚNICO A ESTE DECRETO. ORÇAMENTÁRIAS MENCIONADAS NO ANEXO ÚNICO A ESTE DECRETO. ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso I, do art. 5º, da Lei n. 5.293, de 15 de janeiro de legais, com fundamento no inciso I, do art. 5º, da Lei n. 5.293, de 15 de janeiro de 2014, e com intuito de informar a Câmara Municipal, utilizando a autorização 2014, e com intuito de informar a Câmara Municipal, utilizando a autorização legislativa para abrir créditos suplementares até o limite de 5%, e legislativa para abrir créditos suplementares até o limite de 5%, D E C R E T A: Considerando que o Balanço Patrimonial, Anexo XIV, dos Balanços do Fundo Municipal para a Infância e à Adolescente, do Exercício de 2013, publicado no Art. -

PSS Relação De Estabelecimentos De Ensino Credenciados (Atualizado Em 12/09/2019)
Universidade Estadual de Ponta Grossa Coordenadoria de Processos de Seleção Processo Seletivo Seriado - PSS Relação de Estabelecimentos de ensino credenciados (Atualizado em 12/09/2019) UF Cidade/Município Estabelecimento de Ensino AC RIO BRANCO SIGMA, COL ENS MED AL MACEIÓ OBJETIVO, COL ENS FUN MED AM HUMAITA CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO BETEL AM MANAUS CENTRO EDUCACIONAL ADALBERTO VALLE AM MANAUS CENTRO EDUCACIONAL LATO SENSU AM TEFÉ CENTRO EDUC GOV GILBERTO MESTRINHO AP MACAPA CONEXAO AQUARELA, ESC ENS MED AP MACAPA GABRIEL DE ALMEIDA CAFE, ESC EST ENS MED BA ALAGOINHAS DINAMO, COL ENS MED BA CAETITE COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CAETITE BA ITABUNA SISTEMA MODERNO, COL ENS MED BA JUAZEIRO ALFREDO VIANA, COL DA POLICIA MILITAR BA PORTO SEGURO CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN BA SALVADOR GENESIS, COL ENS MED BA TEIXEIRA DE FREITAS HENRIQUE BRITO, COL EST ENS MED BA TEIXEIRA DE FREITAS INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS BA VITORIA DA CONQUISTA NOSSA SENHORA DE FATIMA, COL ENS MED CE FORTALEZA FARIAS BRITO, COL ENS MED DF BRASÍLIA CEM 01 - RIACHO FUNDO 1 DF BRASÍLIA CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI - TAGUATINGA DF BRASÍLIA CENTRO EDUCACIONAL UNICO DF BRASÍLIA IDEAL, COL ENS MED DF BRASÍLIA MILITAR DE BRASÍLIA, COL ENS MED DF BRASÍLIA OBJETIVO, COL ENS MED DF BRASÍLIA OLIMPO, COL ENS MED DF TAGUATINGA MARISTA CHAMPAGNAT, COL ENS MED ES CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS C DE ITAPEMIRIM ES CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM LEOPODINO DA ROCHA, ESC EST ENS MED ES CARIACICA INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO ES SAO MATEUS -

Suplemento Cultural
CORREIO DO ESTADO 6 CORREIO B SÁBADO/DOMINGO, 27/28 DE JULHO DE 2019 Suplemento Cultural PRIMÓRDIOS DE CUIABÁ – MT ImagEM DO GOOglE Através do caminho das monções, então, esse REGINALDO ALVES DE ARAÚJO – tempo inchava para 120 longos e penosos dias, poeta/cronista, ex-presidente da Academia através dos rios: Tietê e, descendo 1003 km por Sul-Mato-Grossense de Letras ele, até chegar ao Rio Paraná; subindo este por 191 km, até chegar ao Pardo; singrando este por Iniciamos esta obra literária focalizando lumino- 561 km até o Camapuã; deslizando neste por 112 sos fatos históricos ocorridos a partir do ano de km até atingir o Coxim; deslizando pelo Coxim 1492, quando o navegador Cristóvão Colombo, O primeiro europeu a por 264 km; até atingir o Taquari; deslizando nes- enviado pelo rei da Espanha, descobriu a América desbravar a área que viria a te por 594 km até atingir o Paraguai; por este su- e, oito anos depois, precisamente em 1500, bindo por 257 km até atingir o Orrudos; subindo Portugal enviou o também navegador Pedro construir o estado de Mato por este por 165 km até atingir o rio Cuiabá, em Álvares Cabral que, em caminho para as Índias, que, navegando por seus 422 km, permitia o final num golpe de sorte, descobriu o Brasil, também Grosso foi o português Aleixo da viagem, depois de 3.569 km.... em terras da América. Isso, sem se falar nos 113 obstáculos (varadou- Não demorou muito para que os dois países eu- Garcia, náufrago da esquadra ros, saltos, cachoeiras e corredeiras), em que as ropeus intensificassem constantes lutas na dispu- Juan Díaz de Solís – chefe da expedição que trouxe de Juan Díaz de Solís” canoas eram descarregadas, conduzidas sobre ta de terras no sul do Continente Americano, na Aleixo Garcia até o rio Paraná, via “Rio de la toletes (onde o terreno permitisse), através de demarcação de limites, sempre em busca de seus Plata” (1516) do Brasil, os valentes Bandeirantes paulistas. -

Panorama Sobre
SUELI VEIGA MELO SUELI VEIGA MELO PANORAMA SOBRE 1 PANORAMA SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA BÁSICA NO BRASIL E EM MATO GROSSO DO SUL SUELI VEIGA MELO ATUAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA na Rede Municipal de Taquarussu/MS, nos anos de 1983 e 1984; PROFESSORA na Rede Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, desde 1985; ESPECIALISTA em Educação na Rede Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, desde 1989. FORMAÇÃO PEDAGOGIA SUPERVISÃO ESCOLAR PÓS-GRADUAÇÃO METODOLOGIA DO ENSINO, na Associação de Ensino e Cultura Urubupungá – Pereira Barreto – SP; EDUCAÇÃO ESPECIAL – Deficiência Auditiva, no Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES/RJ; ECONOMIA do Trabalho e Educação Sindical, na UFMS/MS. METRADO MESTRA em Estado, Governo e Políticas Públicas, pela Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais e Fundação Perseu Abramo – SP, 2019. FUNÇÕES ATUAIS VICE-PRESIDENTA da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul – FETEMS; SECRETÁRIA ADJUNTA de Formação Sindical Nacional da Central Única dos Trabalhadores – CUT; MEMBRO DO CONSELHO Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul; MEMBRO DO FÓRUM Nacional Popular de Educação. 2 SUELI VEIGA MELO Panorama sobre o financiamento da educação pública básica no Brasil e em Mato Grosso do Sul Sueli Veiga Melo 2020 1 PANORAMA SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA BÁSICA NO BRASIL E EM MATO GROSSO DO SUL Copyright by Sueli Veiga Melo Capa: Daniel Costa e Sueli Veiga Melo Foto de capa: Paulo Soares Preparação editorial: Claudia Giannotti Projeto gráfico e diagramação: