O Jornalismo Literário
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
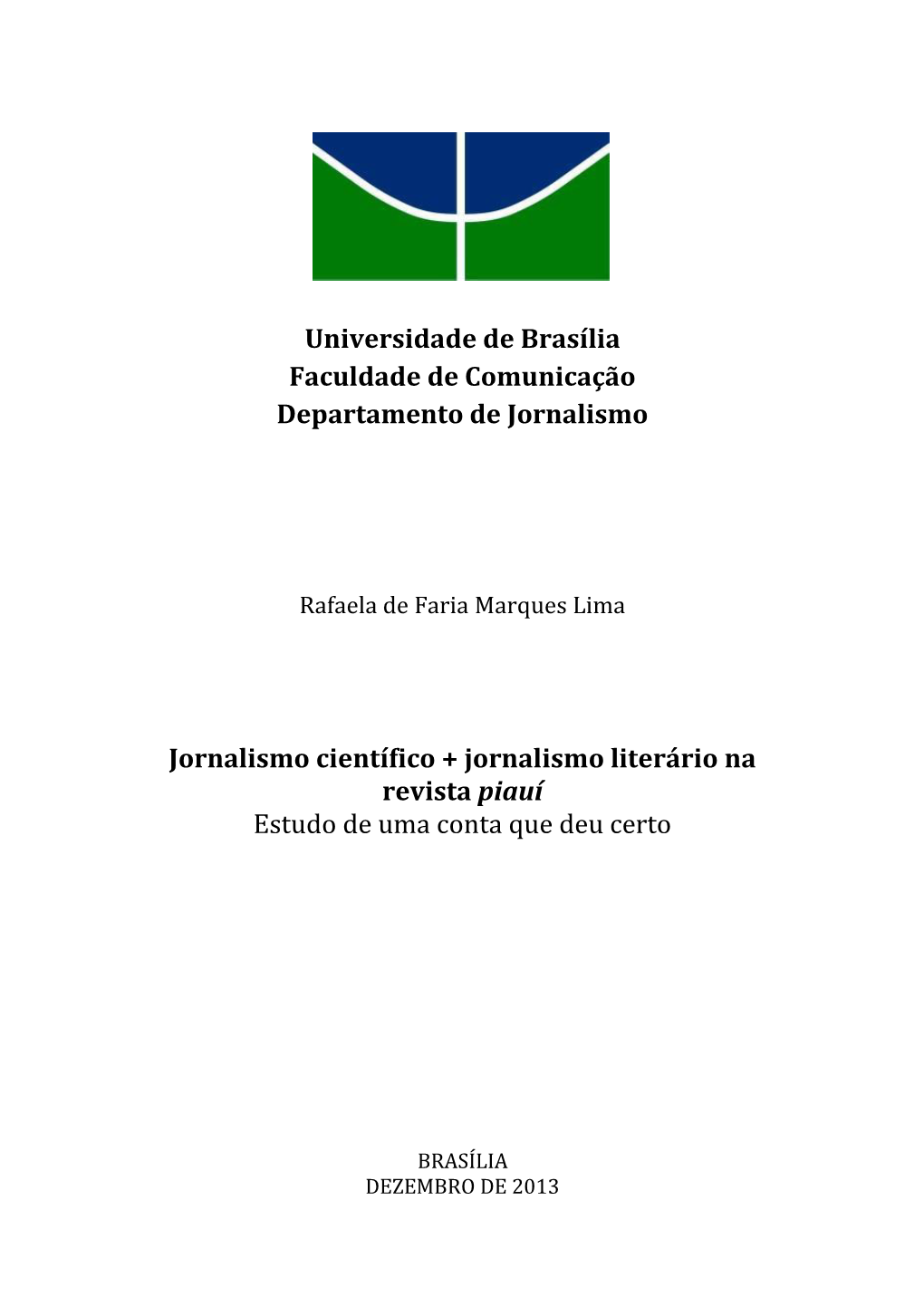
Load more
Recommended publications
-

2021 MEDIA KIT Science News for Students | JUNE 6, 2019 ”Grid,” by Math Artist Henry Segerman, Explores Mathematical 2021 Concepts Using Projections
2021 MEDIA KIT Science News for Students | JUNE 6, 2019 ”Grid,” by math artist Henry Segerman, explores mathematical 2021 concepts using projections. This 3D-printed sculpture is a patterned sphere. When light shines through the openings from above, the MEDIA KIT shadows form a square grid. H. SEGERMAN For nearly a century, Science News has been a trusted source of concise, accurate and inspirational science journalism. Published by the Society for Science, a nonprofit organization dedicated to expanding scientific literacy, effective STEM education and scientific research, each issue of Science News reaches more than 113,000 subscribers, and ScienceNews.org averages 1.4 million unique visitors each month. Science News and ScienceNews.org deliver an intellectually curious audience that is educated, affluent, highly loyal and passionate about science. And Science News for Students, our award-winning companion site, brings the latest developments in STEM to anyone in middle school or older, and averages over 600,000 unique monthly visitors. Advertising with Science News also helps the Society promote the understanding and appreciation of science to the public through our award-winning publications, outreach programs and world-class science education competitions for middle and high school students. Contact us today to connect with exceptional readership in print, online or via e-mail advertising. 1 [email protected] | www.societyforscience.org | www.sciencenews.org | 202-785-2255 2 Magazine Human Fear CBD Relic Death Science News | MARCH 30, 2019 Confuses Demand Neutrinos Smells Good Search Gets Ahead Mark the to Hermit Dogs of Science Sky Crabs Maybe only 30 out of 1,000 icebergs SCIENCE NEWS MAGAZINE SOCIETY FOR SCIENCE & THE PUBLIC have a green hue, earning them the MARCH 30, 2019 nickname “jade bergs.” Now scientists may know why the ice has this unusual color. -

Science Service and the Origins of Science Journalism, 1919-1950 Cynthia Denise Bennet Iowa State University
Iowa State University Capstones, Theses and Graduate Theses and Dissertations Dissertations 2013 Science Service and the origins of science journalism, 1919-1950 Cynthia Denise Bennet Iowa State University Follow this and additional works at: https://lib.dr.iastate.edu/etd Part of the History of Science, Technology, and Medicine Commons, Journalism Studies Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Bennet, Cynthia Denise, "Science Service and the origins of science journalism, 1919-1950" (2013). Graduate Theses and Dissertations. 13079. https://lib.dr.iastate.edu/etd/13079 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Iowa State University Capstones, Theses and Dissertations at Iowa State University Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Iowa State University Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. Science Service and the origins of science journalism, 1919-1950 by Cynthia D. Bennet A dissertation submitted to the graduate faculty in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPY Major: History of Technology and Science Program of Study Committee: Amy Sue Bix, Major Professor James T. Andrews David B. Wilson Charles Dobbs Pamela Riney-Kehrberg Iowa State University Ames, Iowa 2013 Copyright © Cynthia D. Bennet, 2013. All rights reserved. ii DEDICATION For my husband Greg—this wouldn't mean anything without you, and for Cosette, Willie, -

International Science and Engineering Fair Sponsorship Opportunities
ISEF INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR SPONSORSHIP OPPORTUNITIES EXECUTIVE SUMMARY ANAHEIM, CALIFORNIA MAY 10–15, 2020 ISEF SPONSORSHIP EXECUTIVE SUMMARY Join the ISEF Sponsor Community Join the exclusive group of forward- thinking corporations, foundations, organizations, and individuals that provide sponsorship support at the International Science and Engineering Fair (ISEF). As a sponsor, you have the opportunity to: • Inspire tomorrow’s STEM leaders and innovators. • Increase brand awareness and loyalty by connecting directly with the next generation of scientific and engineering leaders. • Drive media coverage around your company’s commitment to STEM. • Develop unique, individual relationships with global talent in 80 countries, regions, and territories through the Society for Science & the Public’s (the Society’s) network of 425 affiliated science fairs. Depending on your level of sponsorship, there are special branding benefits, including banners and signage, promotion, and networking opportunities. In addition to the sole title sponsorship, there are three other categories of sponsorship participation: Finalist Sponsorship, Grand Awards Category Sponsorship, and Event and Branding Opportunities. INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR | SPONSORSHIP EXECUTIVE SUMMARY ISEF SPONSORSHIP EXECUTIVE SUMMARY SPONSOR STUDENT FINALISTS Provide financial support for the participa- tion of ISEF finalists from a regional fair of your choice. Student finalists come from affiliated fairs located around the world. Just let us know which fair or fairs you wish to support. Benefits include branding throughout the fair and in ISEF promo- tional materials, as well as a discount in the ISEF Commons. A supporter may also sponsor just the travel portion of a finalist’s expense through a travel grant. SPONSOR A GRAND AWARDS CATEGORY Fund the Awards for one or more of the 21 different categories of ISEF projects. -

Q&A with Maya Ajmera This Is Susan Straight, Editor of Dimensions
Q&A with Maya Ajmera Interviewed by Susan Straight This is Susan Straight, editor of Dimensions magazine and I’m here today with Maya Ajmera. Maya is the president and CEO of Society for Science & the Public and publisher of Science News. The Society is best known for its world-class science education competitions and award- winning journalism. Just after graduating from college, Maya founded The Global Fund for Children, a philanthropy dedicated to improving the lives of vulnerable children. Maya has written more than 20 children’s books. Maya, it’s so great to be with you today. It’s really great to be with you, Susan. Thanks so much for having me. Your career direction was partly inspired by seeing a small group of children attending class on a train platform in India. What kind of innovative approaches to education are you seeing now, during lockdowns and social distancing? Everything has gone virtual. You’re seeing a lot of innovative things going on around the world. One place that a lot of kids have homed in on is Khan Academy. I’ll be honest, my daughter loves the reinforcement that it gives. She loves the sparkling balloons she gets when she adds two plus two equals four and she’s right about it. It keeps giving her motivation. I’m incredibly excited about how technology has become very creative during this time. I’ll also say very honestly, it doesn’t take the place of being in a classroom and learning from a teacher. Even though we’re doing that virtually, it isn’t the same as being there in person. -

Obama Administration Official Kumar Garg Joins Society for Science & the Public As Senior Fellow WASHINGTON, DC
Obama Administration Official Kumar Garg Joins Society for Science & the Public as Senior Fellow WASHINGTON, DC (MARCH 29, 2017) -- The Society for Science & the Public today announced that Kumar Garg has joined the organization as a Senior Fellow. At the Society, Kumar will join the leadership team and offer his expertise as a leading policymaker and strategist to the Society’s mission of cultivating scientific understanding among children and adults. Kumar helped shape science and technology policy for the Obama Administration for nearly eight years, serving in a variety of roles in the White House Office of Science and Technology Policy (OSTP), most recently Assistant Director for Learning and Innovation. He led the Obama Administration’s efforts to bolster STEM education, including the Educate to Innovate campaign with over $1 billion in in-kind and philanthropic investment, development of major State of the Union initiatives to train 100,000 excellent STEM teachers and bring computer science to all K-12 students and creation of iconic events, such as the White House Science Fair. “Kumar’s work through initiatives like the White House Science Fair and the Educate to Innovate campaign underscore his understanding of and commitment to expanding and promoting STEM education,” said Maya Ajmera, President & CEO of the Society for Science & the Public and Publisher of Science News. “We are thrilled to have him on board.” “The Society for Science & the Public is a national treasure, and I’m excited to be part of an organization devoted to science and building opportunities for American youth,” said Kumar Garg. Kumar helped supervise a team of 20 staff with portfolios ranging from biotechnology, entrepreneurship, space, advanced manufacturing, broadband, nanotechnology, behavioral sciences, the Maker Movement, digital media, prizes and broader innovation policy. -

Society for Science & the Public Announces Regeneron As New
Society for Science & the Public Announces Regeneron as New Title Sponsor of the International Science and Engineering Fair December 12, 2019 TARRYTOWN, N.Y. and WASHINGTON, Dec. 12, 2019 /PRNewswire/ -- Regeneron ISEF gathers outstanding science students from around the globe to compete for millions in prizes at the world's largest pre-college science and engineering competition Society for Science & the Public (Society) and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) today announced that Regeneron is the new title sponsor of the International Science and Engineering Fair (ISEF), the world's largest pre-college science and engineering competition, with a commitment of approximately $24 million over a five-year period. Established in 1950, ISEF gives the world's best and brightest young scientists a global stage to share their outstanding STEM research, and compete for nearly $5 million in awards, prizes and scholarships. Each year, over 175,000 students compete in the Society's more than 420 affiliated high school science fairs around the world. Top winners earn the right to compete at ISEF where nearly 2,000 finalists, half of which are young female scientists, are judged in 21 different categories including biochemistry, behavioral and social sciences, environmental engineering, mathematics, robotics and intelligent machines, systems software and translational medical science. Regeneron's commitment comes as the Society has created a new multitiered sponsorship model to support different judging categories, events and delegations of ISEF finalists. The Society is continuing to seek additional sponsors who are similarly committed to furthering the future of science and engineering, and will be announcing new sponsors in the coming weeks and months. -

VIRTUAL REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE and ENGINEERING FAIR 2021 PRELIMINARY PROGRAM – GENERAL ATTENDEES Schedule Subject to Change
VIRTUAL REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR 2021 PRELIMINARY PROGRAM – GENERAL ATTENDEES Schedule Subject to Change. SUNDAY, MAY 16 5:00 p.m.–7:00 p.m. Eastern College Fair Live ProjectBoard 7:00 p.m.–8:00 p.m. Eastern Opening Ceremony | Sponsored by Regeneron ProjectBoard Welcome Remarks, Maya Ajmera, President & CEO, Society for Science; Publisher, Science News Remarks from George Yancopoulos, President and Chief Scientific Officer, Regeneron Keynote Address, Michio Kaku, Futurist, Physicist, Author “Around the World” Dance Video featuring Regeneron ISEF 2021 finalists MONDAY, MAY 17 5:00 p.m.–7:00 p.m. Eastern College Fair Live ProjectBoard 5:00 p.m.–7:00 p.m. Eastern STEM Career Hall Live ProjectBoard 7:00 p.m. Eastern Excellence in Science and Technology Panel | Sponsored by Society for Science ProjectBoard Moderated by Joe Palca, Science Correspondent, National Public Radio Featuring: • Frances Arnold Linus Pauling Professor of Chemical Engineering California Institute of Technology Nobel Prize in Chemistry 2018 • H. Robert Horvitz David Koch Professor, Department of Biology Massachusetts Institute of Technology Investigator, Howard Hughes Medical Institute Nobel Prize in Physiology or Medicine 2002 • Roderic Pettigrew Chief Executive Officer, Engineering Health Executive Dean for Engineering Medicine Texas A&M University Vannevar Bush Award 2020 • Monika Schleier-Smith Associate Professor, Physics Stanford University MacArthur Fellow 2020 Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 1 8:30 p.m. Eastern Innovation and Entrepreneurship Panel | Sponsored by Society for Science ProjectBoard Moderated by Maya Ajmera, President & CEO, Society for Science; Publisher, Science News Featuring: • Omar Abudayyeh Fellow, McGovern Institute ISEF 2008 • Eden Full Goh Founder & CEO, Mobot ISEF 2007–2008 • Michael Li Founder at The Data Incubator and President for data at Pragmatic Institute STS 2003; ISEF 2003 • David Schlesinger CEO & Co-founder, Mendelics ISEF 1997 TUESDAY, MAY 18 9:00 a.m.–6:00 p.m. -
Ajmera Announcement Final
Society for Science & the Public Appoints Maya Ajmera CEO and Publisher FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Sarah Wood June 12, 2014 Society for Science & the Public (202) 872-5110 [email protected] WASHINGTON, June 12, 2014 – H. Robert Horvitz, chairman of the Board of Trustees at Society for Science & the Public, today announced the appointment of veteran nonprofit leader, author, and social entrepreneur Maya Ajmera as president and CEO of Society for Science & the Public and publisher of the Science News family of media properties, effective July 31. In this position, Ajmera will assume overall responsibility for the leadership and management of SSP. These responsibilities include nurturing SSP’s exceptional suite of award-winning publications and science education programs and developing innovative channels to help the Society reach its full potential. Ajmera comes to SSP from her most recent roles as the Inaugural Social Entrepreneur in Residence and Visiting Professor of the Practice of Public Policy at the Sanford School of Public Policy at Duke University and as a Visiting Scholar and Professorial Lecturer at the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University. From 1993 to 2011, she founded and led the Global Fund for Children, a nonprofit organization that invests private philanthropic capital to support innovative, community-based organizations working with vulnerable children and youth. In that role, Ajmera secured tens of millions of dollars through fund-raising efforts, supporting hundreds of organizations operating in more than 80 countries, and touching the lives of more than eight million children. In addition to her significant leadership experience, Ajmera has authored more than 15 award-winning children’s books and founded a children’s book publishing imprint. -

Forty of the Nation's Most Talented Young Scientists Named Finalists in Regeneron Science Talent Search 2021
Forty of the Nation's Most Talented Young Scientists Named Finalists in Regeneron Science Talent Search 2021 January 21, 2021 TARRYTOWN, N.Y. and WASHINGTON, Jan. 21, 2021 /PRNewswire/ -- Finalists to Compete for More Than $1.8 Million in Oldest and Most Prestigious U.S. STEM Competition for High School Seniors Over $3 Million Awarded Throughout Competition Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) and Society for Science (the Society) today named 40 finalists in the Regeneron Science Talent Search 2021, the nation's oldest and most prestigious science and math competition for high school seniors. The 2021 finalists were selected from 1,760 highly qualified entrants, all of whom completed an original research project and extensive application process. Earlier this month, the Society and Regeneron named the top 300 scholars. The finalists were selected based on their projects' scientific rigor and their potential to become world-changing scientists and leaders. Finalists' projects span a diverse range of science, technology, engineering and math (STEM)-related topics, including diagnostic imaging to help assess the severity of COVID-19, examining the impact of e-cigarettes on chronic obstructive pulmonary disease (COPD) development, and creating a new way to filter toxins more effectively from wastewater. The finalists will participate in a virtual competition from March 10-17, 2021, where they will undergo a rigorous virtual judging process to compete for more than $1.8 million in awards. They will also have an opportunity to interact with leading scientists and display their projects to the public during a virtual event on March 14. Usually held in person in Washington, D.C., the 2021 competition will take place virtually in order to keep the finalists and their families safe during the ongoing pandemic. -

Maya Ajmera of the Teacher
M STEM A G A Z I N E Ajmera MayaThe Society for Science & the Public Left or Right Brain? byMaya Chande Mary Ann Cannon Pratt & Whitney Women’s Edition Oct. 2018 \\220v Use it in class. Use the smart board. Use it at home. Send this link home with your students so they can share with their parents, connect and talk about STEM careers and how best to prepare.....together. Curiosity and learning are ageless. To understand STEM... ...you must DEFINE STEM, but you cannot define an acronym using the words it stands for; you must define the words the acronym stands for. Science: “The systematic accumulation of knowledge” (all subjects and careers) Technology: “The practical application of science” (all subjects and careers) Engineering: “The engineering method: a step by step process of solving problems and making decisions” (every subject and career) Math: “The science of numbers and their operations, interrelations, combina- tions, generalizations, and abstractions” Every career will use some form(s) For a moment, set aside any preconceived notions of what you think a STEM career is and use the above dictionary definitions to determine the skills used in any career field you choose. These definitions are the “real” meaning of STEM skills and STEM careers. We believe that the key to success in seeing higher graduation rates, improved testing results, student inspiration, creativity, excite- ment and career satisfaction rests in the hands Maya Ajmera of the teacher. The example and inspiration Wayne Carley of individual educators carries tremendous weight on a daily basis, greatly impacting the quality and effectiveness of the classroom environment. -

2020 MEDIA KIT Lack of Sleep Flash Mob Daredevil Seafloor Cables Linked to Turns on Probe Will Could Detect Alzheimer’S Genes Touch the Quakes Sun
2020 MEDIA KIT Lack of Sleep Flash Mob Daredevil Seafloor Cables Linked to Turns on Probe Will Could Detect Alzheimer’s Genes Touch the Quakes Sun SCIENCE NEWS MAGAZINE SOCIETY FOR SCIENCE & THE PUBLIC JULY 21, 2018 2020 MEDIA KIT Cosmic Science News has been a trusted source Cloak of concise, accurate and inspirational An invisible cloud shapes a galaxy’s future science journalism for more than 90 years. Science News | JULY 21, 2018 Published by the Society for Science & In August, NASA’s Parker Solar Probe roared off for the Public, a nonprofit organization a close encounter with the dedicated to expanding scientific literacy, sun; it’s the first spacecraft to explore that star’s corona, a effective STEM education and scientific rolling inferno of plasma heat- research, each issue of ed to several million degrees Science News Celsius. The spacecraft is reaches over 114,000 subscribers, and already sending data back to Earth and will make 24 orbits ScienceNews.org averages 1.2 million before spiraling into the sun. unique visitors each month. NASA/BILL INGALLS Science News and ScienceNews.org will deliver an audience that is educated, affluent, highly loyal and passionate about science. And Science News for Students, our award-winning companion site, averages over 600,000 unique monthly visitors and brings the latest developments in science, technology, engineering and math to anyone in middle school or older. Advertising with us helps support our mission of promoting the understanding and appreciation of science to the public through our award-winning publications, outreach programs and world-class science education competitions for middle and high school students. -

2018 ANNUAL REPORT Society for Science & the Public 2018 ANNUAL REPORT
LEADING WITH SCIENCE 2018 ANNUAL REPORT Society for Science & the Public 2018 ANNUAL REPORT Letter 2 Overview and Top Ten 4 Competitions 6 Regeneron Science Talent Search 8 Intel International Science and Engineering Fair 10 Broadcom MASTERS 12 Alumni 14 Science News Media Group 16 Science News 18 SN 10 20 Science News for Students 22 Outreach & Equity 24 Science News in High Schools 26 Advocate Program 28 Research Teachers Conference 30 SCIENCE NEWS | JULY 21, 2018 In August, NASA’s Parker Solar STEM Research Grants 32 Probe roared off for a close encounter with the sun; it’s the first spacecraft to explore that STEM Action Grants 34 star’s corona, a rolling inferno of plasma heated to several million Financials 36 degrees Celsius. The spacecraft is already sending data back to Earth and will make 24 orbits Giving 38 before spiraling into the sun. COVER: NASA’S GODDARD SPACE FLIGHT Leadership 46 CENTER; OPPOSITE PAGE: NASA/BILL INGALLS Leading With Science We are delighted to introduce them, from critical discoveries to We personally want to thank the Board Society for Science & the Public’s matters of public policy. of Trustees, whose commitment and 2018 Annual Report, Leading With guidance ensures the continued Science, which celebrates with more Through our outreach and equity success of the Society. In particu- data and in-depth stories than ever programs, we continued our work lar, we thank members of our Board before, sharing the many ways the to ensure that any young person who retired in 2018: Sean B. Carroll, Society is making an impact as a who is interested in STEM has the Stephanie Pace Marshall and Robert champion for science.