2013-XXIII-EBRAM.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Filogeografía De Systrophia Helicycloides: El Reflejo De La Dinámica Del Bosque Lluvioso Tropical En Los Genes 16S Rrna Y COI De Moluscos Terrestres
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS UNIDAD DE POSTGRADO Filogeografía de Systrophia helicycloides: el reflejo de la dinámica del bosque lluvioso tropical en los genes 16S rRNA y COI de moluscos terrestres TESIS para optar el grado académico de Magíster en Biología Molecular AUTOR Pedro Eduardo Romero Condori ASESORA Rina L. Ramírez Mesias Lima – Perú 2010 "In the end, we will conserve only what we love; we will love only what we understand; and we will understand only what we are taught." (Baba Dioum, 1968) ii Para Katherine ¡buenas salenas! iii AGRADECIMIENTOS A Emma, por continuar apoyándome en esta aventura, día tras día, y a Pedro por acompañarme ahora desde un buen lugar, para toda la vida. A la Dra. Rina Ramírez, por enseñarme a buscar las preguntas, y encontrar las respuestas a este “misterio de los misterios”, tal como llamaba Charles Darwin al origen de las especies. Es una suerte tenerla como referente académico, y más aún como ejemplo de vida. Este trabajo pudo ser realizado gracias al apoyo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través del Vicerrectorado de Investigación y el Instituto de Ciencias Biológicas Antonio Raimondi que aprobaron los proyectos: “Evaluación de la biodiversidad de moluscos en la región del río Bajo Madre de Dios”, “Diversidad genética en la Amazonia: Polimorfismo del genoma mitocondrial de moluscos terrestres de la familia Systrophiidae” y “Biodiversidad de la Familia Systrophiidae (Mollusca, Gastropoda) en la cuenca del Río Los Amigos (Dpto. Madre de Dios). Al Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), por la beca para finalizar mis estudios de maestría, fue un honor ser elegido en este grupo de jóvenes profesionales peruanos ganadores de una beca de posgrado en 2008, esta tesis es un sincero esfuerzo para retribuir la confianza y el apoyo prestado. -

Range Extension of Mirinaba Cadeadensis (Morretes, 1952) (Gastropoda: Pulmonata: Strophocheilidae) Along the Coast
Check List 9(6): 1561–1563, 2013 © 2013 Check List and Authors Chec List ISSN 1809-127X (available at www.checklist.org.br) Journal of species lists and distribution N Range extension of Mirinaba cadeadensis (Morretes, 1952) (Gastropoda: Pulmonata: Strophocheilidae) along the coast ISTRIBUTIO of Paraná, southern Brazil D 1* 1 1,2 RAPHIC Carlos João Birckolz , Marcos de Vasconcellos Gernet and Antonio Luis Serbena G EO G 1 Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral. Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá. CEP 83260-000. Matinhos, PR, Brazil. N O * Corresponding author. E-mail: [email protected] 2 Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral. Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá. CEP 83260-000. Matinhos, PR, Brazil. OTES N Abstract: Mirinaba cadeadensis (Morretes, 1952), a strophocheilid land snail, is known from Morro Cadeado, Estrada da Graciosa and Pico Marumbi, all located in the Atlantic Rainforest biome along the coast of Paraná state, Brazil. Based on material from the collection of the Museu de História Natural Capão da Imbuia (Curitiba, Brazil) and newly collected specimens, we report the occurrence of this species in 11 new localities in this region. The Strophocheilidae Pilsbry, 1902, composed of the pale pink or deep red. The shell of the holotype (MZSP genera Strophocheilus Spix, 1872; Mirinaba Morretes, 18998), deposited in Museu de Zoologia da Universidade 1952; Speironepion Bequaert, 1948; Austroborus Parodiz, de São Paulo (São Paulo, Brazil), has a height of 59 mm and 1949; Chiliborus Pilsbry, 1926; Gonyostomus Beck, 1837 a width of 30 mm, as cited in literature (Morretes 1952; and Anthinus Albers, 1850, is exclusively from South Indrusiak and Leme 1985; Simone 2006). -

Asociación a Sustratos De Los Erizos Regulares (Echinodermata: Echinoidea) En La Laguna Arrecifal De Isla Verde, Veracruz, México
Asociación a sustratos de los erizos regulares (Echinodermata: Echinoidea) en la laguna arrecifal de Isla Verde, Veracruz, México E.V. Celaya-Hernández, F.A. Solís-Marín, A. Laguarda-Figueras., A. de la L. Durán-González & T. Ruiz Rodríguez Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Apdo. Post. 70-305, México D.F. 04510, México; e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] Recibido 15-VIII-2007. Corregido 06-V-2008. Aceptado 17-IX-2008. Abstract: Regular sea urchins substrate association (Echinodermata: Echinoidea) on Isla Verde lagoon reef, Veracruz, Mexico. The diversity, abundance, distribution and substrate association of the regular sea urchins found at the South part of Isla Verde lagoon reef, Veracruz, Mexico is presented. Four field sampling trips where made between October, 2000 and October, 2002. One sampling quadrant (23 716 m2) the more representative, where selected in the southwest zone of the lagoon reef, but other sampling sites where choose in order to cover the south part of the reef lagoon. The species found were: Eucidaris tribuloides tribuloides, Diadema antillarum, Centrostephanus longispinus rubicingulus, Echinometra lucunter lucunter, Echinometra viridis, Lytechinus variegatus and Tripneustes ventricosus. The relation analysis between the density of the echi- noids species found in the study area and the type of substrate was made using the Canonical Correspondence Analysis (CCA). The substrates types considerate in the analysis where: coral-rocks, rocks, rocks-sand, and sand and Thalassia testudinum. -

Cuban Brown Snail, Zachrysia Provisoria (Gastropoda): Damage Potential and Control
Crop Protection 52 (2013) 57e63 Contents lists available at SciVerse ScienceDirect Crop Protection journal homepage: www.elsevier.com/locate/cropro Cuban brown snail, Zachrysia provisoria (Gastropoda): Damage potential and control John L. Capinera* Entomology and Nematology Department, P.O. Box 110620, University of Florida, Gainesville, FL 32611-0620, USA article info abstract Article history: The snail Zachrysia provisoria (Pfeiffer) is poorly known in Florida, USA, where it predominately is viewed as a Received 15 December 2012 pest of ornamental plants. I evaluated its host plant relationships, foliage consumption potential, and sus- Received in revised form ceptibility to several molluscicides. Many of the potential hosts, especially common ornamental plants that 15 May 2013 are planted densely as ground cover and might be expected to provide a favorable environment for snails, are Accepted 20 May 2013 not suitable for growth of young snails. Older snails, though displaying some ability to feed and damage hosts unsuitable for growth of young snails, displayed similar patterns of acceptance and growth. Several weeds Keywords: were favorable for growth, suggesting that untended environments could lead to snail problems in adjacent Terrestrial snails Invasive organisms ornamental plantings. The effect of plant condition (age) on snail feeding preference was assessed by Damage potential measuring leaf consumption by snails presented simultaneously with young (green, located apically) and Molluscicides senescent (yellowing or yellow, located basally) leaves of a single plant species. From preferred host plants, Metaldehyde snails chose young leaf tissue, but from less preferred plants they consumed senescent tissue. Foliage Iron phosphate consumption potential was assessed using romaine lettuce at two constant temperatures, 24 and 32 C. -
Description of Two New Ecuadorian Zilchistrophia Weyrauch 1960
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 453: 1–17 (2014)Description of two new Ecuadorian Zilchistrophia Weyrauch 1960... 1 doi: 10.3897/zookeys.453.8605 RESEARCH ARTICLE http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Description of two new Ecuadorian Zilchistrophia Weyrauch, 1960, with the clarification of the systematic position of the genus based on anatomical data (Gastropoda, Stylommatophora, Scolodontidae) Barna Páll-Gergely1, Takahiro Asami1 1 Department of Biology, Shinshu University, Matsumoto 390-8621, Japan Corresponding author: Barna Páll-Gergely ([email protected]) Academic editor: M. Haase | Received 17 September 2014 | Accepted 14 October 2014 | Published 10 November 2014 http://zoobank.org/741A5972-D4B3-46E9-A5CA-8F38A2E90B5B Citation: Páll-Gergely B, Asami T (2014) Description of two new Ecuadorian Zilchistrophia Weyrauch, 1960, with the clarification of the systematic position of the genus based on anatomical data (Gastropoda, Stylommatophora, Scolodontidae). ZooKeys 453: 1–17. doi: 10.3897/zookeys.453.8605 Abstract Two new species of the genus Zilchistrophia Weyrauch, 1960 are described from Eastern Ecuadorian rain forest: Zilchistrophia hilaryae sp. n. and Z. shiwiarorum sp. n. These two new species extend the distribu- tion of the genus considerably northwards, because congeners have been reported from Peru only. For the first time we present anatomical data (radula, buccal mass, morphology of the foot and the genital struc- ture) of Zilchistrophia species. According to these, the genus belongs to the family Scolodontidae, sub- family Scolodontinae (=“Systrophiini”). The previously assumed systematic relationship of Zilchistrophia with the Asian Corillidae and Plectopylidae based on the similarly looking palatal plicae is not supported. Keywords Systrophiidae, Plectopylidae, Plectopylis, Corillidae, anatomy, taxonomy Copyright Barna Páll-Gergely, Takahiro Asami. -

Moluscos Del Perú
Rev. Biol. Trop. 51 (Suppl. 3): 225-284, 2003 www.ucr.ac.cr www.ots.ac.cr www.ots.duke.edu Moluscos del Perú Rina Ramírez1, Carlos Paredes1, 2 y José Arenas3 1 Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Avenida Arenales 1256, Jesús María. Apartado 14-0434, Lima-14, Perú. 2 Laboratorio de Invertebrados Acuáticos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Apartado 11-0058, Lima-11, Perú. 3 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Ricardo Palma. Av. Benavides 5400, Surco. P.O. Box 18-131. Lima, Perú. Abstract: Peru is an ecologically diverse country, with 84 life zones in the Holdridge system and 18 ecological regions (including two marine). 1910 molluscan species have been recorded. The highest number corresponds to the sea: 570 gastropods, 370 bivalves, 36 cephalopods, 34 polyplacoforans, 3 monoplacophorans, 3 scaphopods and 2 aplacophorans (total 1018 species). The most diverse families are Veneridae (57spp.), Muricidae (47spp.), Collumbellidae (40 spp.) and Tellinidae (37 spp.). Biogeographically, 56 % of marine species are Panamic, 11 % Peruvian and the rest occurs in both provinces; 73 marine species are endemic to Peru. Land molluscs include 763 species, 2.54 % of the global estimate and 38 % of the South American esti- mate. The most biodiverse families are Bulimulidae with 424 spp., Clausiliidae with 75 spp. and Systrophiidae with 55 spp. In contrast, only 129 freshwater species have been reported, 35 endemics (mainly hydrobiids with 14 spp. The paper includes an overview of biogeography, ecology, use, history of research efforts and conser- vation; as well as indication of areas and species that are in greater need of study. -

Diplom-Biologe KLAUS GROH Malakozoologe Und Naturschützer – 65 Jahre
53 Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 94 53 – 70 Frankfurt a. M., November 2015 Diplom-Biologe KLAUS GROH Malakozoologe und Naturschützer – 65 Jahre CARSTEN RENKER & JÜRGEN H. JUNGBLUTH th Abstract: The 65 birthday of KLAUS GROH is a good occasion to give a retrospect of his life and hitherto existing achievement. Beside his vita we summarize his malacological work, give an overview about the projects for the protection of species, have a look on his tremendous impetus for the worldwide distribution of malacological knowledge by the establishment of the CHRISTA HEMMEN-Verlag, later ConchBooks, as publishing house, book trader and antiquarian. Last but not least we give a summary of his scientific achievements culminating in 206 publications and containing descriptions of up to now 42 specific taxa. Keywords: KLAUS GROH, biography, bibliography, malacology, freshwater mussels, Hesse, Rhineland- Palatinate, Luxembourg Zusammenfassung: Der 65. Geburtstag von KLAUS GROH wird zum Anlass genommen einen Rückblick auf sein bisheriges Leben und Wirken zu geben. Neben der Vita werden vor allem seine malakologische Arbeit und sein ehrenamtliches Engagement in zahlreichen malakologischen Verbänden und Naturschutzvereinen betrachtet. KLAUS GROH nahm außerdem einen enormen Einfluss auf die weltweite Verbreitung malako- logischen Wissens durch die Gründung des CHRISTA HEMMEN-Verlags, später ConchBooks, als Verlagshaus, Buchhandlung und Antiquariat. Schließlich gilt es seine wissenschaftlichen Verdienste zu würdigen, die in 206 Publikationen und Neubeschreibungen 42 spezifischer Taxa kulminieren. Vita Schulzeit Am 22. Mai 1949 wurde KLAUS GROH in Darmstadt als Sohn des Bauschlossers HELMUT GROH und seiner Ehefrau ANNELIESE, geb. FEDERLEIN geboren. Er besuchte die Volksschulen in Langen/Hessen und Kirchheim unter Teck/Baden-Württemberg (1955-1959), es folgte der Besuch der Realschule in Langen/Hessen (1959-1965), dort schloss er auch seine Schulzeit mit der „Mittleren Reife“ ab. -
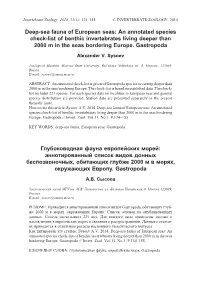
Deep-Sea Fauna of the European Seas: an Annotated Species Check-List Of
Invertebrate Zoology, 2014, 11(1): 134–155 © INVERTEBRATE ZOOLOGY, 2014 Deep-sea fauna of European seas: An annotated species check-list of benthic invertebrates living deeper than 2000 m in the seas bordering Europe. Gastropoda Alexander V. Sysoev Zoological Museum, Moscow State University, Bol’shaya Nikitskaya ul., 6, Moscow, 125009, Russia. E-mail: [email protected] ABSTRACT: An annotated check-list is given of Gastropoda species occurring deeper than 2000 m in the seas bordering Europe. The check-list is based on published data. The check- list includes 221 species. For each species data on localities in European seas and general species distribution are provided. Station data are presented separately in the present thematic issue. How to cite this article: Sysoev A.V. 2014. Deep-sea fauna of European seas: An annotated species check-list of benthic invertebrates living deeper than 2000 m in the seas bordering Europe. Gastropoda // Invert. Zool. Vol.11. No.1. P.134–155. KEY WORDS: deep-sea fauna, European seas, Gastropoda. Глубоководная фауна европейских морей: аннотированный список видов донных беспозвоночных, обитающих глубже 2000 м в морях, окружающих Европу. Gastropoda А.В. Сысоев Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова, ул. Большая Никитская, 6, Москва 125009, Россия. E-mail: [email protected] РЕЗЮМЕ: Приводится аннотированный список видов Gastropoda, обитающих глуб- же 2000 м в морях, окружающих Европу. Список основан на опубликованных данных. Список насчитывает 221 вид. Для каждого вида приведены данные о нахождениях в европейских морях и сведения о распространении. Данные о станци- ях приводятся в отдельном разделе настоящего тематического выпуска. Как цитировать эту статью: Sysoev A.V. -

Land Molluscs from the Northern Mariana Islands, Micronesia
Nat. Hist. Res., Special Issue, No. I: I I 3-119. March 1994. Land Molluscs from the Northern Mariana Islands, Micronesia Taiji Kurozumi Natural History Museum and Institute, Chiba 955-2 Aoba-cho, Chuo-ku, Chiba 260, Japan Abstract More than twenty-four species of land molluscs, belonging to 13 families and 20 genera were collected from the 9 islands of the northern Mariana Islands, and 22 species are recorded for the first time from the islands. Six introduced species were recognized, including Achatina fulica and its predators, Euglandina rosea and Gonaxis kibweziensis. Almost all of the genera are widely distributed on Micronesian islands. Only one species, Ptychalaea sp., may show dispersal from the northern area to the northern Marianas. Key words: Land molluscs, Ptychalaea, Achatina fulica, northern Mariana Islands. The northern Mariana Islands are located in survey routes (see Asakura et al., 1994). Land the western Pacific between 16°22' and snails were collected from litter layers, tree 20°32 'N. Only two species of land molluscs, trunks, underside of leaves and among mosses. Partula gibba and "Succinea" sp., have so far In one to four sites on one island, a quadrat was been reported from the northern Mariana Is set on the forest floor, and soil-dwelling snails lands (Kondo, 1970; Eldredge et al., 1977). From were picked up by hand-sorting. May to June 1992, an expedition to the north A tentative list of collected specimens is ern Mariana Islands was conducted by the Nat given. Data on the materials are as follows; ural History Museum and Institute, Chiba island, number of specimens, registration (NHMIC) in cooperation with the Division of number of NHMIC with code CBM-ZM, collec Fish and Wildlife, Department of Natural Re tion site, collector and date in 1992. -

Descripción De Nuevas Especies Animales De La Península Ibérica E Islas Baleares (1978-1994): Tendencias Taxonómicas Y Listado Sistemático
Graellsia, 53: 111-175 (1997) DESCRIPCIÓN DE NUEVAS ESPECIES ANIMALES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES (1978-1994): TENDENCIAS TAXONÓMICAS Y LISTADO SISTEMÁTICO M. Esteban (*) y B. Sanchiz (*) RESUMEN Durante el periodo 1978-1994 se han descrito cerca de 2.000 especies animales nue- vas para la ciencia en territorio ibérico-balear. Se presenta como apéndice un listado completo de las especies (1978-1993), ordenadas taxonómicamente, así como de sus referencias bibliográficas. Como tendencias generales en este proceso de inventario de la biodiversidad se aprecia un incremento moderado y sostenido en el número de taxones descritos, junto a una cada vez mayor contribución de los autores españoles. Es cada vez mayor el número de especies publicadas en revistas que aparecen en el Science Citation Index, así como el uso del idioma inglés. La mayoría de los phyla, clases u órdenes mues- tran gran variación en la cantidad de especies descritas cada año, dado el pequeño núme- ro absoluto de publicaciones. Los insectos son claramente el colectivo más estudiado, pero se aprecia una disminución en su importancia relativa, asociada al incremento de estudios en grupos poco conocidos como los nematodos. Palabras clave: Biodiversidad; Taxonomía; Península Ibérica; España; Portugal; Baleares. ABSTRACT Description of new animal species from the Iberian Peninsula and Balearic Islands (1978-1994): Taxonomic trends and systematic list During the period 1978-1994 about 2.000 new animal species have been described in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. A complete list of these new species for 1978-1993, taxonomically arranged, and their bibliographic references is given in an appendix. -
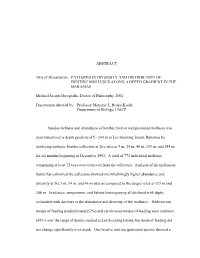
ABSTRACT Title of Dissertation: PATTERNS IN
ABSTRACT Title of Dissertation: PATTERNS IN DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF BENTHIC MOLLUSCS ALONG A DEPTH GRADIENT IN THE BAHAMAS Michael Joseph Dowgiallo, Doctor of Philosophy, 2004 Dissertation directed by: Professor Marjorie L. Reaka-Kudla Department of Biology, UMCP Species richness and abundance of benthic bivalve and gastropod molluscs was determined over a depth gradient of 5 - 244 m at Lee Stocking Island, Bahamas by deploying replicate benthic collectors at five sites at 5 m, 14 m, 46 m, 153 m, and 244 m for six months beginning in December 1993. A total of 773 individual molluscs comprising at least 72 taxa were retrieved from the collectors. Analysis of the molluscan fauna that colonized the collectors showed overwhelmingly higher abundance and diversity at the 5 m, 14 m, and 46 m sites as compared to the deeper sites at 153 m and 244 m. Irradiance, temperature, and habitat heterogeneity all declined with depth, coincident with declines in the abundance and diversity of the molluscs. Herbivorous modes of feeding predominated (52%) and carnivorous modes of feeding were common (44%) over the range of depths studied at Lee Stocking Island, but mode of feeding did not change significantly over depth. One bivalve and one gastropod species showed a significant decline in body size with increasing depth. Analysis of data for 960 species of gastropod molluscs from the Western Atlantic Gastropod Database of the Academy of Natural Sciences (ANS) that have ranges including the Bahamas showed a positive correlation between body size of species of gastropods and their geographic ranges. There was also a positive correlation between depth range and the size of the geographic range. -

Biodiversidad De Gasterópodos Terrestres (Mollusca) En El Parque Biológico Sierra De San Javier, Tucumán, Argentina
Biodiversidad de gasterópodos terrestres (Mollusca) en el Parque Biológico Sierra de San Javier, Tucumán, Argentina María José Miranda & María Gabriela Cuezzo CONICET-Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 251, 4000 Tucumán, Argentina; [email protected], [email protected] Recibido 08-III-2009. Corregido 12-III-2010. Aceptado 08-IV-2010. Abstract: Biodiversity of land gastropods (Mollusca) in Sierra de San Javier Park, Tucumán, Argentina. Studies related to land mollusk diversity in tropical and subtropical forests are scarce. To assess this, a study on land snail diversity of subtropical cloudforest (Yungas) and dry forest (Chaco) areas of Sierra de San Javier Park, Tucumán, Argentina, was carried out. Taxonomic identifications were performed to species level and built a species per stations data matrix to analyze diversity patterns on qualitative and quantitative samples processed from 10x10m quadrates in altitudinal transects. Non parametric analysis (ICE, ACE, Chao 1 and Chao 2) were used to estimate the true diversity of the area, as well as the degree of undersampling and spatial aggregation of the data. Diversity was also calculated using Shannon, Simpson, Whittaker and Jaccard indices. The richness of the San Javier Park was estimated to be 32 species distributed into 13 families and 21 genera. From the total number of species collected, a single one belongs to Caenogastropoda, while the rest of the species are classified into Pulmonata Stylommatophora and Systellommatophora. The most representative family was the micromol- lusc Charopidae, while the most relatively abundant species was another micromollusc snail, Adelopoma tucma. Richness and diversity were slightly more elevated in dry forest areas of the Chacoan Ecoregion than in cloud forest areas of Yungas.