Caderno-De-Resumos-Iii-Simposio-De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Amphibia, Anura, Odontophrynidae)
Neotropical Biology and Conservation 11(3):195-197, september-december 2016 Unisinos - doi: 10.4013/nbc.2016.113.10 SHORT COMMUNICATION Defensive behavior of Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841) (Amphibia, Anura, Odontophrynidae) Comportamento defensivo de Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841) (Amphibia, Anura, Odontophrynidae) Fábio Maffei1* [email protected] Abstract Anurans are a common prey of various animals and some species have developed de- Flávio Kulaif Ubaid2 [email protected] fense mechanisms against predators. One of these mechanisms is the stiff-legged, in which individuals change their posture to a flat body with stiff and stretched members. Here we report the first record of this behavior in Odontophrynus americanus, a small toad widespread in the southern portion of South America. We believe that this behavior aims to reduce the chances of being seen by the predator. Keywords: Brazil, Neotropical, frog, camouflage, defensive strategy, stiff-legged. Resumo Anuros são presas de diversos animais e algumas espécies desenvolveram mecanismos de defesa contra predadores. Um dos mecanismos de defesa é o stiff-legged, onde os indivíduos mudam sua postura ficando com o seu corpo achatado, membros rígidos e esticados. Aqui reportamos o primeiro registro desse comportamento em Odontophrynus americanus, um sapo de pequeno porte comum na porção sul da América do Sul. Acre- ditamos que esse comportamento tenha como objetivo reduzir as chances de ser visua- lizado pelo predador. Palavras-chave: Brasil, neotropical, sapo, camuflagem, estratégia defensiva. Anurans have an important role in the trophic chain, as a predator or prey of different species. They usually form aggregates during the rainy period, and can be found in great abundance throughout the breeding season. -

Anura: Brachycephalidae) Com Base Em Dados Morfológicos
Pós-graduação em Biologia Animal Laboratório de Anatomia Comparada de Vertebrados Departamento de Ciências Fisiológicas Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília Sistemática filogenética do gênero Brachycephalus Fitzinger, 1826 (Anura: Brachycephalidae) com base em dados morfológicos Tese apresentada ao Programa de pós-graduação em Biologia Animal para a obtenção do título de doutor em Biologia Animal Leandro Ambrósio Campos Orientador: Antonio Sebben Co-orientador: Helio Ricardo da Silva Maio de 2011 Universidade de Brasília Instituto de Ciências Biológicas Programa de Pós-graduação em Biologia Animal TESE DE DOUTORADO LEANDRO AMBRÓSIO CAMPOS Título: “Sistemática filogenética do gêneroBrachycephalus Fitzinger, 1826 (Anura: Brachycephalidae) com base em dados morfológicos.” Comissão Examinadora: Prof. Dr. Antonio Sebben Presidente / Orientador UnB Prof. Dr. José Peres Pombal Jr. Prof. Dr. Lílian Gimenes Giugliano Membro Titular Externo não Vinculado ao Programa Membro Titular Interno Vinculado ao Programa Museu Nacional - UFRJ UnB Prof. Dr. Cristiano de Campos Nogueira Prof. Dr. Rosana Tidon Membro Titular Interno Vinculado ao Programa Membro Titular Interno Vinculado ao Programa UnB UnB Brasília, 30 de maio de 2011 Dedico esse trabalho à minha mãe Corina e aos meus irmãos Flávio, Luciano e Eliane i Agradecimentos Ao Prof. Dr. Antônio Sebben, pela orientação, dedicação, paciência e companheirismo ao longo do trabalho. Ao Prof. Dr. Helio Ricardo da Silva pela orientação, companheirismo e pelo auxílio imprescindível nas expedições de campo. Aos professores Carlos Alberto Schwartz, Elizabeth Ferroni Schwartz, Mácia Renata Mortari e Osmindo Pires Jr. pelos auxílios prestados ao longo do trabalho. Aos técnicos Pedro Ivo Mollina Pelicano, Washington José de Oliveira e Valter Cézar Fernandes Silveira pelo companheirismo e auxílio ao longo do trabalho. -

Insect Survey of Four Longleaf Pine Preserves
A SURVEY OF THE MOTHS, BUTTERFLIES, AND GRASSHOPPERS OF FOUR NATURE CONSERVANCY PRESERVES IN SOUTHEASTERN NORTH CAROLINA Stephen P. Hall and Dale F. Schweitzer November 15, 1993 ABSTRACT Moths, butterflies, and grasshoppers were surveyed within four longleaf pine preserves owned by the North Carolina Nature Conservancy during the growing season of 1991 and 1992. Over 7,000 specimens (either collected or seen in the field) were identified, representing 512 different species and 28 families. Forty-one of these we consider to be distinctive of the two fire- maintained communities principally under investigation, the longleaf pine savannas and flatwoods. An additional 14 species we consider distinctive of the pocosins that occur in close association with the savannas and flatwoods. Twenty nine species appear to be rare enough to be included on the list of elements monitored by the North Carolina Natural Heritage Program (eight others in this category have been reported from one of these sites, the Green Swamp, but were not observed in this study). Two of the moths collected, Spartiniphaga carterae and Agrotis buchholzi, are currently candidates for federal listing as Threatened or Endangered species. Another species, Hemipachnobia s. subporphyrea, appears to be endemic to North Carolina and should also be considered for federal candidate status. With few exceptions, even the species that seem to be most closely associated with savannas and flatwoods show few direct defenses against fire, the primary force responsible for maintaining these communities. Instead, the majority of these insects probably survive within this region due to their ability to rapidly re-colonize recently burned areas from small, well-dispersed refugia. -

Amphibiaweb's Illustrated Amphibians of the Earth
AmphibiaWeb's Illustrated Amphibians of the Earth Created and Illustrated by the 2020-2021 AmphibiaWeb URAP Team: Alice Drozd, Arjun Mehta, Ash Reining, Kira Wiesinger, and Ann T. Chang This introduction to amphibians was written by University of California, Berkeley AmphibiaWeb Undergraduate Research Apprentices for people who love amphibians. Thank you to the many AmphibiaWeb apprentices over the last 21 years for their efforts. Edited by members of the AmphibiaWeb Steering Committee CC BY-NC-SA 2 Dedicated in loving memory of David B. Wake Founding Director of AmphibiaWeb (8 June 1936 - 29 April 2021) Dave Wake was a dedicated amphibian biologist who mentored and educated countless people. With the launch of AmphibiaWeb in 2000, Dave sought to bring the conservation science and basic fact-based biology of all amphibians to a single place where everyone could access the information freely. Until his last day, David remained a tirelessly dedicated scientist and ally of the amphibians of the world. 3 Table of Contents What are Amphibians? Their Characteristics ...................................................................................... 7 Orders of Amphibians.................................................................................... 7 Where are Amphibians? Where are Amphibians? ............................................................................... 9 What are Bioregions? ..................................................................................10 Conservation of Amphibians Why Save Amphibians? ............................................................................. -

Rediscovery of Andinophryne Olallai Hoogmoed, 1985 (Anura, Bufonidae), an Enigmatic and Endangered Andean Toad
Copyright: © 2014 Lynch et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivs 3.0 Amphibian & Reptile Conservation 8(1) [Special Sec]: 1–7. Unported License, which permits unrestricted use for non-commercial and educa- tion purposes only provided the original author and source are credited. The of- ficial publication credit source:Amphibian & Reptile Conservation at: amphibian- reptile-conservation.org Rediscovery of Andinophryne olallai Hoogmoed, 1985 (Anura, Bufonidae), an enigmatic and endangered Andean toad 1Ryan L. Lynch, 2 Sebastian Kohn, 3 Fernando Ayala-Varela, 1Paul S. Hamilton, and 3Santiago R. Ron 1The Biodiversity Group, Tucson, Arizona, USA 2Río Manduriacu Cooperative, Quito, ECUADOR 3Museo de Zoología, Escuela de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, ECUADOR Abstract.—We report the rediscovery of Andinophryne olallai, an endangered species only known from a single specimen, collected in 1970. At the type locality, Tandayapa, Pichincha Province, numerous follow-up surveys after 1970 failed to record the species suggesting that the population is extinct. The rediscovery of A. olallai took place in 2012 at Río Manduriacu, Imbabura Province, Ecuador. Two surveys suggest that a healthy population of A. olallai survives at the site, with observations of froglets, juveniles, and adults across numerous stream systems. However, the extent of known occupancy of the population is small (<1 km2). Further data are presented to update knowledge of the distribution, ontogeny, morphology, and conservation status of the species. The population at Río Manduriacu is surrounded by logging, mining, and hydroelectric developments that could compromise its future survival. There is an urgent need to establish a monitoring program and to protect its remaining population and habitat in the region. -
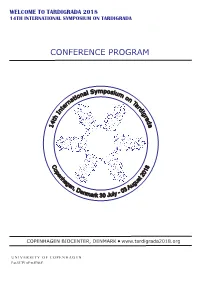
Conference Program
WELCOME TO TARDIGRADA 2018 14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TARDIGRADA CONFERENCE PROGRAM Symposi nal um tio o a n n Ta r r te d n i I g r h a t d 4 a 1 COPENHAGEN BIOCENTER, DENMARK www.tardigrada2018.org U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N FACULTY OF SCIENCE WELCOME 14th International Symposium on Tardigrada Welcome to Tardigrada 2018 International tardigrade symposia take place every three years and represent the greatest scientific forum on tardigrades. We are pleased to welcome you to Copenhagen and the 14th International Symposium on Tardigrada and it is with pleasure that we announce a new record in the number of participants with 28 countries represented at Tardigrada 2018. During the meeting 131 abstracts will be presented. The electronic abstract book is available for download from the Symposium website - www.tardigrada2018.org - and will be given to conference attendees on a USB stick during registration. Organising Committee 14th International Tardigrade Symposium, Copenhagen 2018 Chair Nadja Møbjerg (University of Copenhagen, Denmark) Local Committee Hans Ramløv (Roskilde University, Denmark), Jesper Guldberg Hansen (University of Copenhagen, Denmark), Jette Eibye-Jacobsen (University of Copenhagen, Denmark/ Birkerød Gymnasium), Lykke Keldsted Bøgsted Hvidepil (University of Copenhagen, Denmark), Maria Kamilari (University of Copenhagen, Denmark), Reinhardt Møbjerg Kristensen (University of Copenhagen, Denmark), Thomas L. Sørensen-Hygum (University of Copenhagen, Denmark) International Committee Ingemar Jönsson (Kristianstad University, Sweden), Łukasz Kaczmarek (A. Mickiewicz University, Poland) Łukasz Michalczyk (Jagiellonian University, Poland), Lorena Rebecchi (University of Modena and Reggio Emilia, Italy), Ralph O. -

Contributions Toward a Lepidoptera (Psychidae, Yponomeutidae, Sesiidae, Cossidae, Zygaenoidea, Thyrididae, Drepanoidea, Geometro
Contributions Toward a Lepidoptera (Psychidae, Yponomeutidae, Sesiidae, Cossidae, Zygaenoidea, Thyrididae, Drepanoidea, Geometroidea, Mimalonoidea, Bombycoidea, Sphingoidea, & Noctuoidea) Biodiversity Inventory of the University of Florida Natural Area Teaching Lab Hugo L. Kons Jr. Last Update: June 2001 Abstract A systematic check list of 489 species of Lepidoptera collected in the University of Florida Natural Area Teaching Lab is presented, including 464 species in the superfamilies Drepanoidea, Geometroidea, Mimalonoidea, Bombycoidea, Sphingoidea, and Noctuoidea. Taxa recorded in Psychidae, Yponomeutidae, Sesiidae, Cossidae, Zygaenoidea, and Thyrididae are also included. Moth taxa were collected at ultraviolet lights, bait, introduced Bahiagrass (Paspalum notatum), and by netting specimens. A list of taxa recorded feeding on P. notatum is presented. Introduction The University of Florida Natural Area Teaching Laboratory (NATL) contains 40 acres of natural habitats maintained for scientific research, conservation, and teaching purposes. Habitat types present include hammock, upland pine, disturbed open field, cat tail marsh, and shallow pond. An active management plan has been developed for this area, including prescribed burning to restore the upland pine community and establishment of plots to study succession (http://csssrvr.entnem.ufl.edu/~walker/natl.htm). The site is a popular collecting locality for student and scientific collections. The author has done extensive collecting and field work at NATL, and two previous reports have resulted from this work, including: a biodiversity inventory of the butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea) of NATL (Kons 1999), and an ecological study of Hermeuptychia hermes (F.) and Megisto cymela (Cram.) in NATL habitats (Kons 1998). Other workers have posted NATL check lists for Ichneumonidae, Sphecidae, Tettigoniidae, and Gryllidae (http://csssrvr.entnem.ufl.edu/~walker/insect.htm). -

Rediscovery of the Syntypes of Corydoras Meridionalis R
Volume 50(8):91‑95, 2010 RediscoveRy of the syntypes of Corydoras meridionalis R. von iheRing, 1911 (teleostei, siluRifoRmes, callichthyidae) and designation of lectotype heRaldo a. BRitski1,2 andRé l.c. mendonça1 AbstrAct Syntypes of Corydoras meridionalis Rodolpho von Ihering, 1911, once regarded as lost, were recently found in the collection of fishes of the Museu de Zoologia da USP. The syntypes had been identified as C. ehrhardti Steindachner, 1910, currently considered a senior synonym of that species. Examination of the rediscovered syntypes corroborates the proposed synonymy. Data on the syntypes are presented and compared with information in the original descriptions of C. ehrhardti and C. meridionalis; a few discrepancies found are discussed. A lectotype is designated for C. meridionalis and a photograph of the specimen is provided. Keywords: Taxonomy; Catfish; Neotropical freshwater fish. IntroductIon Nijssen & Isbrücker (1980) considered Corydo- ras meridionalis a synonym of C. ehrhardti Steindach‑ Corydoras meridionalis was described by Rodol‑ ner, an action we presume was largely based on Iher‑ pho von Ihering (1911) on the basis of an unspeci‑ ing’s description of C. meridionalis (whose data mostly fied number of specimens; however it is possible to agree to those mentioned for C. ehrhardti) and also on assume that more than one specimen was examined the closeness of the type localities of both species in because it is stated in the original description in two the state of Santa Catarina, Brazil: “Colonia Hansa” languages: “Compr.: até 60 mm.” (Portuguese) and for C. meridionalis and “Fluβgebiet des Jaraguá” for “Korperlange: bis 60 mm.” (German), meaning that C. -
Ichthyofauna in the Last Free-Flowing River of the Lower Iguaçu Basin: the Importance of Tributaries for Conservation of Endemic Species
ZooKeys 1041: 183–203 (2021) A peer-reviewed open-access journal doi: 10.3897/zookeys.1041.63884 CHECKLIST https://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Ichthyofauna in the last free-flowing river of the Lower Iguaçu basin: the importance of tributaries for conservation of endemic species Suelen Fernanda Ranucci Pini1,2, Maristela Cavicchioli Makrakis2, Mayara Pereira Neves3, Sergio Makrakis2, Oscar Akio Shibatta4, Elaine Antoniassi Luiz Kashiwaqui2,5 1 Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Rua Salime Tanure s/n, Santa Tereza, 79.400-000 Coxim, MS, Brazil 2 Grupo de Pesquisa em Tecnologia em Ecohidráulica e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos (GETECH), Programa de Pós-graduação em Engenharia de Pesca, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Rua da Faculdade, 645, Jardim La Salle, 85903-000 Toledo, PR, Brazil 3 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Bi- ociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Avenida Bento Gonçalves, 9500, Agronomia, 90650-001, Porto Alegre, RS, Brazil 4 Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Universidade Estadual de Londrina, Rod. Celso Garcia Cid PR 445 km 380, 86057-970, Londrina, PR, Brazil 5 Grupo de Estudos em Ciências Ambientais e Educação (GEAMBE), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Br 163, KM 20.7, 79980-000 Mundo Novo, MS, Brazil Corresponding author: Suelen F. R. Pini ([email protected]) Academic editor: M. E. Bichuette | Received 2 February 2021 | Accepted 22 April 2021 | Published 3 June 2021 http://zoobank.org/21EEBF5D-6B4B-4F9A-A026-D72354B9836C Citation: Pini SFR, Makrakis MC, Neves MP, Makrakis S, Shibatta OA, Kashiwaqui EAL (2021) Ichthyofauna in the last free-flowing river of the Lower Iguaçu basin: the importance of tributaries for conservation of endemic species. -

SPECIAL PUBLICATION 6 the Effects of Marine Debris Caused by the Great Japan Tsunami of 2011
PICES SPECIAL PUBLICATION 6 The Effects of Marine Debris Caused by the Great Japan Tsunami of 2011 Editors: Cathryn Clarke Murray, Thomas W. Therriault, Hideaki Maki, and Nancy Wallace Authors: Stephen Ambagis, Rebecca Barnard, Alexander Bychkov, Deborah A. Carlton, James T. Carlton, Miguel Castrence, Andrew Chang, John W. Chapman, Anne Chung, Kristine Davidson, Ruth DiMaria, Jonathan B. Geller, Reva Gillman, Jan Hafner, Gayle I. Hansen, Takeaki Hanyuda, Stacey Havard, Hirofumi Hinata, Vanessa Hodes, Atsuhiko Isobe, Shin’ichiro Kako, Masafumi Kamachi, Tomoya Kataoka, Hisatsugu Kato, Hiroshi Kawai, Erica Keppel, Kristen Larson, Lauran Liggan, Sandra Lindstrom, Sherry Lippiatt, Katrina Lohan, Amy MacFadyen, Hideaki Maki, Michelle Marraffini, Nikolai Maximenko, Megan I. McCuller, Amber Meadows, Jessica A. Miller, Kirsten Moy, Cathryn Clarke Murray, Brian Neilson, Jocelyn C. Nelson, Katherine Newcomer, Michio Otani, Gregory M. Ruiz, Danielle Scriven, Brian P. Steves, Thomas W. Therriault, Brianna Tracy, Nancy C. Treneman, Nancy Wallace, and Taichi Yonezawa. Technical Editor: Rosalie Rutka Please cite this publication as: The views expressed in this volume are those of the participating scientists. Contributions were edited for Clarke Murray, C., Therriault, T.W., Maki, H., and Wallace, N. brevity, relevance, language, and style and any errors that [Eds.] 2019. The Effects of Marine Debris Caused by the were introduced were done so inadvertently. Great Japan Tsunami of 2011, PICES Special Publication 6, 278 pp. Published by: Project Designer: North Pacific Marine Science Organization (PICES) Lori Waters, Waters Biomedical Communications c/o Institute of Ocean Sciences Victoria, BC, Canada P.O. Box 6000, Sidney, BC, Canada V8L 4B2 Feedback: www.pices.int Comments on this volume are welcome and can be sent This publication is based on a report submitted to the via email to: [email protected] Ministry of the Environment, Government of Japan, in June 2017. -

Aspectos De Vida De Odontophrynus Carvalhoi Savage & Cei, 1965
Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 39(2):95-115. Abril-Dezembro de 2017 95 Aspectos de vida de Odontophrynus carvalhoi Savage & Cei, 1965 (Amphibia, Anura, Odontophrynidae) em um brejo de altitude no Nordeste brasileiro Elvira Florentino da Costa¹*, Filipe Augusto C. do Nascimento2,3, Mauro de Melo Júnior4 & Ednilza Maranhão dos Santos4 RESUMO: O presente trabalho foi realizado em uma propriedade particular conhecida como Café do Brejo, região de Brejo de Altitude do Semiárido nordestino, no município de Triunfo, Pernambuco, Brasil, no período de maio de 2011 a maio de 2012. Objetivando descrever aspectos da história de vida de Odontophrynus carvalhoi, realizamos observações diurnas (14h às 17h) e noturnas (18h às 22h). A espécie mostrou-se generalista em relação ao uso dos microhabitats, com 50% dos indivíduos encontrados na serrapilheira, 30% entre a vegetação herbácea, 6% no solo (seco a enlameado), 6% enterrados na lama e 8% entre as rochas. Como sítio de canto, foram registrados três microhabitats: (i) corpos d’água, (ii) solo úmido com rochas e folhiço e (iii) vegetação herbácea. A quantidade de machos vocalizando e/ou o encontro visual de indivíduos foram influenciados pelo aumento da precipitação e umidade relativa, e pela redução da temperatura do ambiente. A população apresentou dimorfismo sexual, com as fêmeas maiores e mais pesadas que os machos. Os comportamentos observados para a espécie foram: (i) aumento do tamanho corporal pela inflação de ar, (ii) emissão de canto de soltura e (iii) escavação do substrato, com o intuito de se enterrar. Possíveis causas desses comportamentos são discutidas. O girino apresentou uma conformação generalista, habitando tanto o fundo quanto a superfície de corpos d’água lênticos e lóticos. -

Community Ecology of Parasites in Four Species of Corydoras (Callichthyidae), Ornamental Fish Endemic to the Eastern Amazon (Brazil)
Anais da Academia Brasileira de Ciências (2019) 91(1): e20170926 (Annals of the Brazilian Academy of Sciences) Printed version ISSN 0001-3765 / Online version ISSN 1678-2690 http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201920170926 www.scielo.br/aabc | www.fb.com/aabcjournal Community ecology of parasites in four species of Corydoras (Callichthyidae), ornamental fish endemic to the eastern Amazon (Brazil) MAKSON M. FERREIRA1, RAFAEL J. PASSADOR2 and MARCOS TAVARES-DIAS3 1Graduação em Ciências Biológicas, Faculdade de Macapá/FAMA, Rodovia Duca Serra, s/n, Cabralzinho, 68906-801 Macapá, AP, Brazil 2Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/ICMBio, Rua Leopoldo Machado, 1126, Centro, 68900-067 Macapá, AP, Brazil 3Embrapa Amapá, Rodovia Juscelino Kubitschek, 2600, 68903-419 Macapá, AP, Brazil Manuscript received on April 2, 2018; accepted for publication on June 11, 2018 How to cite: FERREIRA MM AND PASSADOR RJ. 2019. Community ecology of parasites in four species of Corydoras (Callichthyidae), ornamental fish endemic to the eastern Amazon (Brazil). An Acad Bras Cienc 91: e20170926. DOI 10.1590/0001-3765201920170926. Abstract: This study compared the parasites community in Corydoras ephippifer, Corydoras melanistius, Corydoras amapaensis and Corydoras spilurus from tributaries from the Amapari River in State of Amapá (Brazil). A total of 151 fish of these four ornamental species were examined, of which 66.2% were parasitized by one or more species, and a total of 732 parasites were collected. Corydoras ephippifer (91.2%) and C. spilurus (98.8%) were the most parasitized hosts, while C. amapaensis (9.6%) was the least parasitized. A high similarity (≅ 75%) of parasite communities was found in the host species.