JOÃO FERNANDO PELHO FERREIRA.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

José Oscar Bernardi (Depoimento, 2012)
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC) Proibida a publicação no todo ou em parte; permitida a citação. A citação deve ser textual, com indicação de fonte conforme abaixo. BERNARDI, José Oscar. José Oscar Bernardi (depoimento, 2012). Águas de Lindóia - SP, Brasil. 2013. 47 pg. JOSÉ OSCAR BERNARDI (depoimento, 2012) Rio de Janeiro 2013 Transcrição Nome do Entrevistado: José Oscar Bernardi Local da entrevista: Águas de Lindóia – SP, Brasil Data da entrevista: 22 de junho de 2012 Nome do projeto: Futebol, Memória e Patrimônio: Projeto de constituição de um acervo de entrevistas em História Oral. Entrevistadores: Bernardo Buarque de Hollanda (CPDOC/FGV) e Felipe Santos (Museu do Futebol) Câmera: Thiago Monteiro Transcrição: Fernanda Antunes Data da transcrição: 17 de julho de 2012 Conferência da Transcrição: Thomas Dreux Data da Conferência: 9 de novembro de 2012 ** O texto abaixo reproduz na íntegra a entrevista concedida por José Oscar Bernardi em 22/06/2012. As partes destacadas em vermelho correspondem aos trechos excluídos da edição disponibilizada no portal CPDOC. A consulta à gravação integral da entrevista pode ser feita na sala de consulta do CPDOC. Bernardo Buarque - Boa tarde. Águas de Lindóia, vinte e dois de junho de 2012, depoimento de José Oscar Bernardi, o Oscar, ex-jogador da Seleção Brasileira, da Ponte Preta e do São Paulo. Participam deste depoimento os pesquisadores Felipe dos Santos e Bernardo Buarque. Esta entrevista faz parte do projeto Futebol, Patrimônio e Memória, que é uma parceria entre o Museu do Futebol e da Fundação Getúlio Vargas. Oscar, boa tarde, muito obrigado por ter aceito nos dar esta entrevista, por nos receber aqui em seu resort em Águas de Lindóia. -

Pena Para Quem Maltratar Animais Será Aumentada Marlon Rancer E
Filiado à: Nº: 11.954 - R$ 2,50 Desde 1.973 - Ano: 48 Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva Umuarama, Domingo e Segunda-feira, 13 e 14 de Setembro de 2020 ACIDENTES CONSTANTES As curvas que deixam mais violenta a estrada entre Umuarama e Xambrê Moradores das margens da rodovia entre Umuarama e Xambrê, principalmente entre o Km 10 e a curva dos Françolin, dizem que é comum acordar de madrugada com o barulho de acidentes ou alguém pedindo ajuda. São acidentes leves e graves, a maioria nas duas curvas mais perigosas da rodovia, onde o excesso de velocidade pode terminar em tragédia. O DER diz que vai reforçar a sinalização nos trechos. Página A6 PET ILUSTRADO Pena para PQ. DOM PEDRO II quem maltratar Projeto social animais será reescreve a vida aumentada de bairro de Umuarama Página A5 A história do Dom Pedro II começa ser reescrita. O recomeço parte de MARIA HELENA uma ação dos próprios moradores do bairro, com a criação do Instituto Marlon Rancer por Amor (IPA), coordenado por e Salvador Junior Turci (foto), que nasceu para ser o braço social da comunidade vão disputar a levando cultura, esporte e apoio Prefeitura para os mais carentes. Página A2 Página A4 Pozzobom e Pimentel são candidatos à reeleição O prefeito Celso Pozzobom (PSC) e o vice Hermes Pimentel CUIDADO COM O RISCO DE INCÊNDIO NESTE CALOR - O Paraná enfrenta uma das piores secas (Democracia Cristã) foram confirmados candidatos à reelei- dos últimos anos e mesmo com as chuvas de agosto o tempo continua seco, aumentando as possibilidades de ção na convenção dos seus partidos realizada neste sábado incêndios em áreas urbanas e rurais. -

Marcelo Luis Brum
0 UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMPUS SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E EDUDAÇÃO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA MARCELO LUIS BRUM UMA ANÁLISE DOS SISTEMAS TÁTICOS DO FUTEBOL UTILIZADO PELA SELEÇÃO BRASILEIRA NA CONQUISTA DOS CINCO MUNDIAIS Santa Rosa 2014 1 MARCELO LUIS BRUM UMA ANÁLISE DOS SISTEMAS TÁTICOS DO FUTEBOL UTILIZADO PELA SELEÇÃO BRASILEIRA NA CONQUISTA DOS CINCO MUNDIAIS Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Educação Física da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do Título de Licenciado em Educação Física. Santa Rosa 2014 2 DEDICATÓRIA Dedico esta pesquisa final do curso de formação de nível superior, primeiramente a minha família, em especial à meu pai Luis Guerino Brum, que independente de onde estiver, está comigo a cada passo de minha trajetória, iluminando meus caminhos. Sua saudade, me das forças para ser a cada dia uma pessoa melhor, buscando dar o máximo de mim sempre. A minha mãe Cleidi Maria C. Brum, que com seu jeito, seu carinho e seu amor me impulsionam a buscar o novo, com garra e dedicação. A meu irmão Gabriel Luis Brum, que está comigo em todos os momentos, aconselhando - me nos momentos difíceis e comemorando comigo todas as minhas vitórias, a Kamila Lehr, minha namorada, pelo seu apoio, carinho e atenção, pois com certeza sem ela não iria conseguir tirar forças para realizar este trabalho. 3 “Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes proezas da história foram conquistadas daquilo que parecia impossível.” Charles Chaplin 4 RESUMO O presente estudo tem como objetivo o interesse de conhecer a história do futebol Mundial, brasileiro e a evolução dos sistemas táticos no decorrer das copas do mundo em que o Brasil sagrou-se campeão. -

Torneio Do Povo
TORNEIO DO POVO Tradicional Torneio realizado no auge da ditadura militar. Conhecido como “Torneio do Povo”, reuniu em sua primeira edição, no ano de 1971, Corinthians, Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro, os clubes de maior torcida em seus estados e no Brasil. Na edição de 1972 o Bahia juntou-se aos mesmos e em sua última edição, em 1973, o Coritiba. Seu nome oficial era “Torneio General Emílio Garrastazu Médici”, presidente da República do Brasil. Em sua terceira e última edição, em 1973, o Coritiba surpreendeu a todos e faturou o título. Por conta desta conquista, o Coritiba, passou a se auto-intitular “Campeão do Povo” na letra de seu hino. Torneios Extintos Torneio do Povo 2 Observações: 1 - Na maioria das fichas técnicas e observações mantiveram-se a grafia da época. Dependendo do meio de comunicação pesquisado, estas grafias podem conter acentuações, pontuações e palavras diferentes. “Portanto, não é erro de digitação”. 2 - Em alguns casos não há citação do treinador da equipe. À época os jornais e revistas davam pouco atenção ao fato. 3 - Como em diversos sites, revistas e jornais as informações divergem, foi adicionado, em algumas fichas, informações extras de um dos meios de comunicações. 4 - O Rio de Janeiro era, até então, a capital do estado da Guanabara. Torneios Extintos Torneio do Povo 3 1971 Equipe base do Corinthians, o campeão de 1971 Torneios Extintos Torneio do Povo 4 A competição Será disputada em dois turnos, com jogos de ida e volta. O Flamengo jogará todas suas partidas “fora de casa” devido obras do Maracanã. -

Sutebol Brasileiro, Hegemonia, Narradores E Sociedade Civil
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL Raul Milliet Filho Cenários e Personagens de uma Arte Popular: futebol brasileiro, hegemonia, narradores e sociedade civil SÃO PAULO 2009 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL Raul Milliet Filho Cenários e Personagens de uma Arte Popular: futebol brasileiro, hegemonia, narradores e sociedade civil Tese de Doutorado em História Social, sob a orientação do Prof. Dr. Marcos Silva SÃO PAULO 2009 Ficha catalográfica Milliet Filho, Raul, 1952. Cenários e Personagens de uma Arte Popular: futebol brasileiro, hegemonia, narradores e sociedade civil. São Paulo, 2009. Futebol. Futebol brasileiro. Cenários. Personagens. Hegemonia. Esta tese foi um beijo roubado do destino. De tudo que foi possível, estão presentes Joana, Vicente, Olívia, Anna Maria e Elza. Aprendi muito. Raul AGRADECIMENTOS Aos meus colegas, companheiros e peladeiros, por tudo... Aos enfermeiros e todo o corpo médico do Pró-Cardiaco, em especial ao Dr. José Galvão Alves. A Marcos Silva, pela amizade e compreensão. Por ter me apontado os caminhos de uma cultura popular que eu desconhecia. A Ricardo Oliveira, Carlos Didier, Ricardo Salles, Marcelo Proni, Antonio Edmilson Martins Rodrigues, Adriano Bidão, Flavio Carneiro e Sergio Vieira. Vocês sabem por quê. A José Paulo Pessoa, Juca Pessoa, Antonio Brocchi e Roseana Mendes Marques. Não esquecerei nossas conversas naqueles seis meses. A Carlos de Barros Lisboa, pelo amor a Joana, Vicente e Olivia. Relembrando para sempre meu pai Raul Milliet e meus tios Gabriel, João, Lena e Maria Júlia. -

Cesop-Datafolha/Sãopaulo/Cap93.Ago-00332
Número da pesquisa: CESOP-DATAFOLHA/SÃOPAULO/CAP93.AGO-00332 Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO MALUF (7 meses)/ CÂMARA MUNICIPAL Data: 02/08/93 Tamanho da amostra: 1079 Universo: População adulta da cidade de São Paulo var label sexo. val label sexo 1 "Masculino" 2 "Feminino". var label idade. val label idade 1 "16 a 25 anos" 2 "26 a 40 anos" 3 "41 anos ou +". var label p1 "O prefeito Paulo Maluf completou sete meses de mandato. Na sua opinião ele está fazendo um governo:". val label p1 1 "Ótimo" 2 "Bom" 3 "Regular" 4 "Ruim" 5 "Péssimo" 6 "NS". var label p2 "E como você avalia os vereadores da Câmara Municipal, eleitos no ano passado, que tomaram posse este ano: na sua opinião eles estão tendo um desempenho:". val label p2 1 "Ótimo" 2 "Bom" 3 "Regular" 4 "Ruim" 5 "Péssimo" 6 "NS". 1 var label partido "Qual é o seu partido político de preferência?". val label partido 1 "PMDB" 2 "PT" 3 "PPR" 4 "PSDB" 5 "PTB" 6 "PRN" 7 "PDT" 8 "PSB" 9 "PFL" 10 "PL" 11 "PDS" 12 "Outros partidos" 13 "Nomes / referências" 14 "Nenhum / não tem" 15 "Não sabe". var label p4 "Mudando de assunto, na sua opinião o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está fazendo um trabalho:". val label p4 1 "Ótimo" 2 "Bom" 3 "Regular" 4 "Ruim" 5 "Péssimo" 6 "NS". var label p5 "Você diria que Carlos Alberto Parreira deve continuar como técnico da seleção brasileira ou deve ser substituído? (SE SUBSTITUÍDO) Quem deve ser o técnico da seleção? (ESPONTÂNEA E ÚNICA)". -

Ficha Técnica Jogo a Jogo, 1992 - 2011
FICHA TÉCNICA JOGO A JOGO, 1992 - 2011 1992 Palmeiras: Velloso (Marcos), Gustavo, Cláudio, Cléber e Júnior; Galeano, Amaral (Ósio), Marquinhos (Flávio Conceição) e Elivélton; Rivaldo (Chris) e Reinaldo. Técnico: Vander- 16/Maio/1992 Palmeiras 4x0 Guaratinguetá-SP lei Luxemburgo. Amistoso Local: Dario Rodrigues Leite, Guaratinguetá-SP 11/Junho/1996 Palmeiras 1x1 Botafogo-RJ Árbitro: Osvaldo dos Santos Ramos Amistoso Gols: Toninho, Márcio, Edu Marangon, Biro Local: Maracanã, Rio de Janeiro-RJ Guaratinguetá-SP: Rubens (Maurílio), Mineiro, Veras, César e Ademir (Paulo Vargas); Árbitro: Cláudio Garcia Brás, Sérgio Moráles (Betinho) e Maizena; Marco Antônio (Tom), Carlos Alberto Gols: Mauricinho (BOT); Chris (PAL) (Américo) e Tiziu. Técnico: Benê Ramos. Botafogo: Carlão, Jefferson, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva; Souza, Moisés Palmeiras: Marcos, Odair (Marques), Toninho, Tonhão (Alexandre Rosa) e Biro; César (Julinho), Dauri (Marcelo Alves) e Bentinho (Hugo); Mauricinho e Donizete. Técnico: Sampaio, Daniel (Galeano) e Edu Marangon; Betinho, Márcio e Paulo Sérgio (César Ricardo Barreto. Mendes). Técnico: Nelsinho Baptista Palmeiras: Velloso (Marcos), Gustavo (Chris), Roque Júnior, Cléber (Sandro) e Júnior (Djalminha); Galeano (Rodrigo Taddei), Amaral (Emanuel), Flávio Conceição e Elivél- 1996 ton; Rivaldo (Dênis) e Reinaldo (Marquinhos). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. 30/Março/1996 Palmeiras 4x0 Xv de Jaú-SP 17/Agosto/1996 Palmeiras 5x0 Coritiba-PR Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro Local: Palestra Itália Local: Palestra Itália Árbitro: Alfredo dos Santos Loebeling Árbitro: Carlos Eugênio Simon Gols: Alex Alves, Cláudio, Djalminha, Cris Gols: Luizão (3), Djalminha, Rincón Palmeiras: Velloso (Marcos), Gustavo (Ósio), Sandro, Cláudio e Júnior; Amaral, Flávio Palmeiras: Marcos, Cafu, Cláudio (Sandro), Cléber e Júnior (Fernando Diniz); Galeano, Conceição, Rivaldo (Paulo Isidoro) e Djalminha; Müller (Chris) e Alex Alves. -

Paulo Roberto Falcão (Depoimento, 2012)
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC) Proibida a publicação no todo ou em parte; permitida a citação. A citação deve ser textual, com indicação de fonte conforme abaixo. FALCÃO, Paulo Roberto. Paulo Roberto Falcão (depoimento, 2012). Rio de Janeiro, CPDOC/FGV, 2012. 76p. PAULO ROBERTO FALCÃO (depoimento, 2012) Rio de Janeiro 2014 Transcrição Nome do entrevistado: Paulo Roberto Falcão Local da entrevista: Porto Alegre – Rio Grande do Sul Data da entrevista: 29 de outubro de 2012 Nome do projeto: Futebol, Memória e Patrimônio: Projeto de constituição de um acervo de entrevistas em História Oral. Entrevistadores: Bernardo Buarque (CPDOC/FGV) e Felipe dos Santos (Museu do Futebol) Transcrição: Carolina Gonçalves Alves Data da transcrição: 22 de novembro de 2012 Conferência da transcrição : Felipe dos Santos Souza Data da conferência: 28 de outubro de 2012 ** O texto abaixo reproduz na íntegra a entrevista concedida por Paulo Roberto Falcão em 29/10/2012. As partes destacadas em vermelho correspondem aos trechos excluídos da edição disponibilizada no portal CPDOC. A consulta à gravação integral da entrevista pode ser feita na sala de consulta do CPDOC. Bernardo Buarque – Falcão, boa tarde. P.R. – Boa tarde. B.B. – Muito obrigado por aceitar esse convite de compor o acervo, a memória do Museu do Futebol Brasileiro e a gente quer começar, Falcão, contando um pouquinho... Que você nos contasse a sua infância, sua cidade de nascimento, local... P.R. – É... O prazer é meu, evidentemente, não é, de participar junto com outros companheiros. É... Dessa memória do futebol tão rica, não é, do futebol brasileiro e.. -
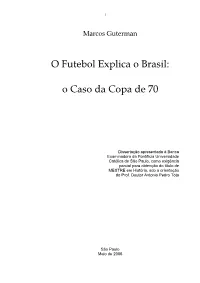
Marcos Guterman
1 Marcos Guterman O Futebol Explica o Brasil: o Caso da Copa de 70 Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de MESTRE em História, sob a orientação do Prof. Doutor Antonio Pedro Tota São Paulo Maio de 2006 2 Guterman, Marcos Título: O Futebol Explica o Brasil Subtítulo: O Caso da Copa de 70 Número de folhas: 155 Grau: Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de SP Orientador: Antonio Pedro Tota Palavras-chave: futebol, ditadura militar, governo Médici, identidade nacional 3 Banca examinadora _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ 4 Dedicatória Dedico este trabalho à minha mulher, Patrícia, por sua amorosa compreensão; a meus pais, Henrique e Rachel, por terem me ensinado a lutar; e a meus filhos, Samuel e Miguel, pela infinita inspiração. 5 Agradecimentos Agradeço em primeiro lugar ao meu orientador, Antonio Pedro Tota, mestre dos mestres e meu grande amigo. Agradeço também à professora Denise Bernuzzi Sant’Anna, por acreditar em mim desde o princípio, e ao professor Fernando Abrucio, por cujas mãos este trabalho começou. Quero agradecer também ao Banco de Dados da Folha de S. Paulo e ao Arquivo do Estado, que me prestaram inestimável ajuda; à banca de qualificação, que me deu preciosas indicações no momento certo; e ao Adriano Marangoni, um amigo que sabe ouvir. 6 Resumo Esta dissertação tem como objetivo compreender as relações entre futebol, política e sociedade no Brasil, considerado por todo o mundo como o “país do futebol”. A intenção, aqui, é ver o futebol como um dos mais importantes veículos pelos quais os brasileiros se expressam e superam suas diferenças regionais e sociais. -

O MUNDIAL DE 1966: ESTUDO DE CASO Futebol E Política Na Imprensa Da Fase Final Do Estado Novo
César Alexandre de Abreu Cruz Santos Rodrigues O MUNDIAL DE 1966: ESTUDO DE CASO Futebol e Política na Imprensa da Fase Final do Estado Novo Trabalho de Projeto de Mestrado em História Contemporânea, orientada pelo Doutor Rui Manuel Bebiano Nascimento, apresentado ao Departamento de História, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2013 Faculdade de Letras O MUNDIAL DE 1966: ESTUDO DE CASO Futebol e Política na Imprensa da Fase Final do Estado Novo Ficha Técnica: Tipo de trabalho Trabalho de Projeto Título O MUNDIAL DE 1966: ESTUDO DE CASO - Futebol e Política na Imprensa da Fase Final do Estado Novo Autor César Alexandre de Abreu Cruz Santos Rodrigues Orientador Doutor Rui Manuel Bebiano Nascimento Coorientador Júri Presidente: Doutor António Resende Oliveira Vogais: 1. Doutor Francisco Manuel de Jesus Pinheiro 2. Doutor Rui Manuel Bebiano Nascimento Identificação do Curso 2º Ciclo em História Área científica História Contemporânea Data da defesa 24-10-2013 Classificação 17 valores O Mundial de 1966: Estudo de Caso À Leonor, o Projeto de uma vida! «Porque somos e nos sabemos frágeis e precários, transitórios e mortais, nós os humanos ansiamos e lutamos para conquistar e beber da taça do mundo. (…) Eles – os Deuses – só sabem e podem ganhar; nós somos predestinados a assumir o risco de perder, nascemos para cumprir o destino e fado de ganhar algumas vezes, de perder muitas outras e de ter de aprender a perder e a suportar a derrota, mas sem perder a face, a determinação e o gosto de insistir, treinar e competir, de tentar e de ousar, de melhorar e de progredir. -

Futebol Em Versiprosa De Carlos Drummond De Andrade
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA LITERATURA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO LITERATURA COMPARADA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DOUTORADO Fabio Mario Iorio RASTROS DO COTIDIANO: FUTEBOL EM VERSIPROSA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE Rio de Janeiro 2006 2 Fabio Mario Iorio RASTROS DO COTIDIANO: FUTEBOL EM VERSIPROSA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE Tese de doutorado em Letras apresentada à coordenação dos cursos de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Prof.ª Dr.ª Beatriz Resende. Rio de Janeiro 2006 3 Fábio Mário Iorio RASTROS DO COTIDIANO: FUTEBOL EM VERSIPROSA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE Tese apresentada à Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da UFRJ. Rio de Janeiro, 2006 BANCA EXAMINADORA Prof.ª Dr.ª Beatriz Resende Prof. Dr. André Luís Gardel Barbosa Prof. Dr. Marildo José Nercolini _____________________________________________________________ Prof. Dr. Geraldo Luiz dos Reis Nunes Prof. Dr. Luiz Edmundo Bolças Coutinho 4 AGRADECIMENTOS À Prof.ª Dr.ª Beatriz Resende pelo ensinamento, amizade e orientação que tornaram possível a realização deste trabalho. Ao incentivo e companheirismo em todas as horas do irmão Vitor Mario Iorio À fraternidade de Rafael Mario Iorio. À colaboração da hora exata da formatação dos sobrinhos Rafael e Pedro Henrique. À parceria de minhas mulheres Maria Ignês e Ana Carolina. Aos mestres do Curso de Doutorado da UFRJ A todos que contribuíram de alguma forma para este sonho ser realizado. 5 RESUMO Rastros do cotidiano analisa a importância do futebol brasileiro nas crônicas jornalísticas de Carlos Drummond de Andrade publicadas no Correio da Manhã e no Jornal do Brasil durante 1954 até 1983 e reunidas na coletânea “Quando é dia de futebol “de 2002. -

Digital 02 04 2021.Pdf
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS R$ 3,00 ANO: 48 DESDE: 1973 - Nº: 12.119 Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho UMUARAMA, SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 2 e 3 de Abril de 2021 Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva ECONOMIA Umuarama continua entre as cidades que mais mantiveram empregos no PR Um importante indicador, divulgado PARANÁ nesta semana, mostrou crescimento na geração de empregos e o mais im- Cirurgias portante: manutenção da maioria dos trabalhadores nas vagas preenchidas. eletivas vão De acordo com o Cadastro Geral de continuar Empregados e Desempregados (Ca- ged), do Ministério do Trabalho, todos suspensas os setores econômicos da Capital da Amizade tiveram desempenho positivo. Página A2 Indústria, comércio e prestação de ser- viços registraram saldo positivo de mais de 200 empregos, entre os meses de ÓDIO DIGITAL janeiro e fevereiro deste ano. Página A3 Vítimas de CIDADE fake news têm Decreto permite dicas para o comércio aberto fazer denúncia no fim de semana Página A6 A economia de Umuarama continua dando sinais positivos diante da pandemia de coronavírus Página A7 SEM FUTURO PÁSCOA Profissionais A mensagem de e estudantes perseverança para temem apagão educacional a vitória nesta Semana Santa Página A2 Neste cenário de mais de um ano de pandemia do coronavírus, no qual as pessoas estão mentalmen- SAÚDE te cansadas, o padre da Paróquia São José Operário, Valdomir Almei- O chocolate na da Machado (foto), ressalta que o Páscoa e os tríduo pascal é uma oportunidade alimentos bons dos cristãos observarem o sinal de esperança ao olharem para Cristo na pandemia na cruz e perceber que vamos vencer juntos.