Os Solos Do Nordeste De Portugal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
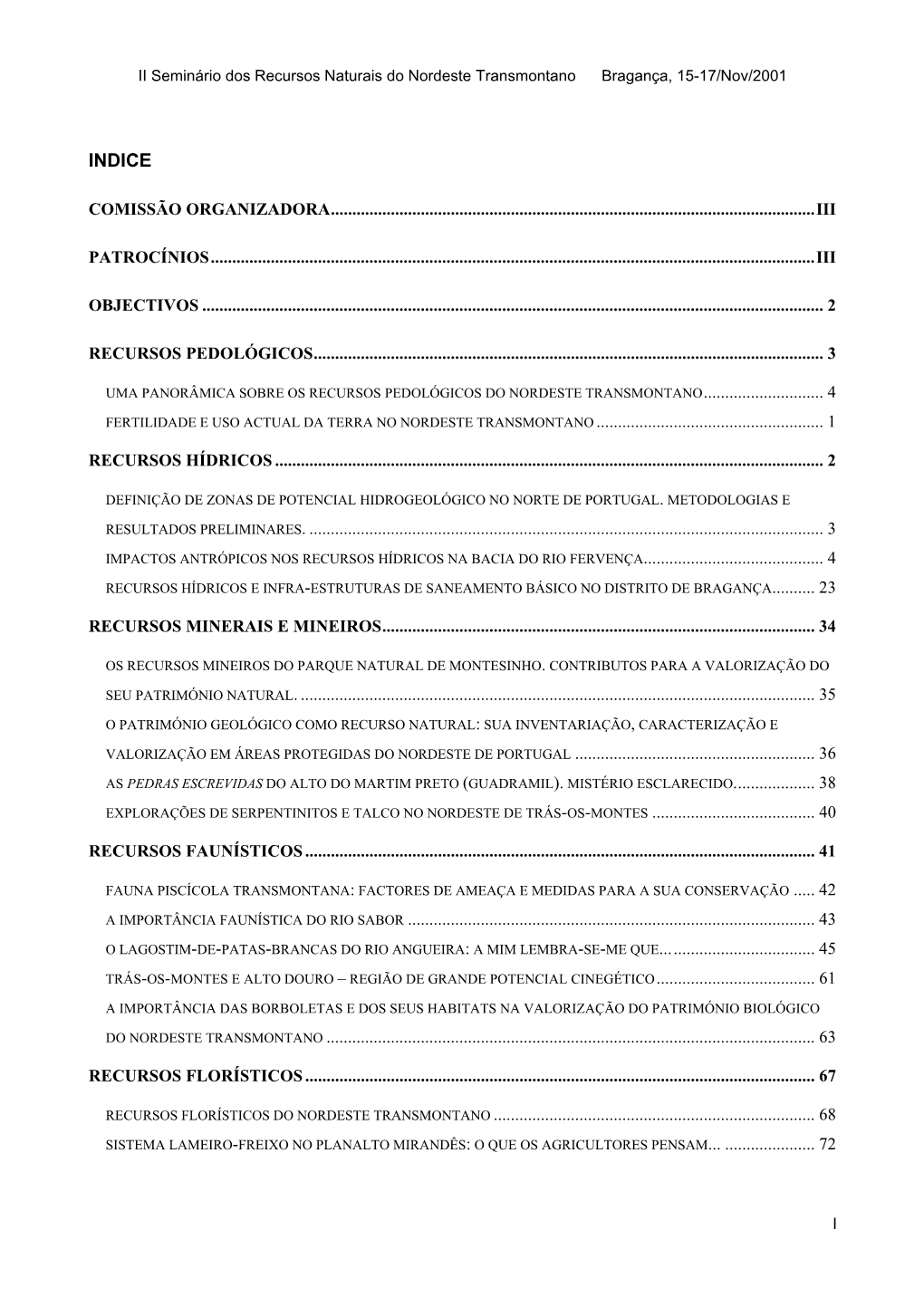
Load more
Recommended publications
-

O Lagostim.Pdf
II Seminário dos Recursos Naturais do Nordeste Transmontano Bragança, 15-17/Nov/2001 O LAGOSTIM-DE-PATAS-BRANCAS DO RIO ANGUEIRA: A MIM LEMBRA-SE-ME QUE...1 Fernando Pereira Escola Superior Agrária Bragança – Dep. Economia e Sociologia Rural Maria João Maia Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves - ISA 1. Introdução No Nordeste Transmontano os sentidos são vigorosos, puros, primitivos. Estranhamente naturais. Estranhamente humanos. Ao cinzento opõem-se a cor, ao frio o calor, às pedras os aromas, às plantas os animais, aos animais as pessoas, às pessoas de cá as pessoas de fora, ao homem a mulher... Ao real o simbólico. O protagonista desta comunicação é o lagostim-de-patas-brancas (Austrapotamobius pallipes), também conhecido por lagostim do rio Angueira, ou cangrejo. Em um século de história, espaço temporal da sua existência conhecida naquele rio, o cangrejo impregnou o quotidiano das populações ribeirinhas e vizinhas: como actividade económica, em tempo de privação; como símbolo de identidade local e nacional; como elemento de laços de amizade e pertença; como objecto de descoberta e identidade sexual. O lagostim não é sujeito único, real ou simbólico, a desempenhar este papel por terras transmontanas, mas é rara a rapidez e intensidade com que o protagonizou. Ainda hoje se sente aquilo que podemos designar como a “febre do lagostim”, tal o entusiasmo e disponibilidade dos nossos interlocutores. Graças a ela obtivemos entrevistas (com pescadores portugueses e espanhóis) para o minuto seguinte, participamos em debates de rua espontâneos, fomos conduzidos aos locais “sagrados” da pesca, trilhamos os caminhos do contrabando, ouvimos relatos longos, acedemos a arquivos com rara facilidade, fizeram-nos desenhos e objectos e repetiram-nos gestos de pesca. -

A Evolução Da Terra De Miranda: Um Estudo Com Base Nos Sistemas De Informação Geográfica
Luís Miguel Pires Meirinhos 2º Ciclo de Estudos em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território A evolução da Terra de Miranda: Um estudo com base nos Sistemas de Informação Geográfica Porto 2014 Dissertação apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território Orientador: Professor Doutor: João Carlos dos Santos Garcia Coorientador: Professor Doutor: António Alberto Teixeira Gomes Versão definitiva A evolução da Terra de Miranda: Um estudo com base nos Sistemas de Informação Geográfica Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território Página 2 A evolução da Terra de Miranda: Um estudo com base nos Sistemas de Informação Geográfica Agradecimentos. A realização e conclusão deste trabalho foi possível graças à colaboração e apoio de um conjunto de pessoas a quem quero expressar a minha amizade e gratidão. Em primeiro lugar gostaria de manifestar o meu apreço e sincero agradecimento ao Professores Doutores João Carlos dos Santos Garcia e António Alberto Teixeira Gomes, pela confiança e incentivo que me transmitiram desde o primeiro dia. Foi a forma altamente dedicada, a sua inexcedível disponibilidade e incansável acompanhamento, bem como as críticas e sugestões que tornaram possível a conclusão desta dissertação. Não posso deixar de referir as saídas de campo, que constituíram momentos de aprendizagem e alegre convívio. Agradeço-lhes por me terem feito sentir, pela primeira vez, um aprendiz de geógrafo. Em segundo lugar quero expressar o meu agradecimento às diversas instituições com que contactei, em particular ao Centro de Estudos Mirandeses da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em especial ao Professor José Meirinhos pelo apoio prestado na seleção das fontes e no estímulo para avançar com esta investigação. -

Terras De Trás-Os-Montes Face Às 3 Prioridades Estratégias Da Estratégia Europa 2020
2 Índice 1. METODOLOGIA ........................................................................................................... 4 2. DIAGNÓSTICO ........................................................................................................... 11 2.1. Situação atual do território (diagnóstico externo no quadro das outras regiões e europa) .............. 11 2.1.1. Introdução ....................................................................................................................................... 11 2.1.2. Contextualização da Comunidade Intermunicipal .......................................................................... 12 2.1.3. Perfil da Região .............................................................................................................................. 14 2.1.4. Caracterização CIM das Terras de Trás-os-Montes face às 3 prioridades estratégias da Estratégia Europa 2020 ............................................................................................................................ 22 2.2. Análise crítica da CIM das Terras de Trás-os-Montes ...................................................................... 38 2.2.1. Análise SWOT ................................................................................................................................ 38 2.2.2. Desafios e fatores críticos de sucesso ........................................................................................... 40 3. ESTRATÉGIA ............................................................................................................ -

1 Freguesias Da Região Do Norte Fundo De Financiamento Das
Freguesias da Região do Norte Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) em 2019 Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) A participação das freguesias nos impostos do Estado encontra-se definida no regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, prevendo para além do Fundo de Financiamento das Freguesias, a inclusão de mais uma verba a distribuir pelas freguesias, nos termos do n.º 8 do artigo 38.º (excedente) 1. No ano de 2019 , o montante global do FFF é fixado em € 208.125.685 , constando o montante a atribuir a cada freguesia do Mapa XX, anexo à Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2019 - LOE/2019 (cf. n.º 5 do artigo 82.º), dos quais € 5.870.511 se referem ao excedente previsto no n.º 8 do art.º 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. Na Região do Norte a participação total prevista para 2019 é de € 76.976.374, distribuída da seguinte forma: - Fundo Financiamento das Freguesias: € 74.304.126 - N.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2013: € 2.672.248 Esta participação tem um peso de 36,98% no contexto da totalidade das freguesias. Os montantes aprovados para cada freguesia da Região do Norte são os que constam do mapa em anexo. Porto, 04 de março de 2019 1 De acordo com os critérios previstos no n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto: a) 70%, igualmente por todas as freguesias de baixa densidade, nos termos da Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho, e as freguesias das regiões autónomas; b) 30%, igualmente pelas restantes freguesias. -

Concelho De Vimioso
CONCELHO DE VIMIOSO Carta Arqueológica r e v i s ã o d o p d m Maio 2 0 1 5 C A R T A A R Q U E O L Ó G I C A R E V I S Ã O D O P D M D O C O N C E L H O D E V I M I O S O INTRODUÇÃO III. Metodologia e Critérios, descrevendo os critérios utilizados para a identificação das ocorrências. No âmbito da proposta de revisão do Plano Director Municipal de IV. Ocorrências, identificando todos os sítios de interesse Vimioso, o presente documento constitui a Carta Arqueológica do Território arqueológico. Municipal de Vimioso. A intenção de se elaborar uma carta arqueológica para o Concelho de A carta arqueológica não é um documento terminado. As alterações Vimioso surgiu integrada nas actividades do Gabinete Técnico Local, a de solo provocadas pelas mais diversas intervenções humanas são funcionar nesse município, durante o biénio de 2004/05. Em 2006, o gabinete susceptíveis de provocar o aparecimento de novos vestígios arqueológicos, continuou em funções, e a carta arqueológica manteve-se em elaboração, justificando uma constante actualização do documento. entre os outros projectos que se iam desenvolvendo. Porém, o fim do gabinete, em Janeiro de 2007, impediu a conclusão desse levantamento. Perante a necessidade de se proceder à revisão do PDM de Vimioso, documento base de ordenamento do território, tornou-se imperativo retomar o trabalho iniciado anteriormente. Esta carta tem como objectivo o levantamento, identificação e registo de sítios de interesse arqueológico que permitirá uma politica de preservação do património arqueológico. -

PORQUE SE FALA DIALECTO LEONÊS EM TERRA DE MIRANDA? [À Memória De D
PORQUE SE FALA DIALECTO LEONÊS EM TERRA DE MIRANDA? [À memória de D. Ramón Menéndez Pidal.] Apesar de já em 1882 Leite de Vasconcelos ter entrevisto o carácter dos falares a que chamou «co-dialecto mirandês»(1), foi todavia Menéndez Pidal quem, em 1906, definitivamente estabeleceu a filiação leonesa da linguagem territorialmente portuguesa da Terra de Miranda. Foi ele ainda quem então procurou a explicação histórica deste facto linguístico, julgando encontrá-la nas circunstâncias de esse território ter pertencido, em época romana, ao convento asturicense e de a Igreja de Bragança, com todos os seus territórios até ao Tuela, se encontrar incluída na Idade Média na Diocese de Astorga (2). É este problema que, não o julgando assim definitivamente resolvido, me proponho aqui retomar. O texto do «Parochiale» suevo do século VI (3) não permite determinar com precisão os limites respectivos das dioceses de Brácara e Astúrica nessa época. À primeira pertenciam, sem dúvida, não só a Terra de Panóias (Pannonias- hoje Vila Real e Murça), mas, mais para oriente, Ledra (Laetera com variantes) (4) e Bragança (Brigantia). Aliste, que aparece num dos textos, é fruto de uma interpolação tardia em favor de Braga (5), mas não consta da lista das paróquias asturicenses. Se não fosse demasiado arriscado identificar Astiatico (variante Astiatigo), da lista dos pagi bracarenses, com Sayago, poderíamos afirmar sem receio que o domínio da Igreja de Braga, estendendo-se a oriente para a margem esquerda do Douro, abrangia então a região que nos interessa. Sem essa identificação, realmente arriscada (6), e sem a possibilidade de identificar os restantes pagi (7), vemo-nos forçados a confessar que nada de seguro sabemos a tal respeito. -

Fase Iii – Identificação De Hotspots
0 2020 2 0 2 0 FASE III – IDENTIFICAÇÃO DE HOTSPOTS FASE III – IDENTIFICAÇÃO DE HOTSPOTS FASE III – IDENTIFICAÇÃO DE HOTSPOTS FASE III – IDENTIFICAÇÃO DE HOTSPOTS 1 1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 4 2. METODOLOGIA .............................................................................................................................. 6 3. PRECIPITAÇÃO EXCESSIVA ........................................................................................................... 12 3.1. TROÇOS VULNERÁVEIS DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS ................................................................... 12 3.2. LINHAS DE ÁGUA COM NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO (LIMPEZA E RENATURALIZAÇÃO) ......... 23 3.3. IDENTIFICAÇÃO E GEORREFERENCIAÇÃO DE MARCAS DE CHEIA ................................................... 29 4. SECAS E ESCASSEZ DE ÁGUA ........................................................................................................ 33 4.1. SISTEMAS DE REGA EM MEIO URBANO ......................................................................................... 33 4.2. PERÍMETROS DE REGA E SISTEMAS DE REGA AGRÍCOLA ............................................................... 36 4.3. LOCAIS PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM JARDINS PÚBLICOS E BACIAS DE RETENÇÃO ........................................................................................................................................... 37 4.4. SISTEMA DE ABASTECIMENTO