Um Retrato De Gustavo Barroso
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
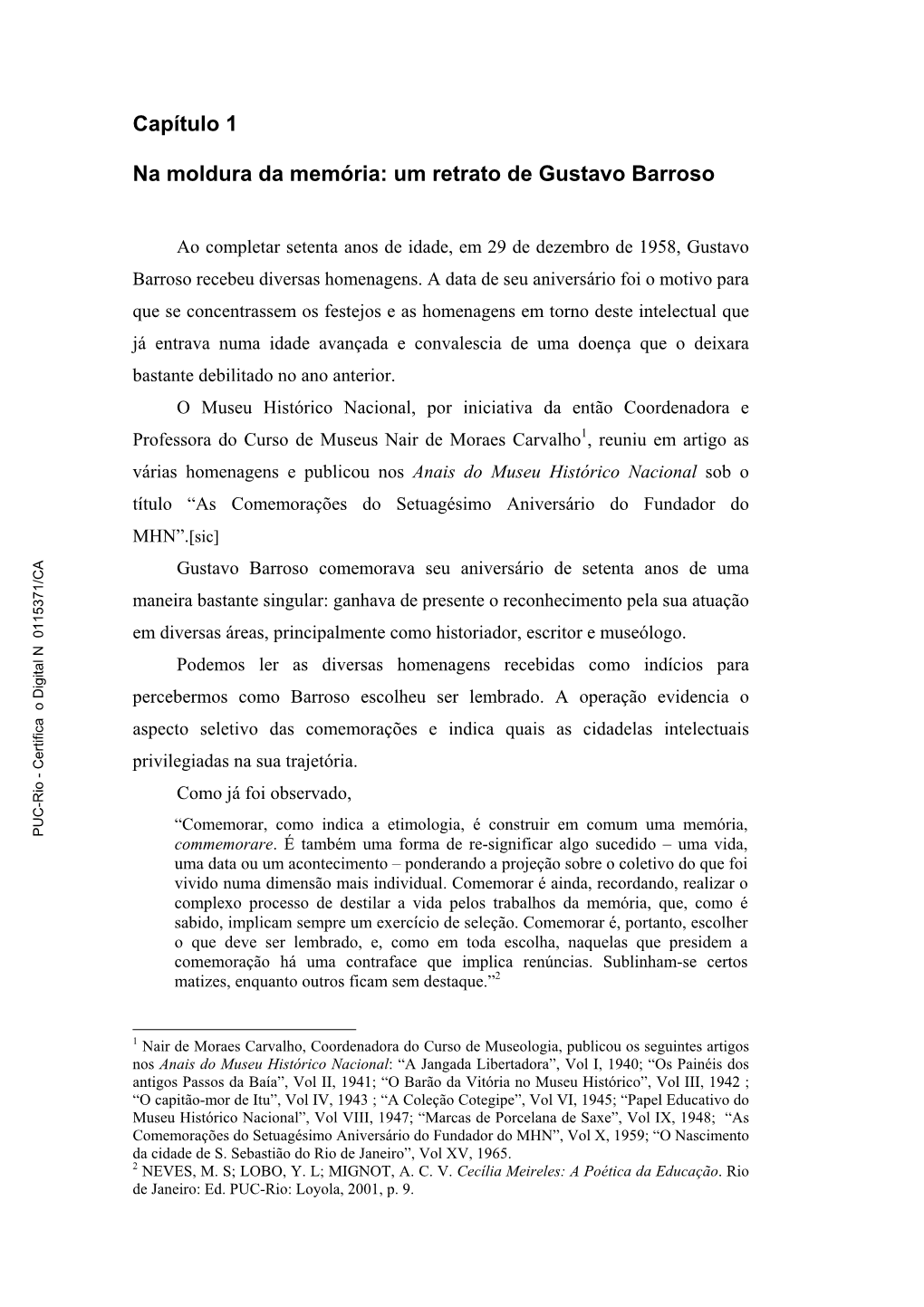
Load more
Recommended publications
-
![ANTISEMITISM in BRAZIL a Report to the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion Or Belief 1 [07 June 2019] Neubiana Silva Ve](https://docslib.b-cdn.net/cover/2105/antisemitism-in-brazil-a-report-to-the-un-special-rapporteur-on-freedom-of-religion-or-belief-1-07-june-2019-neubiana-silva-ve-612105.webp)
ANTISEMITISM in BRAZIL a Report to the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion Or Belief 1 [07 June 2019] Neubiana Silva Ve
ANTISEMITISM IN BRAZIL A report to the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief 1 [07 June 2019] Neubiana Silva Veloso Beilke (Researcher and Rapporteur) Giovanna Comacio (Assistant Researcher) 1. Introduction .................................................................................................................................... 2 2. Current context in Brazil ................................................................................................................ 3 3. Brief history ................................................................................................................................... 3 4. Antisemitic incidents throughout Brazil’s recent history ................................................................ 5 5. Roots of Antisemitism in Brazil and the neo-antisemitism movements.......................................... 5 6. Information on Antisemitic Incidents and Information on State Responses to Antisemitism ......... 7 7. Action taken by national authorities: what actions have been taken by the relevant authorities to remedy the situation? ........................................................................................................................... 10 8. Best practices by non-State actors ................................................................................................ 12 9. Examples of effective strategies by non-state actors, especially media, internet, telecommunications, and civil society companies, to respond to and combat antisemitism. ............... -

Inventing the Lesser Evil in Italy and Brazil
Fascist Fiction: Inventing the Lesser Evil in Italy and Brazil by Giulia Riccò Department of Romance Studies Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Lamonte Aidoo, Supervisor ___________________________ Roberto Dainotto ___________________________ Nicola Gavioli ___________________________ Saskia Ziolkowski Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Studies in the Graduate School of Duke University 2019 i v ABSTRACT Fascist Fiction: Inventing the Lesser Evil in Italy and Brazil by Giulia Riccò Department of Romance Studies Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Lamonte Aidoo, Supervisor ___________________________ Roberto Dainotto ___________________________ Nicola Gavioli ___________________________ Saskia Ziolkowski An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Studies in the Graduate School of Duke University 2019 Copyright by Giulia Riccò 2019 Abstract My dissertation, Fascist Fiction: Inventing the Lesser Evil in Italy and Brazil, accounts for the resilience of fascism by tracing the rhetoric of the “lesser evil”—a discursive practice constitutive of fascism—through contemporary politics and literature in Italy and Brazil. By invoking the looming presence of a graver, more insidious threat the rhetoric of the lesser evil legitimizes fascist violence against dissidents and vulnerable populations. Through an analysis of texts by fascist philosopher Giovanni Gentile and his Brazilian counterpart Miguel Reale, I reveal that the rhetoric of the lesser evil is a constitutive part of fascist discourse and that in Italy and Brazil this aspect of fascist doctrine met a favorable combination of subjective and objective conditions which has allowed it to thrive within democratic structures. -

The People's Struggle Against Fascism in Brazil
THE PEOPLE'S STRUGGLE AGAINST FASCISM IN BRAZIL BY MARINA LOPES HE economic and political situa- Dois Rios. Moreover, a wave of popu- Ttion in Brazil became increasingly lar sentiment for a return to a consti- acute towards the end of 1931 and tutional government once again rose throughout 1932. Evidences of resis- above the seething surface of Brazilian tance against the employers' offensive life. manifested themselves among the The main centers of unrest were Sao workers. A wave of strikes swept the Paulo, Rio, and Pernambuco. An country, particularly in Sao Paulo and armed struggle broke out aginst Var- Rio de Janeiro. In the main these gas in Sao Paulo that same year. strikes took the form of protests against It was in this very period that re- wage cuts, increase of working hours, action rallied to the banner of the and fines. Some of these strikes, how- Integralistas. Characteristically the ever, affected important and basic sinister portent of the movement was industries, such as meat-packing, rail- underestimated by the public which road, textile and printing. This mood regarded it merely as a group of mal- of resistance gradually developed into contents and petty adventurers. But a struggle for improved economic con- the chief aim of the Integralistas, as ditions which in some instances as- of all fascist organizations, was to sumed political significance. smash the growing national and pro- Deep discontent also prevailed in gressive movement of the people. They the countryside. Hatred flared up were organized to stem the tide of against the feudal and pre-capitalist the people's demand for democratic forms of exploitation, found even in rights. -

The Catholic Elites in Brazil and Their Attitude Toward the Jews, 1933–1939* Graciela Ben-Dror
The Catholic Elites in Brazil and Their Attitude Toward the Jews, 1933–1939* Graciela Ben-Dror The 1930s were a decade of sweeping political, social, and economic changes in Brazil. The revolution in 1930 propelled Getúlio Vargas to the presidency;1 there was a distinct political polarization; the general persecution of Communists and the left turned into repression of the same in 1935; and Vargas established an authoritarian state, the Estado Novo (“New State”), in November 1937. All these events affected the attitude of the new political and intellectual elites2 toward the Jewish issue and lent the nascent anti-Jewish climate an additional dimension.3 This climate was abetted by racist ideas that been gestating in Brazil since the late nineteenth century and that had nestled in the consciousness of senior bureaucrats and decision-makers.4 Moreover, a few Brazilian Fascists - members of the Integralist Party, an important movement - helped generate the climate of anti-Jewish hostility by creating the metaphor of the Jew who threatens Brazil and equating Jews with Communists.5 These factors – and 1Boris Fausto, A revolução de 1930 (São Paulo: Editora Brasiliense S. A., 1995, first edition, 1970), pp. 92–114. In this book, one of the most important works on the reasons for the 1930 revolution, Fausto argues that the revolution marked the end of the ruling hegemony of the bourgeoisie at that time. The revolution, prompted by the need to reorganize the country’s economic structure, led to the formation of a regime that arranged compromises among classes and sectors. The military, with its various agencies, became the dominant factor in Brazil’s political development. -

Vargas Morto: the Death and Life of a Brazilian Statesman," in Death
"Vargas Morto: The Death and Life of a Brazilian Statesman," in Death, Dismemberment, and Memory: Politics of the Body in Latin America. Lyman Johnson, ed. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2004. Vargas Morto: The Death and Life of a Brazilian Statesman Daryle Williams and Barbara Weinstein University of Maryland In the early morning hours of Tuesday, August 24, 1954, Brazilian president, Getúlio Dornelles Vargas, lumbered to the third floor of the Palácio do Catete, the ornate Rio de Janeiro mansion that had served as the official presidential residence since 1897. Vargas was seeking relief from a maelstrom that threatened to topple his presidency and, in all likelihood, end a storied political career that began three decades earlier, when as an ambitious party hack from Rio Grande do Sul, Vargas arrived in Rio to assume the post of minister of finance. Weighing heavily on Vargas' mind was a deep economic crisis that cut into the gains of the democratic, populist state that he had tried to fashion after 1950. Equally worrisome was the collapse of support from well-placed civilian and military interests that had historically tolerated the president's well-known political and ideological shiftiness. Most troubling was the knowledge that members of Vargas' inner 1 circle had conspired to murder a political foe, only to see the assassination attempt result in the accidental death of an air force officer. Over the three weeks preceding August 24th, Vargas had defiantly declared his intention to complete his elected term, then stated that he might resign quietly, and then contradicted himself by asserting that he was prepared to leave the presidential palace as a "cadaver." By the time Vargas reached his bedroom around 4:45am on the 24th, the weary president took note that his security staff was busily arranging sandbags in the palace gardens in preparation for a possible attack. -

BARROSO, GUSTAVO *Jornalista; Dep
BARROSO, GUSTAVO *jornalista; dep. fed. CE 1915-1917; mov. integralista. Gustavo Dodt Barroso nasceu em Fortaleza no dia 29 de dezembro de 1888, filho de Antônio Felino Barroso, membro de uma tradicional família nordestina, e da alemã Ana Dodt Barroso. Órfão de mãe com apenas sete dias de nascido, foi criado por uma tia paterna que lhe ensinou as primeiras letras. Em 1898 ingressou no Colégio Partenon e no ano seguinte transferiu-se para o Liceu do Ceará, ambos em Fortaleza, formando-se em 1906. Nesse mesmo ano publicou seu primeiro artigo no periódico cearense Jornal da República. Em 1907 ingressou na Faculdade de Direito de Fortaleza e fundou o jornal caricato O Garoto, que dirigiu até dezembro do ano seguinte. Nessa época fundou O Equador, além de colaborar em O Colibri, jornal manuscrito feito em Guaramiranga (CE) e no Figança, jornal da faculdade em que estudava. Sócio fundador do Grêmio Literário 25 de Março e secretário da Talma Cearense, sociedade dramática do Centro Calíope, pertenceu também à sociedade literária do Clube Máximo Gorki, o primeiro clube socialista do Ceará. Em 1910 transferiu-se para o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e matriculou-se na Faculdade de Direito, bacharelando-se em 1912. Durante esse período, lecionou no Ginásio de Petrópolis (RJ) e foi redator do Jornal do Comércio. Ainda em 1912 publicou seu primeiro livro, intitulado Terra do sol, e ingressou no Partido Republicano Federal, ao qual permaneceria filiado até 1918. Nomeado secretário-geral da Superintendência da Defesa da Borracha em 1913, no ano seguinte voltou para Fortaleza a fim de ocupar o cargo de secretário do Interior e da Justiça do governo de Benjamim Barroso. -

Gustavo Barroso Exerceu, Durante Os Anos De 1933 a 1938, Papel Central Na Organização E Ideologia Integralista
Cadernos do Tempo Presente – ISSN: 2179-2143 Gustavo Barroso e o esquecimento: integralismo, antissemitismo e escrita de siI Odilon Caldeira NetoII Resumo: Gustavo Barroso exerceu, durante os anos de 1933 a 1938, papel central na organização e ideologia integralista. As obras antissemitas do autor foram um grande marco referencial não somente na literatura integralista, mas também do antissemitismo nacional. Objetiva-se, neste trabalho, compreender de que forma o autor buscou objetivamente silenciar e minimizar esses aspectos de sua vida, após desligar-se oficialmente do integralismo. Palavras-chave: Gustavo Barroso, Integralismo, Antissemitismo. GUSTAVO BARROSO AND FORGETFULNESS: INTEGRALISM, ANTI SEMITISM AND WRITING ITSELF Abstract: Gustavo Barroso exercised during the years 1933 to 1938, central role in Brazilian Integralism Action's structure and ideology. The works of the author were a reference point not only in integralism literature, but also the Brazilian national anti- Semitism. The objective, in this work, is to understand how the author tried to silence objectively and minimize those aspects of his life, after hanging up officially this fascist movement. Keywords: Gustavo Barroso, Integralism, anti-Semitism. Artigo recebido em 10/09/2012 e aceito em 27/02/2013. Cadernos do Tempo Presente, n. 14, out./dez. 2013, p. 44-56 | www.getempo.org GUSTAVO BARROSO E O ESQUECIMENTO: INTEGRALISMO, ANTISSEMITISMO E A ESCRITA DE SÍ ODILON CALDEIRA NETO O integralismo (ou a Ação Integralista Brasileira - AIB), ao mesmo tempo em que produziu uma análise da sociedade nacional dos anos 1930, buscando para tal a inserção de uma doutrina de cunho fascista no BrasilIII,projetou olhares ao passado, almejando encontrar nesse passado nacional as causas das mazelas nacionais, assim como os motivos pelo qual a práxis integralista alcançaria um movimento chave para o desenvolvimento do país e da própria história, de uma maneira teleológica. -
Gustavo Barroso: Aproximações Conceituais Da Ação Integralista Brasileira E O Museu Histórico Nacional (1933-1937)
GUSTAVO BARROSO: APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS DA AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA E O MUSEU HISTÓRICO NACIONAL (1933-1937) *Arthur Oliveira da Silva RESUMO O trabalho visa identificar quais as semelhanças existentes entre as ações apresentadas na Ação Integralista Brasileira (AIB) e no Museu Histórico Nacional (MHN) pelo viés do ideólogo e intelectual Gustavo Barroso, que atuou intensamente no cenário político e cultural da década de 1930, como advogado, político, professor, escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras. Barroso esteve diretamente ligado às duas instituições no período de 1933-1937 e as utilizou, para difundir seu conceito de passado histórico. Este estudo se justifica pela grande quantidade de instituições museológicas, surgidas no século XX sobre a influência ideológica de Gustavo Barroso e também pela ascendência de seu pensamento saudosista no movimento integralista. Importa destacar, de maneira preliminar, que a vinculação de Gustavo Barroso à A.I.B. influenciou na concepção das ações junto ao Museu Histórico Nacional, na medida em que esse espaço museu se vinculou aos pressupostos ideológicos da Ação Integralista Brasileira. Palavras-chave: Gustavo Barroso. Museu Histórico Nacional. Ação Integralista Brasileira. *Graduado em História pelo Centro de Ensino Superior. ABSTRACT This work look for identify what similarities exist between the actions showed at Brazilian Integralist Action (B.I.A.) and at National Historical Museum (N.H.M.) by the point of view of the ideologist and intellectual Gustavo Barroso, who worked intensely at the political and cultural scenario in the decade of 1930, as a Lower, politician, professor, writer and president of the Brazilian Academy of Letters. Barroso was directly connect to booth institutions at period of 1933- 1937 and used them to spread his concept of historical past . -

The 1824 Confederation of the Equator and Cultural Production in Brazil
The 1824 Confederation of the Equator and Cultural Production in Brazil The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Degoes, Plinio T. 2015. The 1824 Confederation of the Equator and Cultural Production in Brazil. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:17467225 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The 1824 Confederation of the Equator and Cultural Production in Brazil A dissertation presented by Plinio Tadeu DeGoes to The Department of Romance Languages and Literatures in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of Romance Languages and Literatures Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2015 © 2015 Plinio Tadeu DeGoes All rights reserved Dissertation Advisor: Professor Josiah Blackmore Plinio Tadeu DeGoes The 1824 Confederation of the Equator and Cultural Production in Brazil Abstract During the 1824 Confederation of the Equator revolt in northeastern Brazil, a middle- class junta rose to power and waged a war against the monarchy in Rio, journalists participating in creating pedagogical ideological pamphlets, actively engaging in battles, and governing until the revolt was suppressed after a few months. Despite the short duration of this rebel government, the Confederation of the Equator and its ideology have been addressed in cultural production by authors and painters associated with different political movements in the nineteenth, twentieth and early twenty-first centuries, including Jõao Cabral de Melo Neto, Carlos Queiroz Telles, Antônio Parreiras, Gustavo Barroso, Cícero Dias, Murillo La Greca, Heloneida Studart, José Pimentel and Câmara Cascudo. -

Portugal Semente De Impérios No Pensamento Integralista De Gustavo Barroso Portugal Seed of Empires in Gustavo Barroso's Integralist Thought
Portugal semente de impérios no pensamento integralista de Gustavo Barroso Portugal seed of empires in Gustavo Barroso's integralist thought Prof. Dr. Manuel Filipe Canaveira (Instituto de Filosofia Luso-Brasileira – Lisboa - Portugal) [email protected] Resumo: O trabalho examina os aspectos teóricos do pensamento integralista de Gustavo Barroso. Os componentes de maior destaque são: nacionalismo, antisemitismo, historicismo anti-iluminista, valorização da cristandade medieval e crítica à modernidade. Palavras-Chave : Integralismo; Nacionalismo; Tradicionalismo; Cristandade; Crise. Abstract: The paper examines some theoretical aspects of Gustavo Barroso’s integralist thought. The main themes are: nationalism, antisemitism, anti-iluminist historicism, emphasis on medieval Christianity and criticism of modernity. Key words : Integralism, Nationalism, Tradicionalism, Christianity, Crisis. 1. Considerações iniciais Ao contrário de muitos historiadores atuais, entre os quais me incluo, é pouco provável que o escritor Manuel Bandeira alguma vez se tivesse deixado enganar sobre a verdadeira índole das ideias proclamadas pelo acadêmico Gustavo Dodt Barroso. Com a serenidade que o prestígio reconhecido sempre dá a quem dele desfruta, o paladino da Geração de 22 (que “mudou” o Brasil na vertiginosa Semana da Arte Moderna ) alude, em A Província de 23 de Agosto de 1928, à ação do intrépido cearense que, em consequência de uma exposição feita à Academia Brasileira , criticava sem cerimônia a comissão do dicionário (encarregue de proceder à aprovação do novo sistema ortográfico) pelo fato de a maioria dos membros desta serem incapazes de dar resposta às novas e complexas [...] condições de vida bem como às nossas concepções da existência e aos nossos programas de evolução . (Bandeira, p. 125). Isto significava, em seu entender, a necessidade de superar o tempo dos escravos, dos galeões e das cadeirinhas para acolher, com coragem e amor , o futuro americano do Brasil (Bandeira, p. -

The Many Faces of a Para-Fascist Culture: Architecture, Politics and Power in Vargas’ Regime (1930–1945)
fascism 7 (2018) 175-212 brill.com/fasc The Many Faces of a Para-Fascist Culture: Architecture, Politics and Power in Vargas’ Regime (1930–1945) Francisco Sales Trajano Filho Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo [email protected] Abstract This article considers key developments in Brazilian architecture which occurred under the ambiguous and contradictory Vargas’ regime (1930–1945), when it was ex- posed to both internal and external political contingencies, including the crisis of liberalism, which affected its ability to expand and consolidate itself. This situation was not unique to Brazil, since many interwar dictatorships, including the Soviet and fascist regimes, shared the same characteristics. In the Brazilian twentieth century, both during democratic and dictatorial times, whether dominated by left-wing or right-wing ideologies, architecture and the State constantly sought to take advan- tage of the relationship between them. The demands, projects and interests of both spheres set up an intricate web of relationships that shaped national identity and embodied its material representation. Investigating the place of architecture within a broader context, that of the Brazilian nation-building process, the article establishes that the architectural representation of the Brazilian state was never straight forward, combining a set of breakthroughs and setbacks, and always leaving the quest for a uniform and coherent aesthetic language unsolved. This anomalous situation has led scholarship to disregard the complex relationship between the State and architec- ture, between ideology and aesthetics and, simultaneously, to ignore the profound contradictions within Vargas’s government, both in the political and architectural field, and to underestimate the role played by the modernism of European fascism in acting as one of the poles of attraction acting on how building projects were conceived. -
Corporatist Thinking in Miguel Reale: Readings of Italian Fascism In
Corporatist thinking in Miguel Reale: Readings of Italian Fascism in Brazilian Integralism1 O pensamento corporativo em Miguel Reale: leituras do fascismo italiano no integralismo brasileiro João Fábio Bertonha* Resumo Abstract O jurista Miguel Reale se destacou no Within the Brazilian integralist move- movimento integralista brasileiro por ment, jurist Miguel Reale is outstanding vários motivos. Em primeiro lugar, pelo for many reasons. First of all, for the cuidado especial com que se dedicou à special attention he dedicated to the is- questão da organização do futuro Estado sue of the organization of the future in- integralista. Em segundo, pela sua preo- tegralist State. Secondly, for his social cupação social de atingir os operários e concerns, as he aimed to reach workers resolver a chamada ‘questão social’ a and to solve the so called ‘social ques- partir da reorganização do Estado e da tion’ beginning with the reorganization aplicação da doutrina corporativista. E, of the State and the adoption of the cor- por fim, pela sua formação, tanto pes- poratist doctrine. Finally, for his per- soal como educacional, a qual foi muito sonal and educational background, marcada pela cultura italiana, o que le- marked by the Italian culture, which led vou a uma especial influência do fascis- to a special influence of Italian fascism mo italiano em seu pensamento e em sua ação política. Este artigo procura on his thinking and political activity. explorar a concepção de Estado em Mi- This article explores the conception of guel Reale, a diferença entre o seu pensa- the State in Miguel Reale, the difference mento e o dos outros líderes do integra- between his ideas and those of other in- lismo (como Plínio Salgado e Gustavo tegralist leaders (such as Plínio Salgado Barroso) no tocante ao Estado e como and Gustavo Barroso) concerning the ele elaborou o programa corporativista State and the way he designed the cor- do movimento.