Maria Da Dores De Sousa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Votação Aberta 56 ª Legislatura Quórum Qualificado 3ª Sessão Legislativa Ordinária Proposta De Emenda À Constituição Nº 6, De 2018, Nos Termos Do Parecer (1º Turno)
Senado Federal Votação Aberta 56 ª Legislatura Quórum Qualificado 3ª Sessão Legislativa Ordinária Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2018, nos termos do Parecer (1º Turno) Altera o art. 12 da Constituição Federal, para suprimir a perda de nacionalidade brasileira em razão da mera naturalização, incluir a exceção para situações de apatridia, e acrescentar a possibilidade de a pessoa requerer a perda da própria nacionalidade. Matéria PEC 6/2018 Início Votação 15/06/2021 16:51:35 Término Votação 15/06/2021 17:21:44 Sessão 65º Sessão Deliberativa Remota Data Sessão 15/06/2021 16:00:00 Partido Orientação MDB SIM PSD SIM Podemos SIM PSDB SIM PROGRES SIM DEM SIM PT SIM PL SIM PROS SIM Republica SIM Patriota SIM Minoria SIM Governo SIM Banc Fem SIM Partido UF Nome Senador Voto PDT RO Acir Gurgacz SIM Cidadania SE Alessandro Vieira SIM Podemos PR Alvaro Dias SIM PSD BA Angelo Coronel SIM PSD MG Antonio Anastasia SIM PSD MT Carlos Fávaro SIM PL RJ Carlos Portinho SIM PSD MG Carlos Viana SIM DEM RR Chico Rodrigues SIM PROGRES PI Ciro Nogueira SIM MDB RO Confúcio Moura SIM PROGRES PB Daniella Ribeiro SIM MDB SC Dário Berger SIM DEM AP Davi Alcolumbre SIM Podemos CE Eduardo Girão SIM MDB TO Eduardo Gomes SIM Cidadania MA Eliziane Gama SIM PROGRES PI Elmano Férrer SIM PROGRES SC Esperidião Amin SIM REDE ES Fabiano Contarato SIM Emissão 15/06/2021 17:21:46 Senado Federal Votação Aberta 56ª Legislatura Quórum Qualificado 3ª Sessão Legislativa Ordinária Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2018, nos termos do Parecer (1º Turno) Altera o art. -

Senado Federal Parecer (Sf) Nº 80, De 2017
SENADO FEDERAL PARECER (SF) Nº 80, DE 2017 Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o processo Projeto de Lei do Senado n°160, de 2013, do Senador João Capiberibe, que Prever a destinação de no mínimo cinco por cento dos recursos do Fundo Partidário para promoção da participação política dos afrodescendentes. PRESIDENTE: Senador Edison Lobão RELATOR: Senador Randolfe Rodrigues RELATOR ADHOC: Senador José Pimentel 09 de Agosto de 2017 2 SENADO FEDERAL Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues PARECER Nº , DE 2016 Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, em decisão terminativa, sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 160, de 2013, do Senador João Capiberibe, que prevê a destinação de no mínimo cinco por cento dos recursos do Fundo Partidário para promoção da SF/16213.99686-25 participação política dos afrodescendentes. Relator: Senador RANDOLFE RODRIGUES Relator "Ad hoc": Senador JOSÉ PIMENTEL I – RELATÓRIO Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 160, de 2013, do Senador João Capiberibe, que prevê a destinação de no mínimo cinco por cento dos recursos do Fundo Partidário para promoção da participação política dos afrodescendentes. O projeto é constituído por dois artigos. O art. 1º altera o art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, para determinar que os partidos políticos apliquem recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política dos afrodescendentes, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco por cento do total. -

Requerimento N° 175, De 2019
Atividade Legislativa Requerimento n° 175, de 2019 Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE), Senador Acir Gurgacz (PDT/RO), Senador Angelo Coronel (PSD/BA), Senador Cid Gomes (PDT/CE), Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB), Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA), Senador Elmano Férrer (PODEMOS/PI), Senador Flávio Arns (REDE/PR), Senador Irajá (PSD/TO), Senador Izalci Lucas (PSDB/DF), Senador Jaques Wagner (PT/BA), Senador Jean Paul Prates (PT/RN), Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), Senador Lucas Barreto (PSD/AP), Senador Luiz do Carmo (MDB/GO), Senador Marcelo Castro (MDB/PI), Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR), Senador Paulo Paim (PT/RS), Senador Paulo Rocha (PT/PA), Senador Plínio Valério (PSDB/AM), Senador Rogério Carvalho (PT/SE), Senador Romário (PODEMOS/RJ), Senadora Rose de Freitas (PODEMOS/ES), Senador Telmário Mota (PROS/RR), Senador Vanderlan Cardoso (PP/GO), Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB), Senador Wellington Fagundes (PL/MT), Senador Weverton (PDT/MA), Senadora Zenaide Maia (PROS/RN) Iniciativa: Ementa: Desarquivamento das seguintes proposições: PEC 30/2011; PEC 36/2011; PEC 78/2011; PEC 70/2011; PEC 106/2011; PEC 14/2012; PLS 133/2011; PLS 163/2011; PLS 199/2011; PLS 286/2011; PLS 293/2011; PLS 321/2011; PLS 365/2011; PLS 367/2011; PLS 438/2011; PLS 463/2011; PLS 466/2011; PLS 485/2011; PLS 507/2011; PLS 519/2011; PLS 520/2011; PLS 584/2011; PLS 641/2011; PLS 650/2011; PLS 653/2011; PLS 669/2011; PLS 694/2011; PLS 4/2012; PLS 17/2012; PLS 404/2012; PLS 405/2012; PLS 406/2012; PLS 92/2013; PLS 304/2013; PLS 357/2013; PLS 477/2013; PLS 47/2014; PLS 139/2014; PLS 144/2014; PLS 259/2014; PLS 421/2017; PLS 311/2017; PEC 51/2013; PDS 174/2017; PLS 529/2011; PLC 42/2013; PLC 53/2014 e PLS 158/2016. -

PEDAGOGIA, MATEMÁTICA E ESTÁGIO EM DOCÊNCIA: a Experiência a Partir De Uma Tríade Formativa
Maria do Carmo Alves da Cruz, Neuza Bertoni Pinto e Suzana Andréia Santos Coutinho PEDAGOGIA, MATEMÁTICA E ESTÁGIO EM DOCÊNCIA: a experiência a partir de uma tríade formativa MARIA DO CARMO ALVES DA CRUZ Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Mestra em Educação (UFMA). Doutoranda em Educação em Ciências e Matemática - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática-REAMEC. Licenciada em Pedagogia. Professora do curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Maranhão, pesquisa formação de professores que ensinam Matemática, Estágio em Docência e Ensino de Matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. ORCID: 0000-0002-7928-1284. E-mail: [email protected] NEUZA BERtoni Pinto Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Doutora em Educação (USP). Professora Titular aposentada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professora Colaboradora do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências e Matemática - PPGECEM– REAMEC – UFMT. Vice Presidente e Pesquisadora do Ghemat Brasil e Pesquisadora do Ghemat Paraná. ORCID: 0000-0002-9224-3020. E-mail: [email protected] SUZANA ANDRÉIA Santos COUTINHO Secretaria Municipal de Educação-SEMED de São Luís-MA. Mestra em Educação (UFMA). Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão. Professora da Rede Municipal de Educação de São Luís- MA. ORCID: 0000-0001-8590-0419. E-mail: [email protected] 169 Salvador, v.5, n.2 p.169-191, mai/ago. 2020 Pedagogia, matemática e estágio em docência: a experiência a partir de uma tríade formativa PEDAGOGIA, MATEMÁTICA E ESTÁGIO EM DOCÊNCIA: a experiência a partir de uma tríade formativa A necessidade de pensar o lugar ou o não-lugar reservado à educação matemática, seja nos documentos legais, seja nos currículos, impulsiona cada vez mais pesquisadores a identificarem o porquê das defasagens, considerando que desde os primórdios da humanidade até a modernidade, a matemática é vista, num contexto nacional, como inflexível e causadora de traumas em crianças e adolescentes. -

O Gemge NA FORMAÇÃO DE EPISTEMES DE SUBVERSÃO NO CAMPO EDUCACIONAL 1
O GEMGe NA FORMAÇÃO DE EPISTEMES DE SUBVERSÃO NO CAMPO EDUCACIONAL 1 THE GEMGe IN THE FORMATION OF SUBVERSION EPISTEMS IN THE EDUCATIONAL AREA Raimunda Nonata da Silva Machado 2 Simone Cristina Silva Simões 3 Resumo : A produção científica feminina sobre mulheres, no campo da educação, é uma das políticas e pedagogias do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Educação, Mulheres e Relações de Gênero (GEMGe), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Este artigo propõe refletir sobre a atuação, deste grupo, como espaço propulsor de produção científica feminina. Faz uso de pesquisa bibliográfica e documental para investigar o que tem sido produzido por mulheres, sobretudo, em Dissertações de Mestrado de integrantes do GEMGe. O estudo evidencia a potência do GEMGe na formação de epistemes de subversão, que contribuem na renovação da historiografia da educação maranhense, tendo em vista a ênfase, deste grupo, na análise de processos decoloniais ao destacar as memórias de práticas educativas e saberes escolares protagonizadas por mulheres professoras, a partir de seus lugares de fala (RIBEIRO, 2017; SPIVAK, 2010). Palavras-chave: GEMGe. Episteme de subversão. Mulheres na Educação. Abstract: Female scientific production about women in the education area is one of the policies and pedagogies of the Study and Research Group on Education, Women and Gender Relations (GEMGe), linked to the Graduate Program in Education (PPGE) from the Federal University of Maranhão (UFMA). This article proposes to reflect about the performance of this group as a driving force for female scientific production. It uses bibliographic and documentary research to investigate what has been produced by women, especially in Master's Dissertations by members of the GEMGe. -

Proposta De Emenda À Constituição N° 17, De 2019 (Fase 2)
Atividade Legislativa Proposta de Emenda à Constituição n° 17, de 2019 (fase 2) Autoria: Câmara dos Deputados Iniciativa: Senador Eduardo Gomes (MDB/TO), Senador Angelo Coronel (PSD/BA), Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), Senador Chico Rodrigues (DEM/RR), Senador Eduardo Braga (MDB/AM), Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA), Senador Flávio Arns (REDE/PR), Senador Humberto Costa (PT/PE), Senador Irajá (PSD/TO), Senador Jean Paul Prates (PT/RN), Senador Jorge Kajuru (PSB/GO), Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), Senadora Leila Barros (PSB/DF), Senador Luiz do Carmo (MDB/GO), Senadora Mailza Gomes (PP/AC), Senador Marcos Rogério (DEM/RO), Senador Marcos do Val (CIDADANIA/ES), Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Senador Mecias de Jesus (REPUBLICANOS/RR), Senador Nelsinho Trad (PSD/MS), Senador Paulo Paim (PT/RS), Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG), Senador Rogério Carvalho (PT/SE), Senador Telmário Mota (PROS/RR), Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB), Senador Wellington Fagundes (PL/MT), Senador Weverton (PDT/MA), Senador Zequinha Marinho (PSC/PA) Ementa: Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Assunto: Jurídico - Direitos e Garantias Data de Leitura: 03/09/2021 Em tramitação Decisão: - Último local: 03/09/2021 - Plenário do Senado Federal (Secretaria Legislativa do Senado Federal) Destino: - Último estado: - Relatoria atual: Relator: Senadora Simone Tebet Despacho: Relatoria: 03/09/2021 PLEN - (Plenário do Senado Federal) Decisão da Presidência Relator(es): Senadora Simone Tebet Ao Plenário, nos termos do Ato da Comissão Diretora nº 8, (SF-PLEN) Plenário do Senado Federal TRAMITAÇÃO 03/09/2021 PLEN - Plenário do Senado Federal Ação: Designada Relatora de Plenário a Senadora Simone Tebet. -
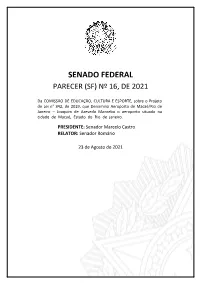
Decisão Da Comissão
SENADO FEDERAL PARECER (SF) Nº 16, DE 2021 Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, sobre o Projeto de Lei n° 342, de 2019, que Denomina Aeroporto de Macaé/Rio de Janeiro – Joaquim de Azevedo Mancebo o aeroporto situado na cidade de Macaé, Estado do Rio de janeiro. PRESIDENTE: Senador Marcelo Castro RELATOR: Senador Romário 23 de Agosto de 2021 2 Gabinete do Sen. Romário (PODEMOS-RJ) PARECER Nº , DE 2020 Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, sobre o Projeto de Lei nº 342, de 2019, da Deputada Soraya Santos, que denomina Aeroporto de SF/20579.50114-31 Macaé/Rio de Janeiro – Joaquim de Azevedo Mancebo o aeroporto situado na cidade de Macaé, Estado do Rio de janeiro. Relator: Senador ROMÁRIO I – RELATÓRIO Vem à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) o Projeto de Lei (PL) nº 342, de 2019, de autoria da Deputada Soraya Santos, que propõe seja denominado Aeroporto de Macaé/Rio de Janeiro – Joaquim de Azevedo Mancebo o aeroporto situado na cidade de Macaé, Estado do Rio de janeiro. A proposição consta de dois dispositivos: o art. 1º confere a referida homenagem e o art. 2º dispõe que a lei proposta entre em vigor na data de sua publicação. Em sua justificação, a autora da matéria destaca que o homenageado foi responsável, na década de 1960, por fazer surgir o campo de pouso que se transformaria no Aeroporto de Macaé́. Na Câmara dos Deputados, o PL nº 342, de 2019, foi aprovado pelas Comissões de Viação e Transportes, de Cultura, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. -

Raio-X Da Escolaridade No Senado
Raio-X da escolaridade no Senado Senador Partido UF Escolaridade Acir Gurgacz PDT RO Administração incompleto Aécio Neves PSDB MG Economia Direito, Ciências Sociais e Economia Política; mestrado em Ciência Política pela Aloizio Nunes Ferreira PSDB MG Universidade de Paris Alvaro Dias PSDB PR História Ana Amélia PP RS Comunicação Social (jornalismo) Ana Rita Esgário PT ES Serviço Social Ângela Portela PT RR Letras Aníbal Diniz PT AC História Antônio Carlos Valadares PSB SE Direito e Química Armando Monteiro PTB BA Direito, com MBAs na área de administração Ataídes Oliveira PSDB TO Direito e Contabilidade Benedito de Lira PP AL Direito Blairo Maggi PR MT Engenheiro Agrônomo Casildo Maldaner PMDB SC Direito Cícero Lucena PSDB PB não tem curso superior (empresário) Ciro Nogueira PP PI Direito Clésio Andrade PR MG Economia, Ciências Econômicas e Administração de Empresas Cristovam Buarque PDT DF Engenharia Mecânica; doutorado em Economia na Universidade de Sorbonne (Paris) Cyro Miranda PSDB GO Administração de Empresas www.congressoemfoco.com.br 1 Senador Partido UF Escolaridade Delcídio Amaral PT MS Engenharia Elétrica Demóstenes Torres DEM GO Direito Eduardo Amorim PSC SE Medicina Eduardo Braga PMDB AM Engenharia Elétrica pós-doutorado em Economia pela Stanford University (EUA) além de mestrado e PhD, Eduardo Suplicy PT SP sempre na área de economia (Michigan State University) Epitácio Cafeteira PTB MA Direito incompleto, tendo exercido também a função de técnico em Contabilidade Eunício Oliveira PMDB CE Administração de Empresas e Ciência -

Recurso (SF) N° 17, De 2019
Atividade Legislativa Recurso (SF) n° 17, de 2019 Autoria: Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG), Senador Chico Rodrigues (DEM/RR), Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), Senador Jayme Campos (DEM/MT), Senador Elmano Férrer (PODEMOS/PI), Senador Marcos Rogério (DEM/RO), Senador Roberto Rocha (PSDB/MA), Senador Wellington Fagundes (PL/MT), Senador Irajá (PSD/TO), Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB) Iniciativa: Ementa: Solicitamos, nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal e do art. 91, § 3º, do Regimento Interno do Senado Federal, que o PL 1540/2019, que altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para permitir o saque do saldo do FGTS para o pagamento de curso de nível superior e de cirurgias essenciais à saúde, deliberado terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, seja apreciado pelo Plenário do Senado Federal. Assunto: - Data de Leitura: 23/08/2019 Tramitação encerrada Decisão: Recebido Último local: 21/08/2019 - Plenário do Senado Federal (Secretaria de Atas e Diários) Destino: - Último estado: 23/08/2019 - TRAMITAÇÃO ENCERRADA TRAMITAÇÃO 23/08/2019 PLEN - Plenário do Senado Federal Situação: TRAMITAÇÃO ENCERRADA Ação: Leitura da matéria na sessão do SF nº144, em 23/08/2019. DOCUMENTOS R.S 17/2019 Data: 23/08/2019 Autor: Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG), Senador Chico Rodrigues (DEM/RR), Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), Senador Jayme Campos (DEM/MT), Senador Elmano Férrer (PODEMOS/PI), Senador Marcos Rogério (DEM/RO), Senador Roberto Rocha (PSDB/MA), Senador Wellington Fagundes (PL/MT), Senador Irajá (PSD/TO), Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB) Local: Plenário do Senado Federal Descrição/Ementa: Solicitamos, nos termos do art. -

Senado Federal Proposta De Emenda À Constituição N° 19, De 2020
SENADO FEDERAL PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 19, DE 2020 Introduz dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de tornar coincidentes os mandatos eletivos. AUTORIA: Senador Wellington Fagundes (PL/MT) (1º signatário), Senador Acir Gurgacz (PDT/RO), Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA), Senador Alvaro Dias (PODEMOS/PR), Senadora Mailza Gomes (PP/AC), Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Senadora Rose de Freitas (PODEMOS/ES), Senadora Zenaide Maia (PROS/RN), Senador Ciro Nogueira (PP/PI), Senador Confúcio Moura (MDB/RO), Senador Eduardo Gomes (MDB/TO), Senador Elmano Férrer (PODEMOS/PI), Senador Irajá (PSD/TO), Senador Izalci Lucas (PSDB/DF), Senador Jayme Campos (DEM/MT), Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), Senador Major Olimpio (PSL/SP), Senador Marcelo Castro (MDB/PI), Senador Mecias de Jesus (REPUBLICANOS/RR), Senador Nelsinho Trad (PSD/MS), Senador Omar Aziz (PSD/AM), Senador Plínio Valério (PSDB/AM), Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG), Senador Romário (PODEMOS/RJ), Senador Sérgio Petecão (PSD/AC), Senador Telmário Mota (PROS/RR), Senador Weverton (PDT/MA), Senador Zequinha Marinho (PSC/PA) Página da matéria Página 1 de 9 Avulso da PEC 19/2020. SENADO FEDERAL Gabinete Senador Wellington Fagundes PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº , DE 2020 Introduz dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de tornar coincidentes os mandatos eletivos. SF/20349.58524-23 As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica acrescido de artigos, com a seguinte redação: “Art. -

SENADO FEDERAL Coordenação De Serviços Gerais - Serviço De Transporte RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DE SENADORES EM ATIVIDADE
SENADO FEDERAL Coordenação de Serviços Gerais - Serviço de Transporte RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DE SENADORES EM ATIVIDADE Modelo Placa Oficial Vinculada Ano Usuário 1 SENTRA 2.0 PBB7630 SF-0001 2017 GAB. SEN. ANTÔNIO ANASTASIA 2 SENTRA 2.0 PBB5176 SF-0002 2017 GAB. SEN. LASIER MARTINS 3 SENTRA 2.0 PBA6474 SF-0003 2017 GAB. SEN. SÉRGIO PETECÃO 4 SENTRA 2.0 PBA6476 SF-0007 2017 GAB. SEN. ALVARO DIAS 5 SENTRA 2.0 PBB8784 SF-0008 2017 GAB. SEN. LEILA BARROS 6 SENTRA 2.0 PBC0008 SF-0009 2017 GAB. SEN. CHICO RODRIGUES 7 SENTRA 2.0 PBA6479 SF-0010 2017 GAB. SEN. JAQUES WAGNER 8 SENTRA 2.0 PBB5181 SF-0011 2017 GAB. SEN. FERNANDO COLLOR 9 SENTRA 2.0 PBB5186 SF-0012 2017 GAB. SEN. ACIR GURGACZ 10 SENTRA 2.0 PBA6473 SF-0013 2017 GAB. SEN. HUMBERTO COSTA 11 SENTRA 2.0 PBA6470 SF-0014 2017 GAB. SEN. ELIZIANE GAMA 12 SENTRA 2.0 PBB5159 SF-0015 2017 GAB. SEN. EDUARDO BRAGA 13 SENTRA 2.0 PBB5171 SF-0016 2017 GAB. SEN. OTTO ALENCAR 14 SENTRA 2.0 PBB8790 SF-0017 2017 GAB. SEN. FLÁVIO BOLSONARO 15 SENTRA 2.0 PBB5187 SF-0018 2017 GAB. SEN. RENAN CALHEIROS 16 SENTRA 2.0 PBC0013 SF-0019 2017 GAB. SEN. TASSO JEREISSATI 17 SENTRA 2.0 PBB9993 SF-0020 2017 GAB. SEN. ZEQUINHA MARINHO 18 SENTRA 2.0 PBB5172 SF-0021 2017 GAB. SEN. WEVERTON DE SOUSA 19 SENTRA 2.0 PBB8783 SF-0022 2017 GAB. SEN. JOSÉ MARANHÃO 20 SENTRA 2.0 PBB9997 SF-0023 2017 GAB. -

Atividade Legislativa Projeto De Lei N° 1136, De 2021
Atividade Legislativa Projeto de Lei n° 1136, de 2021 Iniciativa: Senador Chico Rodrigues (DEM/RR) Ementa: Altera as Leis nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, e nº 14.124, de 10 de março de 2021, para prever a obrigatoriedade de vacinação diária, inclusive aos finais de semana e feriados, como medida excepcional para controle de epidemias e em estado de calamidade pública. Explicação da Ementa: Determina que a vacinação se estenderá aos finais de semana e feriados, em caso de epidemias, calamidades públicas e vacinação contra a covid-19. Assunto: Política Social - Saúde Data de Leitura: 30/03/2021 Tramitação encerrada Decisão: Aprovada pelo Plenário Último local: 27/04/2021 - Secretaria de Expediente Destino: À Câmara dos Deputados Último estado: 29/04/2021 - REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS Matérias Relacionadas: Requerimento nº 1424 de 2021 Despacho: Relatoria: 23/04/2021 PLEN - (Plenário do Senado Federal) Decisão da Presidência Relator(es): Senadora Maria do Carmo Alves (encerrado em 27/04/2021 - Ao Plenário, nos termos do Ato da Comissão Diretora nº 7, Deliberação da matéria) (SF-PLEN) Plenário do Senado Federal TRAMITAÇÃO 29/04/2021 SF-SEXPE - Secretaria de Expediente Situação: REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS Ação: Remetido Ofício SF n º 166, de 29/04/21, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando o projeto para revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Federal. À COARQ. 28/04/2021 SF-SEXPE - Secretaria de Expediente Ação: Anexado o texto revisado. pg 1 Atividade Legislativa Projeto de Lei n° 1136, de 2021 TRAMITAÇÃO 27/04/2021 PLEN - Plenário do Senado Federal Situação: APROVADA Ação: (Sessão Deliberativa Remota realizada em 27/04/2021) Encaminhadas à publicação as Emendas nºs 1 a 17 - PLEN.