Informações E Democracia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
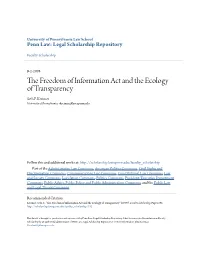
The Freedom of Information Act and the Ecology of Transparency
University of Pennsylvania Law School Penn Law: Legal Scholarship Repository Faculty Scholarship 9-2-2008 The rF eedom of Information Act and the Ecology of Transparency Seth F. Kreimer University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship Part of the Administrative Law Commons, American Politics Commons, Civil Rights and Discrimination Commons, Communications Law Commons, Constitutional Law Commons, Law and Society Commons, Legislation Commons, Politics Commons, President/Executive Department Commons, Public Affairs, Public Policy and Public Administration Commons, and the Public Law and Legal Theory Commons Recommended Citation Kreimer, Seth F., "The rF eedom of Information Act and the Ecology of Transparency" (2008). Faculty Scholarship. Paper 192. http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/192 This Article is brought to you for free and open access by Penn Law: Legal Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Faculty Scholarship by an authorized administrator of Penn Law: Legal Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND THE ECOLOGY OF TRANSPARENCY Seth F. Kreimer∗ TABLE OF CONTENTS I. INTRODUCTION: THE FLAWS OF FOIA? .................................1012 II. THE ECOLOGY OF TRANSPARENCY: FOIA AND CONSTITUTIVE STRUCTURE .................................................1016 A. “If a Policy Falls in the Forest and No Trees Are Killed”: The Creation of Records...............................1017 B. A Machine that Won’t Go Of Itself: FOIA Requesters1020 C. FOIA and Spheres of Public Contention .....................1025 1. Prerequisite Knowledge and Public Contention...1025 a. The Problem of Aladdin’s Lamp and the Status of “Deep Secrets” ................................1025 b. -

The Downing Street Minutes and Deception, Manipulation, Torture, Retribution, and Coverups in the Iraq War
The Constitution in Crisis: The Downing Street Minutes and Deception, Manipulation, Torture, Retribution, and Coverups in the Iraq War Chapter 1. Executive Summary ..............................................3 Chapter 2. Chronology: Last Throes of Credibility ..............................7 Chapter 3. Detailed Factual Findings .........................................17 A. Determination to go to War Before Congressional Authorization ...........17 1. Avenging the Father and Working With the Neo-Cons ..............18 2. September 11 and its Aftermath: Beating the Drums for War ........20 3. The Downing Street Minutes and Documentary Evidence of an Agreement to go to War ...............................................27 a. Description and Analysis of Various Downing Street Minutes Materials ...........................................28 b. Confirmation and Corroboration of Downing Street Minutes Materials ...........................................34 4. Manipulating Public Opinion ..................................38 5. Using the United Nations as a Pretext for War ....................45 B. Misstating and Manipulating the Intelligence to Justify Pre-emptive War .....53 1. Links to September 11 and al Qaeda ............................59 2. Resumed Efforts to Acquire Nuclear Weapons ....................68 3. Aluminum Tubes ...........................................73 4. Acquisition of Uranium from Niger .............................81 5. Chemical and Biological Weapons .............................88 C. Encouraging and Countenancing Torture -

CIA Aircraft Shell Companies; FAA Notices 119,000 Unregistered
CIA Aircraft Shell Companies; FAA notices 119,000 unregistered aircraft for epic drugflight lols; Afghan drug informant/patsy blamed; Evergreen Dispersant Chemtrails; DEA rents plane from drug traffickers for total win in Fake War on Drugs Submitted by HongPong on Mon, 2010-12-13 09:03 via Evergreen B747 Supertanker™ : The World’s Fastest, Largest Aerial Firefighting And Multi-Use Application Vehicle Going back to 2005:C.I.A. Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights - New York Times While posing as a private charter outfit - "aircraft rental with pilot" is the listing in Dun and Bradstreet - Aero Contractors is in fact a major domestic hub of the Central Intelligence Agency's secret air service. The company was founded in 1979 by a legendary C.I.A. officer and chief pilot for Air America, the agency's Vietnam-era air company, and it appears to be controlled by the agency, according to former employees. Behind a surprisingly thin cover of rural hideaways, front companies and shell corporations that share officers who appear to exist only on paper, the C.I.A. has rapidly expanded its air operations since 2001 as it has pursued and questioned terrorism suspects around the world. An analysis of thousands of flight records, aircraft registrations and corporate documents, as well as interviews with former C.I.A. officers and pilots, show that the agency owns at least 26 planes, 10 of them purchased since 2001. The agency has concealed its ownership behind a web of seven shell corporations that appear to have no employees and no function apart from owning the aircraft. -

Congressional Record—House H5192
H5192 CONGRESSIONAL RECORD — HOUSE June 10, 2008 and the energy industry for these kinds But when those people respond, they drive three times a week 30 miles each of problems. say, ‘‘If you would just do the things way to get dialysis so that I can be I just want to conclude quickly with we have asked you to do year after treated for diabetes.’’ He said, ‘‘Con- a story. I do represent a district that is year after year, we could solve this gressman, I am down to the point now one of the top 20 energy producers in problem.’’ of having to choose whether I can af- the United States, so we are more than So I am sorry I went on. You have ford dialysis, afford gasoline, or afford doing our part. I convened about a year been very generous with your time, and food.’’ ago, actually before this extraordinary I appreciate that very much. But it is Madam Speaker, it is time to say rise in prices, a group of independent a frustrating problem when the solu- yes. We have heard you say no; no to energy people that have spent a life- tions are sitting here waiting to be new drilling, no to building additional time trying to provide energy to this acted upon by this House and none of power plants in this country; no to new country. them are being dealt with at all. refineries. America is wanting you to I asked them, ‘‘Give me your sugges- Mr. WALBERG. I thank you for shar- say yes, because America is tired of tions. -

GRAHAM Well, Thank You Very Much. I'm Looking Forward to This Conversation
GRAHAM Well, thank you very much. I'm looking forward to this conversation. JON Excellent. OK, I'm going to read your bio for everyone. Senator Bob Graham is the former two-term governor of Florida and served for 18 years in the United States Senate. This, combined with 12 years in the Florida legislature, for a total of 38 years of public service. As governor and Senator, Bob Graham was a centrist committed to bringing his colleagues together behind programs that serve the broadest public interest. He was recognized by the people of Florida when he received an 83 percent approval ranking as he concluded eight years as Governor. Bob Graham retired from public service in January 2005, following his Presidential campaign in 2003. He has written four books, including a nonfiction book Intelligence Matters, a novel Keys to the Kingdom, drawing on his experiences as chair of the Senate Intelligence Committee, and America the Owner's Manual: A Guide to Effective Citizenship, written while he was a senior fellow at the Harvard Kennedy School of Government. Since leaving the Senate in 2005, Graham has been chair of the Congressional Commission on the Prevention of Weapons of Mass Destruction, a member of the Congressional Financial Crisis Inquiry Commission, and co-chair of the Presidential Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill. A Phi Beta Kappa graduate of the University of Florida and Harvard Law School, he established the Center for Public Service at the University of Florida to enhance civic engagement and prepare the next generation of public and civic leaders. -

35 Articles of Impeachment.” — Vincent Bugliosi, Former District Attorney, Author of the Prosecution of George W
More than two centuries ago, the Founders of this country set forth a pro- cedure for Congress to follow in the event of grave abuse of power by the Chief Executive. That process is impeachment. In the face of the monumental deceit and disregard for the Constitution that we have witnessed on the part of the President over the past seven years, Congressman Kucinich’s initiation of this process is neither fanciful nor futile, neither vengeful nor vindictive; it is the sober fulfillment of his sworn duty as a Congressman to follow the law without regard to personal consequence and misguided political stratagem. It is, quite simply, an act of patriotism. —Elizabeth de la Vega, Former Federal Prosecutor and author of United States v. George W. Bush et. al. H This collection of impeachable offenses should be viewed as a sampling of the crimes and abuses of President George W. Bush and his subordinates. Bush has had many accomplices — first and foremost Vice President Cheney. But our Founders created a single executive precisely so that we could hold that one per- son accountable for the actions of the executive branch. It is high time we did so, and millions of Americans will be urging their representatives to support the effort being led by Congressman Kucinich. These articles establish, and hearings would establish further, that President Bush was ‘the decider’ behind countless abuses of power. And, of course, his public comments have time and again advertised his indifference to the laws he is violating. Not only does overwhelming evidence show us that Bush knew his claims about WMDs to be false, but the president has shown us that he consid- ers the question of truth or falsehood to be laughably irrelevant. -

Dennis J. Kucinich of Ohio in the United States House of Representatives Monday, June 9Th, 2008 a Resolution
Dennis J. Kucinich of Ohio In the United States House of Representatives Monday, June 9th, 2008 A Resolution INDEX Article I Creating a Secret Propaganda Campaign to Manufacture a False Case for War Against Iraq. Article II Falsely, Systematically, and with Criminal Intent Conflating the Attacks of September 11, 2001, With Misrepresentation of Iraq as a Security Threat as Part of Fraudulent Justification for a War of Aggression. Article III Misleading the American People and Members of Congress to Believe Iraq Possessed Weapons of Mass Destruction, to Manufacture a False Case for War. Article IV Misleading the American People and Members of Congress to Believe Iraq Posed an Imminent Threat to the United States. Article V Illegally Misspending Funds to Secretly Begin a War of Aggression. Article VI Invading Iraq in Violation of the Requirements of HJRes114. Article VII Invading Iraq Absent a Declaration of War. Article VIII Invading Iraq, A Sovereign Nation, in Violation of the UN Charter. Article IX Failing to Provide Troops With Body Armor and Vehicle Armor Article X Falsifying Accounts of US Troop Deaths and Injuries for Political Purposes Article XI Establishment of Permanent U.S. Military Bases in Iraq Article XII Initiating a War Against Iraq for Control of That Nation's Natural Resources Article XIIII Creating a Secret Task Force to Develop Energy and Military Policies With Respect to Iraq and Other Countries Article XIV Misprision of a Felony, Misuse and Exposure of Classified Information And Obstruction of Justice in the Matter of Valerie Plame Wilson, Clandestine Agent of the Central Intelligence Agency Article XV Providing Immunity from Prosecution for Criminal Contractors in Iraq Article XVI Reckless Misspending and Waste of U.S.