Educacional Brasileira
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

JORNAL BARBACENA OFICIAL 313.P65
1 01 de Novembro de 2006 - Ano XIV - Nº 313 - 042/2006 Barbacena/MG - 01 de Novembro de 2006 - Ano XIV - Nº 313 - 042/2006 - Distribuição Gratuita Dia do funcionalismo é destacado pelo Governo Municipal “As ações do governo se concretizam com o fundamental desempenho do funcionalismo municipal, que teve a sua alta estima resgatada, e é um grande parceiro na construção de uma nova Barbacena, afirmou o prefeito Martim Andrada, no dia 27, durante pronunciamento dentro das comemorações do Dia do Funcionário Público. PÁGINA 3 Barbacena comemora Polícia Militar forma 1.400 centenário do vôo do 14 Bis soldados em No último dia 27, a Empresa todo o Estado Brasileira de Correios e Telé- A Polícia Militar de Minas Ge- grafos, em parceria com a rais entregou mais de 1400 novos Escola Preparatória de Cadetes soldados para a sociedade minei- do Ar, lançou o selo comemo- ra na última sexta-feira, 27, em rativo em homenagem ao todo o Estado. Em Barbacena, 92 centenário do vôo do 14 Bis, em formandos participaram da sole- que o artista João Guilherme nidade de formatura do Curso Técnico em Segurança Pública, retrata o vôo projetado por ministrado em Barbacena. Santos Dumont. Além do selo, PÁGINA 7 foi lançado também um carim- bo e uma série de cartões pos- tais, dentro das comemorações da semana da asa em Barba- cena. PÁGINA 2 Rita Cobucci, Salvador Justen e Marilda Mafra Tim ArtEducAção Premiados Dia Nacional Mostra artística vencedores de do Livro foi concursos comemorado 2006 será dia 7 literários no Caic Coronel Hudson Ferreira e o Coronel José PÁGINA 5 PÁGINA 9 PÁGINA 11 Eduardo da Silva 2 01 de Novembro de 2006 - Ano XIV - Nº 313 - 042/2006 Barbacena comemora centenário do vôo do 14 Bis Correios em parceria com a Epcar lança selo em homenagem Divulgação No último dia 27, a Empresa Correios, no edifício-sede de Brasileira de Correios e Telé- Brasília. -

JORNAL BARBACENA OFICIAL 265.P65
1 16 de Novembro de 2005 - Ano XIII - Nº 265 - 038/2005 Barbacena/ MG - 16 de Novembro de 2005 - Ano XIII - Nº 265 - 038/2005 - Distribuição Gratuita 2 16 de Novembro de 2005 - Ano XIII - Nº 265 - 038/2005 Fundac lança livro sobre Correia de Almeida Obra reúne textos de vários autores sobre o poeta satírico que retratou Barbacena no século XIX Fotos: Divulgação Q SÉRGIO AYRES Será no dia 22, terça-feira, Leia poema de Correia de Almeida o lançamento do livro “Correia de Almeida”, publicado pela Trocadilho Fundação Municipal de Cultura de Barbacena em comemo- Uma rua na alegre Barbacena ração ao centenário de fale- Chama-se Pau de Barbas, cimento de um dos poetas E a origem deste nome satíricos mais importantes da É secular, gigante, excelso tronco literatura brasileira, o barba- cenense Padre-Mestre José De uma árvore crínita, Joaquim Correia de Almeida Que tem pendente a barba veneranda, (1820-1905). O evento será Qual ancião maduro realizado no Centro Ferroviário Curvado ao peso dos anos que passaram. de Cultura – Cefec, com início programado para às 19h30. A organizadora da obra é a Resiste ao tempo professora Zenaide Vieira Maia, Tão firme e quedo presidente da Fundac. Como se fora Segundo Zenaide Maia, a Duro rochedo. seleção dos autores da coletânea aconteceu esponta- neamente. “Espera-se que esta Mas quando sopra seleção de estudos almeidianos A brisa amena, suscite novas pesquisas acerca Move-se a barba, da poesia satírica de Padre- A barba acena. Mestre Correia de Almeida e da história de Barbacena, no Acima, busto reformado do século XIX, para enriquecer a Padre Mestre Correia de Almeida cultura mineira”, disse a pre- Ao lado, Zenaide Maia, presidente da Fundac sidente da Fundac. -

Ordem Do Mérito Aeronáutico Relação De Agraciados
ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO RELAÇÃO DE AGRACIADOS (Atualizada até novembro de 2015) QUALIFICAÇÃO NOME GRAU DECRETO PORTARIA SO QSS BET Abcélvio Rodrigues Cavaleiro 17/10/2002 Gen Ex Abdias da Costa Ramos Grande-Oficial 23/09/1993 Gen Div Abdon Sena Grande-Oficial 29/09/1971 Maj Av Abdon Vargas Soto Oficial 13/03/1950 Senhor Abel da Costa Vale Neto Cavaleiro 2.753/MD 22/10/14 Cel Ex Abel Machado Oficial 25/09/1981 Senhor Abel Pereira Leite Cavaleiro 17/09/1980 Ten Cel Av Abel Romero Oficial 30/10/1950 1º Ten Av Abelardo de Almeida e Albuquerque Cavaleiro 22/10/1948 General-de-Brigada Abelardo Prisco de Souza Júnior Comendador 06/09/2004 CMG Abelardo Romano Milanez Oficial 17/10/1966 Superintendente da INFRAERO (RJ) Abibe Ferreira Junior Oficial 2.818/MD 22/10/12 Engenheiro Abilio Augusto Real Biato Cavaleiro 2.267/MD 21/10/2015 Senhor Abílio José Mendes Gomes Cavaleiro 21/10/2011 Senhor Abílio Ribeiro de Oliveira Oficial 20/09/2006 Doutor Abner Brígido Costa Grande-Oficial 17/09/1980 Coronel-de-Engenharia Abner Gonçalves de Magalhães Oficial 21/10/2011 Cel Av Abner Medeiros Correia Oficial 26/09/2001 Comandante Abraham Namihas Marin Oficial 17/10/1983 Astrónomo Abrahão de Moraes Grande-Oficial 07/10/1968 SO QSS BEV Abrahão Nascimento dos Santos Cavaleiro 26/09/2001 Senhor Abram Szajman Grande-Oficial 26/09/2000 Senhor Achiles Hipólyto Garcia Comendador 13/10/1969 Gen Bda Achilles Furlan Neto Comendador 20/10/2015 Gen Div (Med) Achilles Paulo Galloti Grande-Oficial 17/10/1960 Senhor Acir Luiz de Almeida Padilha Cavaleiro 25/09/1979 Senador -

Companhia Editora Nacional Vultos Do Imperio
COMPANHIA EDITORA NACIONAL VULTOS DO IMPERIO HELIO VIANNA brasiliana volume JJ9 ,, VULTOS DO IMPERIO BRASILIANA Volume JJ9 Direçao de AMÉRIOO JACOBINA LACOMBE • - HELIO VIANNA Professor catedrdtico de História do Brasil do Instituto de Filosofia e CUncias Sociais da Universidade Federal do R io de Janeiro , VULTOS DO IMPERIO • }.., ~ (J\Q, ~~ COMPANHIA EDITORA NACIONAL {!) ~ SÃO PAULO ');,~ ~- Na capa d~ste livro reproduz-se a, cabeça • de Francisco Gê Acaiaba de Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, como apare ceu na litografia de Sisson, mencionada por Machado de AMis, na crónica sóbre "O Velho Senado" (d. pág. 104 do texto). - ,e C) ..J U,: 1V l~ ~ iLI.: ut tn.l 8R l •J ,c t-1: SltÇÃO AEGISTftO o ... .., la l!e •-· aNo.J.!ML Nº IH~ Exemplar N~ O2 41 ., -· ·-t.J oo~.0 ~ 'vv - ~1\ t·3 J l(q ( )A .\!,"'·--o.e. .. ~ ~ - Dirâtos desta ediçllo reservados d COMPANHIA EDITORA NACIONAL Rua dos Guamões, 659 - São Paulo 2, SP 19t58 Impr11sso no Brasil SUMÁRIO EXPLICAÇÃO ......•..•..• , . ........• . •... ... , . XI 1. Antroponlmia Patriótica da lndependlncia (1822/1824) . 1 No Apostolado carioca de 1822/182!1, 1 - Na Bahia guerreira de 1823, 2 - Em Pernambuco e Ceará revolucionários de 1824, 5 2. O "Cabugá", de Revolucionário a Diplomata (1817/18!1!1) . 6 I - Hipólito da Costa e o "Cabugá", 6 - O "Cabugá", 7 - O "Cabugá" e Hipólito, 8 - Extinção do Correio Brasiliense, 9 II - O "Cabugá" na Revolução de 1817, 10 - Instruções de Do· mingos José Martins, li - O corsário " Pini,ü!m", )2. - .Carta de Manuel de Carvalho Pais de Andrade, 14 .• . III - O "Cabugá" e a Independência, 15 - O "Cal,úgr• .e o Morgado do Cabo, 16 - O "Cabugá" e Francisco Antôni~_ea, 17 - O "Cabugá" e o chefe da Confederação do Equador, f1 - IV - Cartas Pernambucanas ao "Cabugá",.19 - .Ot ~ ôhsul norte-americano Ray, 20 - Pernambuco político -em·. -

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - PONTOS DE VENDA ZONA AZUL DIGITAL - Atualizado Em 20/04/2018
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - PONTOS DE VENDA ZONA AZUL DIGITAL - Atualizado em 20/04/2018 Localização do Ponto de Venda Tipo de Logradouro Número Complemento Bairro Nome do Estabelecimento Tipo 11 DE AGOSTO RUA 64 CENTRO ASE TELECOMUNICACOES E SERVICOS Revendedor 12 DE OUTUBRO RUA 712 LAPA CICERO ROSENDO DOS ANJOS Revendedor 12 DE OUTUBRO RUA 158 LAPA BB CELL Revendedor 12 DE OUTUBRO RUA 325 LAPA ONLINE CELULARES Revendedor 12 DE OUTUBRO RUA 325 LAPA TELE CELL ASSISTENCIA TECNICA Revendedor 12 DE OUTUBRO RUA 158 LAPA BBB Revendedor 12 DE OUTUBRO RUA 532 LADO PAR LAPA ISAAC DA SILVA CUSTODIO Monitor 13 DE MAIO LARGO 300 SANTO AMARO ELIZA E HELIO Revendedor 13 DE MAIO RUA 1504 A BELA VISTA JANIO APARECIDO DA SILVA PEREIRA Revendedor 13 DE MAIO RUA S/Nº ENTRE 1149 E 1150 BELA VISTA EGILSON TEIXEIRA LIMA - BANCA 13 DE MAIO Revendedor 14 BIS PRAÇA 100 BELA VISTA BANCA ROSA DE SARON Revendedor 14 BIS PRAÇA S/Nº EM FRENTE AO NUMERO 100 BELA VISTA BANCA ROSA DE SARON Revendedor 14 DE OUTUBRO RUA 158 VILA NHOCUME BAZAR PIETRO Revendedor 20 DE JANEIRO PRAÇA 0 TATUAPE EDNA BRITO SOUZA Revendedor 24 DE MAIO RUA 57 BOX 8 REPUBLICA AUSTINET Revendedor 25 DE MARCO RUA 1220 CENTRO AE CAVALCANTE MOTO FRETE Monitor 25 DE MARCO RUA 1277 CENTRO ELIETE DIAS DOS SANTOS Monitor 25 DE MARCO RUA 521 CENTRO BANCA 25 DE MARCO Revendedor 25 DE MARCO RUA 316 BOX 04 CENTRO MEDCELL Revendedor 25 DE MARCO RUA 1000 CENTRO FLAVIO ADRIANO RODRIGUES Monitor 25 DE MARCO RUA 58 CENTRO GIBERTO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA Monitor 25 DE MARCO RUA 521 CENTRO ROBERTO RODRIGUES -
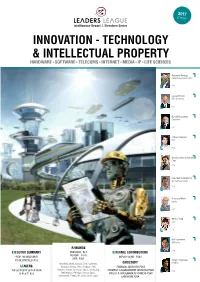
Innovation - Technology & Intellectual Property Hardware • Software • Telecoms • Internet • Media • Ip • Life Sciences
2017 EDITION INNOVATION - TECHNOLOGY & INTELLECTUAL PROPERTY HARDWARE • SOFTWARE • TELECOMS • INTERNET • MEDIA • IP • LIFE SCIENCES Alexander Ramsay Unified Patent Court (UPC) P. 31 Joseph Ferretti INTA & PepsiCo P. 32 Donald Rosenberg Qualcomm P. 37 Thibaud Simphal Uber P. 39 Osvaldo Bruno Cavalcante Caxia P. 54 Jean-Michel Malbrancq GE Healthcare Europe P. 52 Francisco Marín Eureka P. 57 Melissa Yang Tujia P. 47 Karl Iagnemma Nutonomy RANKINGS P. 48 EXECUTIVE SUMMARY AMERICAS P.61 EXTERNAL CONTRIBUTORS FROM THE WILD WEST EUROPE P.140 EXPERT VIEWS P.248 ASIA P.231 TO WESTWORLD P.10 Shigeru Miyamoto Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, DIRECTORY Nintendo LEADERS Ecuador, Mexico, Peru, Uruguay, USA, FINANCIAL ADVISORS P.265 THE 50 PEOPLE OF THE YEAR Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, STRATEGY & MANAGEMENT ADVISORS P.267 P. 38 IN IP & IT P.28 Netherlands, Portugal, Russia, Spain, PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS P.269 Switzerland, Turkey, UK, China, India, Japan LAW FIRMS P.284 JANUARY 25TH, 2018 PARIS - FRANCE Meet, learn & celebrate the best IP & IT professionals, with unique, international awards ceremony, one to one meetings and conferences. 500 HIGH LEVEL ATTENDEES INCLUDING IP DIRECTORS, GENERAL COUNSEL, IP ADVISORS (LAWYERS AND AGENTS) IN-HOUSE AND IT IN-HOUSE LAWYERS EXPECTED SPEAKERS FOR 2018 METTE ANDERSEN, HEAD OF IP, LEGO JEAN-MARC BRUNEL, IP DIRECTOR, SNECMA GROUPE SAFRAN PHILIPPE CASSAGNE, VP IP & LICENSING, GEMALTO DELPHINE DE CHALVRON, GENERAL COUNSEL IP, L’OREAL CHARLOTTA LJUNGDAHL, GROUP IP DIRECTOR, AIR LIQUIDE PHILIPPE LUCET, VP GENERAL COUNSEL R&D AND IP, NESTLE CONTACTS US www.innovation-ip-forum.com INFORMATION & REGISTRATION Justine Testard [email protected] +33 1 45 02 25 88 EDITO JANDIRA SALGADO JEANNE YIZHEN YIN EXECUTIVE EDITOR MANAGING EDITOR & CO-HEAD OF AMERICAS THE FUTURE IS NOW “We are called to be the architects of the future, not its victims.” - Robert Buckminster Fuller A new era that isn’t really new at all New York, May 3rd 1997. -

The Body of the Nation: Government Positions on Physical Education
The body of the nation The body of the nation: MELO, Victor Andrade de; PERES, government positions on Fabio de Faria. The body of the nation: government positions on physical physical education during education during the Brazilian monarchy. História, Ciências, Saúde – the Brazilian monarchy Manguinhos, Rio de Janeiro, v.21, n.4, out.-dez. 2014. Available at: http://www. scielo.br/hcsm. Abstract In association with its nation building projects, the imperial government in Brazil under monarchic rule took some concrete actions based on proposals for physical education. The aim of this article is to investigate the meanings and significations attributed to this subject in the legislation and the annual reports issued by the Ministry of Business of the Empire (1831-1889), giving special attention to Rio de Janeiro. The approach to the subject in the sources researched demonstrates that the views of physical education took shape through a web of ideas that associated moral, health and civilization conceptions, in a bid to deal with the concrete circumstances of a newly independent peripheral nation Victor Andrade de Melo with a bureaucratic structure in the Professor, Instituto de História/Universidade Federal do Rio de Janeiro. process of formation. Largo de São Francisco, 1, sala 311 200051-070 – Rio de Janeiro – RJ – Brazil Keywords: physical education; gymnastics; Brazilian monarchy. [email protected] Fabio de Faria Peres Professor, Instituto de História/Universidade Federal do Rio de Janeiro. Largo de São Francisco, 1, sala 311 200051-070 – Rio de Janeiro – RJ – Brazil [email protected] Received for publication in December 2012. -

Bibliografia
BIBLIOGRAFIA ÍNDICE ONOMÁSTICO À OBRA DE JOSÉ MARIA DOS SANTOS: — "OS REPUBLICANOS PAULISTAS E A ABOLIÇÃO" (*). HANS JÜRGEN WILHELM HORCH Ao fazer o levantamento bibliográfico das fontes necessárias a nossa defesa de tese sôbre Castro Alves e sua poesia abolicionista, realizada em Hamburgo (Alemanha), deparamo-nos com uma obra, que se nos afigurava bastante interessante, para o estudo do ambien- te na época, principalmente em relação aos ideais esposados por Cas- tro Alves . Trata-se de Os Republicanos Paulistas e a Abolição da autoria de José Maria dos Santos . As obras dêste autor são assás conhecidas para se fazer algum comentário a respeito . Em se tratando da obra acima citada, só lhe faltava um instru- mento que a completasse e lhe facilitasse a consulta: um índice ono- mástico . É o que aquí fizemos . Inicialmente para o nosso uso par- ticular, o ampliamos, dando, quando achamos algum detalhe escla- recedor, alguma notícia a mais . Os nomes que se encontram assinalados por (*), referem-se àquelas pessoas que assinaram o "Termo de compromisso e adhesão" aos ideais republicanos e datados de 20 de setembro e 27 de outubro de 1877. * • * A ABAETÉ, Antonio Paulino Limpo de Abreu, visconde de, 1798-1883. 37, 39, 50n. ABRANCHES — vide também marquês de Abrantes — 282. ABRANTES, Miguel Calmon du Pin e Almeida, marquês de, 1796-1865. 11. ABREU, Antonio Paulino Limpo de vide — Abaete, Antonio Paulino Limpo de Abreu, visconde de, 1798-1883. ABREU, Florencio Carlos de Abreu e Silva, 1839-1881. — (senador em 1880) — 129. ABREU, Henrique Limpo de, 1839-1831. 33, 51, 60, 61, 70, 160n. -

Nelson Rodrigues
NELSON RODRIGUES À SOMBRA DAS CHUTEIRAS IMORTAIS Crônicas de futebol Seleção e notas: RUY CASTRO 3ª reimpressão COLEÇÃO DAS OBRAS DE NELSON RODRIGUES Coordenação de Ruy Castro 1. O casamento (romance) 2. A vida como ela é... O homem fiel e outros contos 3. O óbvio ululante: Primeiras confissões (crônicas) 4. À sombra das chuteiras imortais (crônicas de futebol) A edição das obras de Nelson Rodrigues conta com o apoio da Unicamp http://groups.google.com/group/digitalsource Copyright © 1993 by Espólio de Nelson Falcão Rodrigues Copyright de “Personagens para a eternidade” © 1993 by Ruy Castro Capa: João Baptista da Costa Aguiar sobre foto de Rodolpho Machado/ Abril Imagens Preparação: Marcos Luiz Fernandes Índice remissivo: Sérgio Pereira de Almeida Revisão: Lucíola S. de Morais Agradecemos a Christina Konder e a Maria Célia Fraga, do Departamento de Pesquisa de O Globo, e a Augusto Falcão Rodrigues pelo auxílio na reunião do material que resultou neste livro Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP ) (Câmara Brasileira do Livro, SP , Brasil) Rodrigues, Nelson, 1912-1980. À sombra das chuteiras imortais : crônicas de futebol / Nelson Rodrigues ; seleção e notas Ruy Castro. — São Paulo : Companhia das Letras, 1993. ISBN 85-7164-320-2 1. Crônicas brasileiras \. Castro, Ruy, 1948 — II . Título. 93-1175 CDD -869.935 Índices para catálogo sistemático: 1. Crônicas : Século 20 : Literatura brasileira 869.935 2. Século 20 : Crônicas : Literatura brasileira 869.935 1993 Todos os direitos desta edição reservados à EDITORA SCHWARCZ LTDA. Rua Tupi, 522 01233-000 — São Paulo — SP Telefone: (011) 826-1822 Fax: (011)826-5523 CCCCOOONNNTTTRRRAAA CCCCAAAPPPAAA Do brasileiro vira-lata ao brasileiro orgulhoso de ser brasileiro — esta é a trajetória contada por Nelson Rodrigues nas setenta crônicas de À sombra das chuteiras imortais. -

José Da Silva Lisboa, José Bonifácio and Martim Francisco
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782017227150 José da Silva Lisboa, José Bonifácio e Martim Francisco: discussões sobre educação no Império do Brasil DALVIT GREINER DE PAULA Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil VERA LÚCIA NOGUEIRA Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil RESUMO O objetivo deste artigo é destacar alguns elementos do debate sobre a educação bra- sileira no início do Império do Brasil (1822-1827), identificando princípios e valores do Liberalismo aplicados à instrução pública. Para isso, analisamos o pensamento de Silva Lisboa e dos irmãos Martim Francisco e José Bonifácio. Usamos jornais, panfletos e Anais da Constituinte de 1823, bem comoMemórias de Martim Francisco, perpassando as obras Constituição Moral e Deveres do Cidadão, de Silva Lisboa, e Projetos para o Brasil, de José Bonifácio. Para a interpretação dos dados, nos inspi- ramos na História Cultural, como sugerido por Roger Chartier. Assim, percebemos os conceitos caros ao Liberalismo, liberdade e felicidade, bem como a necessidade de um sistema educacional que mobilizasse o Estado na construção e na instrução da nação. Dessa maneira, apesar de concepções diferentes, os três terminavam por enxergar a necessidade da educação para a nova nação. PALAVRAS-CHAVE Liberalismo; educação; Visconde de Cairu; Irmãos Andrada; Brasil. Revista Brasileira de Educação v. 22 n. 71 e227150 2017 1 Dalvit Greiner de Paula e Vera Lúcia Nogueira JOSÉ DA SILVA LISBOA, JOSÉ BONIFÁCIO AND MARTIM FRANCISCO: DISCUSSIONS ABOUT EDUCATION IN THE EMPIRE OF BRAZIL ABSTRACT The purpose of this article is to accentuate some of the main elements of the debate about Brazilian education at the beginning of the Brazil Empire (1822-1827), identifying the principles and values of Liberalism applied to public education. -

JORNAL BARBACENA OFICIAL 283.P65
1 05 de Abril de 2006 - Ano XIV - Nº 283 - 012/2006 Barbacena/MG - 05 de Abril de 2006 - Ano XIV - Nº 283 - 012/2006 - Distribuição Gratuita Martim concorre ao Barbacena é referência Prêmio Prefeito nacional em saúde mental Empreendedor Na próxima segunda-feira, dia 10, Cidade inaugura Núcleo de Apoio à Desinstitucionalização (NUDES) com êxito obtido na o prefeito Martim Andrada concorre à criação das residências terapêuticas reconhecido pelo Ministério da Saúde. Página 2 etapa estadual do Prêmio Prefeito Empreendedor 2005, oferecido pelo Sebrae para prefeitos que se destacam no estímulo aos pequenos negócios, Olegário Maciel com impacto no desenvolvimento eco- nômico e social das cidades. Os ven- ganha nova cedores da etapa regional concorrem em âmbito nacional, sendo que este ano os primeiros em cinco categorias galeria pluvial pré-estabelecidas são premiados. A Em um trabalho do Governo Municipal, final será em Brasília, no dia 25 de abril. através da Secretaria de Infra-estrutura e Página 3 Política Urbana, a galeria de captação de águas fluviais foi completamente moder- nizada no cruzamento da Olegário Maciel Produção de flores com Santos Dumont. Os antigos tubos de 30 milímetros de diâmetro foram substi- na região tem tuídos por outros, com o dobro do diâmetro. selo de origem Assim, fica bem mais difícil a possibilidade de obstrução dos tubos e de alagamento Governar em parceria é a principal na região, fatos comuns principalmente na marca da administração Martim An- época de chuvas. O trecho também ganhou drada, que, em seu primeiro ano à recapeamento asfáltico e modernas bocas- Um grande público presenciou a inauguração do NUDES em Barbacena frente do Executivo Municipal, já imple- de-lobo, em lugar das antigas caixas co- mentou vários convênios e colheu bons letoras de trilho. -

Secretaria Municipal De Administração
Diário Oficial de Contagem - Edição 4734 Contagem, 3 de janeiro de 2020 Página 1 de 102 Diário Ofi cial de Contagem-Ano 27 Edição 4734 Contagem, 3 de janeiro de 2020 Página 1 de 102 Secretaria Municipal de Administração PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONCORRÊNCIA Nº 004/2019 A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, a nova data para abertura da licitação na modalidade concorrência nº 004/2019, processo administrativo nº 050/2019, tipo menor preço, para contratação de empresa especializada para o fornecimento, preparo e distribuição da merenda escolar aos comensais da Rede Municipal de Ensino e da Fundação de Ensino de Contagem, pelo prazo de 12 (doze) meses, com entrega dos envelopes de documenta- ção e proposta até as 08h30min. do dia 06 de fevereiro de 2020, com abertura marcada para as 09h00min do mesmo dia. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e seus anexos, que estarão disponíveis a partir de 06/01/2020, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada a Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves- Contagem /MG, telefone (0**31) 3352-5138, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00min às 12h00min e de 13h00min. às 17h00min., mediante apresentação de PENDRIVE à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, e ainda, OBRIGA- TORIAMENTE informar por meio de carta, os seguintes dados: razão social, CNPJ/MF, endereço completo, telefone e nome da pessoa para contato, ou através do site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. Contagem, 03 de janeiro de 2020 -Comissão Permanente de Licitações Secretaria Municipal de Saúde EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇAO Nº 013/2019 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/SMS e A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS).