Crescimento Inicial De Dimorphandra Wilsonii (Fabaceae
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tese 9991 Dissertação Final Adelson Lemes Junior.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E MELHORAMENTO ADELSON LEMES DA SILVA JÚNIOR DIVERSIDADE GENÉTICA DE Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex. Ducke) Barneby, EM ÁREA DE PLANTIO NO ESPÍRITO SANTO ALEGRE, ES AGOSTO - 2016 ADELSON LEMES DA SILVA JÚNIOR DIVERSIDADE GENÉTICA DE Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex. Ducke) Barneby, EM ÁREA DE PLANTIO NO ESPÍRITO SANTO Dissertação apresentada à Universidade Federal do Espírito Santo como requisito do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, para obtenção do título de Mestre em Genética e Melhoramento. Orientador: Prof. Dr. Marcos Vinicius Winckler Caldeira Coorientador: Prof. Dr. Fábio Demolinari de Miranda ALEGRE, ES AGOSTO - 2016 Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP) (Biblioteca Setorial de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil) Silva Júnior, Adelson Lemes da, 1992- S586d Diversidade genética de Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex. Ducke) Barneby, em área de plantio no Espírito Santo / Adelson Lemes da Silva Júnior. – 2016. 84 f. : il. Orientador: Marcos Vinicius Winckler Caldeira. Coorientador: Fábio Demolinari de Miranda. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Agrárias e Engenharias. 1. Paricá. 2. Marcador molecular ISSR. 3. Árvores matrizes. I. Caldeira, Marcos Vinicius Winckler. II. Miranda, Fábio Demolinari de. III. Universidade Federal do Espírito Santo. Centro de Ciências Agrárias e Engenharias. IV. Título. CDU: 575:631 iii ADELSON LEMES DA SILVA JÚNIOR DIVERSIDADE GENÉTICA DE Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex. Ducke) Barneby, EM ÁREA DE PLANTIO NO ESPÍRITO SANTO Dissertação apresentada à Universidade Federal do Espírito Santo como requisito do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, para obtenção do título de Mestre em Genética e Melhoramento. -

Foliicolous Mycobiota of Dimorphandra Wilsonii, a Highly Threatened Brazilian Tree Species
RESEARCH ARTICLE Naming Potentially Endangered Parasites: Foliicolous Mycobiota of Dimorphandra wilsonii, a Highly Threatened Brazilian Tree Species Meiriele da Silva1, Danilo B. Pinho1, Olinto L. Pereira1, Fernando M. Fernandes2, Robert W. Barreto1* 1 Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brazil, 2 Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil * [email protected] Abstract A survey of foliicolous fungi associated with Dimorphandra wilsonii and Dimorphandra mol- OPEN ACCESS lis (Fabaceae) was conducted in the state of Minas Gerais, Brazil. Dimorphandra wilsonii is Citation: da Silva M, Pinho DB, Pereira OL, a tree species native to the Brazilian Cerrado that is listed as critically endangered. Fungi Fernandes FM, Barreto RW (2016) Naming strictly depending on this plant species may be on the verge of co-extinction. Here, results Potentially Endangered Parasites: Foliicolous of the pioneering description of this mycobiota are provided to contribute to the neglected Mycobiota of Dimorphandra wilsonii, a Highly field of microfungi conservation. The mycobiota of D. mollis, which is a common species Threatened Brazilian Tree Species. PLoS ONE 11(2): e0147895. doi:10.1371/journal.pone.0147895 with a broad geographical distribution that co-occurs with D. wilsonii, was examined simul- taneously to exclude fungal species occurring on both species from further consideration Editor: Jae-Hyuk Yu, The University of Wisconsin - Madison, UNITED STATES for conservation because microfungi associated with D. wilsonii should not be regarded as under threat of co-extinction. Fourteen ascomycete fungal species were collected, identi- Received: September 24, 2015 fied, described and illustrated namely: Byssogene wilsoniae sp. -

Genome-Informed Bradyrhizobium Taxonomy: Where to from Here?
Systematic and Applied Microbiology 42 (2019) 427–439 Contents lists available at ScienceDirect Systematic and Applied Microbiology jou rnal homepage: http://www.elsevier.com/locate/syapm Genome-informed Bradyrhizobium taxonomy: where to from here? a a a a,b Juanita R. Avontuur , Marike Palmer , Chrizelle W. Beukes , Wai Y. Chan , a c d e Martin P.A. Coetzee , Jochen Blom , Tomasz Stepkowski˛ , Nikos C. Kyrpides , e e f a Tanja Woyke , Nicole Shapiro , William B. Whitman , Stephanus N. Venter , a,∗ Emma T. Steenkamp a Department of Biochemistry, Genetics and Microbiology, Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (FABI), University of Pretoria, Pretoria, South Africa b Biotechnology Platform, Agricultural Research Council Onderstepoort Veterinary Institute (ARC-OVI), Onderstepoort 0110, South Africa c Bioinformatics and Systems Biology, Justus-Liebig-University Giessen, Giessen, Germany d Autonomous Department of Microbial Biology, Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Poland e DOE Joint Genome Institute, Walnut Creek, CA, United States f Department of Microbiology, University of Georgia, Athens, GA, United States a r t i c l e i n f o a b s t r a c t Article history: Bradyrhizobium is thought to be the largest and most diverse rhizobial genus, but this is not reflected in Received 1 February 2019 the number of described species. Although it was one of the first rhizobial genera recognised, its taxon- Received in revised form 26 March 2019 omy remains complex. Various contemporary studies are showing that genome sequence information Accepted 26 March 2019 may simplify taxonomic decisions. Therefore, the growing availability of genomes for Bradyrhizobium will likely aid in the delineation and characterization of new species. -

`` Informativo Abrates´´ Brazilian Association of Seeds Technology
ISSN 0103-667X Volume 21, nº 1 April, 2011 `` INFORMATIVO ABRATES´´ BRAZILIAN ASSOCIATION OF SEEDS TECHNOLOGY Special Issue 10th CONFERENCE OF THE InternationaL SOCIETY FOR SEED SCIENCE April 10th to 15th, 2011 - Costa do Sauípe - BA President 1st Vice Event Manager Francisco Carlos Krzyzanowski Antonio Laudares de Farias (EMBRAPA /SNT) 1st Vice President 2nd Vice Event Manager José de Barros França Neto Gilda Pizzolante Pádua (EMBRAPA) 2nd Vice President Fiscal Advice Norimar Dávila Denardini Titulars Roberval Daiton Vieira (UNESP) Financial Director Julio Marcos Filho (ESALQ/USP) Ademir Assis Henning Ivo Marcos Carraro (COODETEC) Vice Financial Director Substitutes Alberto Sérgio do Rego Barros (IAPAR) Silmar Peske (UFPEL) Alessandro Lucca Braccini (UEM) Technical Affairs Diretor Sebastião Medeiros Filho (UFC) Maria Laene Moreira de Carvalho (UFLA) Vice Technical Affairs Diretor Editors of this Issue Denise Cunha Fernandes Santos Dias (UFV) ``Informativo da ABRATES´´ Maria Laene Moreira de Carvalho (UFLA) Event Manager Renato Delmondez de Castro ( UFBA) Maria Selma (APSEMG) Francisco Carlos Krzyanowski (EMBRAPA SOJA) Informativo vol.21, nº.1, 2011 ABRATES General Information The “Informativo ABRATES” is a quadrimestral publication of the Brazilian Association of Seeds Technology. It publishes technical articles of pratical character wich will effectively contribute for the technological development of seed industry. The contents of the articles are of entire responsability of the authors Printing 450 copies Layout Claudinéia Sussai -
Analysis of Microsatellites from Sclerocactus Glaucus and Sclerocactus Parviflorus Ot Assess Hybridization Levels and Genetic Diversity
University of Northern Colorado Scholarship & Creative Works @ Digital UNC Master's Theses Student Research 12-1-2012 Analysis of microsatellites from Sclerocactus glaucus and Sclerocactus parviflorus ot assess hybridization levels and genetic diversity Anna Louise Schwabe University of Northern Colorado Follow this and additional works at: https://digscholarship.unco.edu/theses Recommended Citation Schwabe, Anna Louise, "Analysis of microsatellites from Sclerocactus glaucus and Sclerocactus parviflorus ot assess hybridization levels and genetic diversity" (2012). Master's Theses. 16. https://digscholarship.unco.edu/theses/16 This Text is brought to you for free and open access by the Student Research at Scholarship & Creative Works @ Digital UNC. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of Scholarship & Creative Works @ Digital UNC. For more information, please contact [email protected]. © 2012 ANNA LOUISE SCHWABE ALL RIGHTS RESERVED UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO Greeley, CO The Graduate School ANALYSIS OF MICROSATELLITES FROM SCLEROCACTUS GLAUCUS AND SCLEROCACTUS PARVIFLORUS TO ASSESS HYBRIDIZATION LEVELS AND GENETIC DIVERSITY A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Master of Science Anna Louise Schwabe College of Natural and Health Sciences School of Biological Sciences December 2012 This Thesis by: Anna Louise Schwabe Entitled: Analysis of Microsatellites from Sclerocactus glaucus and Sclerocactus parviflorus to Assess Hybridization Levels and Genetic -
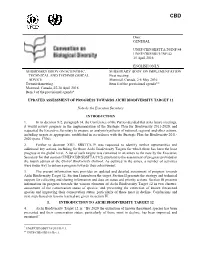
Subsidiary Body on Scientific, Technical And
CBD Distr. GENERAL UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/44 UNEP/CBD/SBI/1/INF/42 15 April 2016 ENGLISH ONLY SUBSIDIARY BODY ON SCIENTIFIC, SUBSIDIARY BODY ON IMPLEMENTATION TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL First meeting ADVICE Montreal, Canada, 2-6 May 2016 Twentieth meeting Item 4 of the provisional agenda** Montreal, Canada, 25-30 April 2016 Item 3 of the provisional agenda* UPDATED ASSESSMENT OF PROGRESS TOWARDS AICHI BIODIVERSITY TARGET 12 Note by the Executive Secretary INTRODUCTION 1. In its decision X/2, paragraph 14, the Conference of the Parties decided that at its future meetings, it would review progress in the implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, and requested the Executive Secretary to prepare an analysis/synthesis of national, regional and other actions, including targets as appropriate, established in accordance with the Strategic Plan for Biodiversity 2011- 2020 (para. 17(b)). 2. Further to decision XII/1, SBSTTA-19 was requested to identify further opportunities and additional key actions, including for those Aichi Biodiversity Targets for which there has been the least progress at the global level. A list of such targets was contained in an annex to the note by the Executive Secretary for that session (UNEP/CBD/SBSTTA/19/2) pursuant to the assessment of progress provided in the fourth edition of the Global Biodiversity Outlook. As outlined in the annex, a number of activities were under way to enhance progress towards their achievement. 3. The present information note provides an updated and detailed assessment of progress towards Aichi Biodiversity Target 12. Section I introduces the target. -

1 Towards a Characterisation of the Wild Legume Bitter Vetch (Lathyrus Linifolius L
1 Towards a characterisation of the wild legume bitter vetch (Lathyrus linifolius L. 2 (Reichard) Bässler): heteromorphic seed germination, root nodule structure and N- 3 fixing rhizobial symbionts. 4 5 Dello Jacovo, E.1,2,†, Valentine, T.A.1,†, Maluk, M.1,†, Toorop, P.3, Lopez del Egido, L.1,2,4, 6 Frachon, N.5, Kenicer, G.5, Park, L.5, Goff, M.6, Ferro, V.A.7, Bonomi, C.8, James, E.K.1 and 7 Iannetta, P.P.M.1,* 8 9 1The James Hutton Institute, Errol Road, Invergowrie, Dundee, DD2 5DA, Scotland, United 10 Kingdom 11 2 University of Pavia, Via S.Epifanio, 14 – 27100 Pavia, Italy 12 3Royal Botanic Gardens, Kew, Comparative Plant and Fungal Biology Department, 13 Wakehurst Place, Selsfield Road, Ardingly, West Sussex RH17 6TN, United Kingdom 14 4Seed Physiology, Syngenta Seeds B.V., 1600AA, Enkhuizen, The Netherlands 15 5Royal Botanic Garden, 20A Inverleith Row, Edinburgh, EH3 5LR, United Kingdom 16 6Bitter-Vetch Ltd., 11 The Cloisters, Wingate, Co Durham, TS28 5PT, United Kingdom 17 7Strathclyde University, 161 Cathedral Street, Glasgow, G4 0RE, United Kingdom 18 8Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122, Trento, Italy 19 20 †These authors contributed equally to this manuscript. 21 1 22 *Corresponding author details: 23 Name: Pietro Iannetta, P. M., 24 Address: The James Hutton Institute, Errol Road, Invergowrie, Dundee, 25 DD2 5DA, Scotland, United Kingdom 26 e-mail: [email protected] 27 Phone: +44 (0) 344 9285428 28 Fax: +44 (0)344 928 5429 29 30 Abstract 31 Lathyrus linifolius L. -

Fabaceae – Caesalpinioideae)
SCIENTIA FORESTALIS Biometria de frutos e sementes e germinação de sementes de Dimorphandra mollis Benth. e Dimorphandra wilsonii Rizz. (Fabaceae – Caesalpinioideae) Fruit and seed biometry and germination of Dimorphandra mollis Benth. and Dimorphandra wilsonii Rizz. (Fabaceae – Caesalpinioideae) seed Valeria Lúcia de Oliveira Freitas¹, Thiago Henrique Soares Alves¹, Renata de Melo Ferreira Lopes¹ e José Pires de Lemos Filho² Resumo Dimorphandra mollis é uma árvore com ampla distribuição no Cerrado e vem sofrendo forte exploração extrativista. D. wilsonii, espécie considerada vulnerável à extinção, é endêmica da região de Paraopeba, MG. Os objetivos do presente estudo foram comparar dados morfométricos de frutos (n= 100) e sementes (n=100) das duas espécies e avaliar os efeitos de temperaturas, luz, escarificação mecânica (lixa d´água) e do armazenamento por 12 meses em refrigerador na germinação das sementes de ambas as espécies. Os experimentos de germinação foram realizados em câmaras de germinação nas temperaturas con- stantes de 20, 25, 30 e 35ºC e nas temperaturas alternadas de 35-15ºC, no escuro ou sob luz branca em fotoperíodo de 12 horas. Os dados morfométricos apontaram que os frutos e sementes de D. wilsonii são maiores que os de D. mollis, em todas as características avaliadas, resultando em uma clara separação entre as duas espécies por análise de componentes principais (PCA). Os resultados confirmaram que as sementes das duas espécies são indiferentes à luz e apresentam dormência tegumentar, eficientemente superada por escarificação mecânica. As sementes não escarificadas deD. mollis apresentaram porcenta- gem de germinação similar em todas as temperaturas e as escarificadas apresentaram maior germinação entre 20 e 30ºC e sob alternância de temperatura, com valor máximo de 89%. -

Anne Caroline Olivo Neiro Navi Estudo De Espécies Arbóreas Ameaçadas
ANNE CAROLINE OLIVO NEIRO NAVI ESTUDO DE ESPÉCIES ARBÓREAS AMEAÇADAS DE EXTINÇAO NO PARQUE DO INGÁ, MARINGÁ – PR MARINGÁ 2016 ANNE CAROLINE OLIVO NEIRO NAVI ESTUDO DE ESPÉCIES ARBÓREAS AMEAÇADAS DE EXTINÇAO NO PARQUE DO INGÁ, MARINGÁ – PR Dissertação apresentada à Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Geografia, área de concentração: Análise Regional e Ambiental, Linha de Pesquisa: Análise Ambiental. Orientador: Prof. Dr. Bruno Luiz Domingos De Angelis. Coorientador: Prof. Dr. André César Furlanetto Sampaio. MARINGÁ 2016 Dedico este trabalho À minha família, em especial ao meu marido Guilherme Anselmo Neiro Navi, que me deu estrutura e incentivo para que eu pudesse alcançar meus objetivos. À vó Maria Antonietta Bego Neiro (in memorian), que com certeza, lá do céu, está muito feliz com a conclusão desta caminhada. Essas pessoas são as mais especiais e importantes para mim, todos os agradecimentos se tornariam pequenos diante delas. AGRADECIMENTOS Esta pesquisa não seria possível se não fosse o apoio e incentivo de diversas pessoas que, direta ou indiretamente, foram importantes para sua conclusão. Agradeço primeiramente a Deus, por sempre me iluminar, me sustentar, colocar pessoas maravilhosas no meu caminho que contribuíram com este trabalho e por conduzir todos os meus planos e projetos da maneira como deveria ser. À Maria, minha mãezinha do céu, por sempre passar na frente das situações, permitindo que minha caminhada fosse cumprida. Ao meu orientador, professor Dr. Bruno Luiz Domingos De Angelis pela orientação, paciência e compreensão durante as tribulações. Ao meu coorientador, professor Dr. André César Furlanetto Sampaio, por me salvar nas situações de desespero, pela amizade, orientações valiosas e disponibilidade sempre. -

Genetic Data Improve the Assessment of the Conservation Status Based
www.nature.com/scientificreports OPEN Genetic data improve the assessment of the conservation status based only on herbarium Received: 6 July 2018 Accepted: 7 March 2019 records of a Neotropical tree Published: xx xx xxxx André Carneiro Muniz1, José Pires Lemos-Filho2, Renata Santiago de Oliveira Buzatti1, Priciane Cristina Correa Ribeiro1,4, Fernando Moreira Fernandes3 & Maria Bernadete Lovato1 Although there is a consensus among conservation biologists about the importance of genetic information, the assessment of extinction risk and conservation decision-making generally do not explicitly consider this type of data. Genetic data can be even more important in species where little other information is available. In this study, we investigated a poorly known legume tree, Dimorphandra exaltata, from the Brazilian Atlantic Forest, a hotspot for conservation. We coupled species distribution models and geospatial assessment based on herbarium records with population genetic analyses to evaluate its genetic status and extinction risk, and to suggest conservation measures. Dimorphandra exaltata shows low genetic diversity, inbreeding, and genetic evidence of decrease in population size, indicating that the species is genetically depleted. Geospatial assessment classifed the species as Endangered. Species distribution models projected a decrease in range size in the near future (2050). The genetic status of the species suggests low adaptive potential, which compromises its chances of survival in the face of ongoing climatic change. Altogether, our coupled analyses show that the species is even more threatened than indicated by geospatial analyses alone. Thus, conservation measures that take into account genetic data and the impacts of climate change in the species should be implemented. -

MICOBIOTA FOLÍCOLA DE Dimorphandra Wilsonii, ESPÉCIE ARBÓREA BRASILEIRA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO
MEIRIELE DA SILVA MICOBIOTA FOLÍCOLA DE Dimorphandra wilsonii, ESPÉCIE ARBÓREA BRASILEIRA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO Dissertação apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós- Graduação em Fitopatologia, para obtenção do título de Magister Scientiae. VIÇOSA MINAS GERAIS - BRASIL 2012 Ficha catalográfica preparada pela Seção de Catalogação e Classificação da Biblioteca Central da UFV T Silva, Meiriele da, 1981- S586m Micobiota folícola de Dimorphandra wilsonii, espécie 2012 arbórea brasileira ameaçada de extinção / Meiriele da Silva – Viçosa, MG, 2012. x, 87f. : il. (algumas col.) ; 29cm. Orientador: Robert Weingart Barreto. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Viçosa. Inclui bibliografia. 1. Dimorphandra wilsonii - Doenças e pragas. 2. Dimorphandra mollis - Doenças e pragas. 3. Micologia. 4. Espécies em extinção. 5. Biodiversidade. 6. Plantas em extinção. 7. Fungos - Classificação. 8. Cerrados - Brasil. I. Universidade Federal de Viçosa. II. Título. CDD 22. ed. 632.45 MEIRIELE DA SILVA MICOBIOTA FOLÍCOLA DE Dimorphandra wilsonii, ESPÉCIE ARBÓREA BRASILEIRA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO APROVADA: 10 de fevereiro de 2012. Dissertação apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, para obtenção do título de Magister Scientiae. ____________________________ ______________________________ Prof. Maurício Dutra Costa Prof. Harold Charles Evans ____________________________ _____________________________ Prof. José Luís Bezerra Prof. Gleiber Quintão Furtado ____________________________ Prof. Robert Weingart Barreto (Orientador) A Deus, A minha mãe, Por serem o meu apoio. Dedico! “Contudo, seja qual for o grau a que chegamos o que importa é prosseguir decididamente” Fi 3,16 ii AGRADECIMENTOS A Deus, por ser o meu refúgio e a minha fortaleza. A minha mãe Maria Raimunda, pelo apoio, por acreditar em mim e me amar incondicionalmente. -

Dimorphandra Wilsonii Rizzini (Fabaceae): Distribution, Habitat and Conservation Status
Acta Botanica Brasilica 28(3): 434-444. 2014. doi: 10.1590/0102-33062014abb3409 Dimorphandra wilsonii Rizzini (Fabaceae): distribution, habitat and conservation status Fernando Moreira Fernandes1,2 and Juliana Ordones Rego1 Received: 1 November, 2013. Accepted: 26 March, 2014 ABSTRACT Dimorphandra wilsonii Rizzini is a rare species. Although cited as endemic to the Brazilian state of Minas Gerais, it has been recorded only for the municipalities of Paraopeba and Caetanópolis and therefore has not been extensively studied. This long-term, intensive survey, conducted from 2004 to 2012 in the central region of the state, was aimed at assessing its distribution, describing its habitat, and verifying its endemism, as well as assessing threats and determining its conservation status. Given the considerable size of the area to be studied and the difficulty of locating individuals of the species, we adopted popular participation as a complementary tool and we employed spatial distribution mo- deling. Communities were mobilized through the dissemination of print materials, and interviews were conducted. We visited 74 municipalities and addressed 900 people in search of this species. We found that D. wilsonii is endemic to the cerrado (savanna) and Atlantic Forest in the central region of Minas Gerais, occurring in 16 municipalities. Is not present in any fully protected conservation area, and its population (fewer than 250 individuals) is declining due to habitat destruction, caused mainly by agricultural/livestock and urban expansion, and its conservation status is “critically endangered”. Key words: Extinction, endemism, faveiro-de-wilson, inventory, popular participation Introduction found only the records of occurrence mentioned above (for Paraopeba and Caetanópolis).