Bd-Gpme-0733.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

"Philosciidae" (Crustacea: Isopoda: Oniscidea)
Org. Divers. Evol. 1, Electr. Suppl. 4: 1 -85 (2001) © Gesellschaft für Biologische Systematik http://www.senckenberg.uni-frankfurt.de/odes/01-04.htm Phylogeny and Biogeography of South American Crinocheta, traditionally placed in the family "Philosciidae" (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) Andreas Leistikow1 Universität Bielefeld, Abteilung für Zoomorphologie und Systematik Received 15 February 2000 . Accepted 9 August 2000. Abstract South America is diverse in climatic and thus vegetational zonation, and even the uniformly looking tropical rain forests are a mosaic of different habitats depending on the soils, the regional climate and also the geological history. An important part of the nutrient webs of the rain forests is formed by the terrestrial Isopoda, or Oniscidea, the only truly terrestrial taxon within the Crustacea. They are important, because they participate in soil formation by breaking up leaf litter when foraging on the fungi and bacteria growing on them. After a century of research on this interesting taxon, a revision of the terrestrial isopod taxa from South America and some of the Antillean Islands, which are traditionally placed in the family Philosciidae, was performed in the last years to establish monophyletic genera. Within this study, the phylogenetic relationships of these genera are elucidated in the light of phylogenetic systematics. Several new taxa are recognized, which are partially neotropical, partially also found on other continents, particularly the old Gondwanian fragments. The monophyla are checked for their distributional patterns which are compared with those patterns from other taxa from South America and some correspondence was found. The distributional patterns are analysed with respect to the evolution of the Oniscidea and also with respect to the geological history of their habitats. -

A New Computing Environment for Modeling Species Distribution
EXPLORATORY RESEARCH RECOGNIZED WORLDWIDE Botany, ecology, zoology, plant and animal genetics. In these and other sub-areas of Biological Sciences, Brazilian scientists contributed with results recognized worldwide. FAPESP,São Paulo Research Foundation, is one of the main Brazilian agencies for the promotion of research.The foundation supports the training of human resources and the consolidation and expansion of research in the state of São Paulo. Thematic Projects are research projects that aim at world class results, usually gathering multidisciplinary teams around a major theme. Because of their exploratory nature, the projects can have a duration of up to five years. SCIENTIFIC OPPORTUNITIES IN SÃO PAULO,BRAZIL Brazil is one of the four main emerging nations. More than ten thousand doctorate level scientists are formed yearly and the country ranks 13th in the number of scientific papers published. The State of São Paulo, with 40 million people and 34% of Brazil’s GNP responds for 52% of the science created in Brazil.The state hosts important universities like the University of São Paulo (USP) and the State University of Campinas (Unicamp), the growing São Paulo State University (UNESP), Federal University of São Paulo (UNIFESP), Federal University of ABC (ABC is a metropolitan region in São Paulo), Federal University of São Carlos, the Aeronautics Technology Institute (ITA) and the National Space Research Institute (INPE). Universities in the state of São Paulo have strong graduate programs: the University of São Paulo forms two thousand doctorates every year, the State University of Campinas forms eight hundred and the University of the State of São Paulo six hundred. -

Archiv Für Naturgeschichte
© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at Bericht über die Leistuugen in der Carcinologie wälirend des Jahres 1894. Von Dr. F. Hilgendorf und Dr. J. Vosseier*). Verzeichniss der Publicationen. Albert I,, Prince de Monaco: Sur les premieres campagnes de la princesse Alice. Compt. rend. Ac. Sc. Paris T. CXX. — Eine 2 m tief ins Meer eingesenkte Lampe lockt in kurzer Zeit ganze Wolken kleiner Kruster herbei. F. Albrecht, L. K., Ziornow u. a. Primitiae faunae Mosquensis. Congres intern, d'anthrop., arch. et zool. 1892 (Moscou), Materiaux i-eunis etc. 1. partie, Suppl. Nr. 16, 137 S.; Crust. p. 121 — 5. Mos- cou 1893. — 122 Entom. u. 14 Malacostraca, Alcock, A. Natural bist, notes from „Investigator" (Ser. 2) Nr. 1. (continued). (Vergl. Ber. 91, 92, 93 unter Wood-Mason, W.- M. u. Alcock, Alcock). Ann. Mag. (6) XIII p. 225-45, 321—34, 400—411. — Behandelt Deep-sea dredging 1890/91. Spec. Nr. 58 bis 99. Farn. Nematocarcinidae, Honiar., Eryont. (IXyl.), Parapagur., Galath., Inachidae, Cancridae (Platypilumyins)^ Ocypod. (Psopheticus), Leucos. {Ci/monomops), Homolidae. Stomatopoda (2 Sp.), Amphi- poda (l Sp., Farn. Stegoceph., Xyl). 28 neue Sp. od. Variet. Sperma- tozoen V. Munida besclir. p. 324. Stridulationsapp. bei Psophet. Rudim. Augen bei Cymon. u. Andania. Alcock, A. and A. R. Audeison (1). Nat. bist, notes from „Investigator" (2. Ser.) No. 14: An account of a recent coli, of deep sea Crustacea from the Bay of Bengal and Laccadive Sea. Journ. Asiat, soc. of Bengal, Vol. 63 part. IL No. 3. p. 141—185. Tfl. IX. *) Im Allgemeinen sind die Arbeiten über höhere Krebse von Hilgendorf, die über niedere von Vosseier besprochen worden, lieber etwaige Ausnahmen giebt die Unterzeichnung der betreif. -

Benvenuto, C and SC Weeks. 2020
--- Not for reuse or distribution --- 8 HERMAPHRODITISM AND GONOCHORISM Chiara Benvenuto and Stephen C. Weeks Abstract This chapter compares two sexual systems: hermaphroditism (each individual can produce gametes of either sex) and gonochorism (each individual produces gametes of only one of the two distinct sexes) in crustaceans. These two main sexual systems contain a variety of alternative modes of reproduction, which are of great interest from applied and theoretical perspectives. The chapter focuses on the description, prevalence, analysis, and interpretation of these sexual systems, centering on their evolutionary transitions. The ecological correlates of each reproduc- tive system are also explored. In particular, the prevalence of “unusual” (non- gonochoristic) re- productive strategies has been identified under low population densities and in unpredictable/ unstable environments, often linked to specific habitats or lifestyles (such as parasitism) and in colonizing species. Finally, population- level consequences of some sexual systems are consid- ered, especially in terms of sex ratios. The chapter aims to provide a broad and extensive overview of the evolution, adaptation, ecological constraints, and implications of the various reproductive modes in this extraordinarily successful group of organisms. INTRODUCTION 1 Historical Overview of the Study of Crustacean Reproduction Crustaceans are a very large and extraordinarily diverse group of mainly aquatic organisms, which play important roles in many ecosystems and are economically important. Thus, it is not surprising that numerous studies focus on their reproductive biology. However, these reviews mainly target specific groups such as decapods (Sagi et al. 1997, Chiba 2007, Mente 2008, Asakura 2009), caridean Reproductive Biology. Edited by Rickey D. Cothran and Martin Thiel. -

Isópodos Marinos (Crustacea: Peracarida) De La Costa Sur De La Isla De Margarita, Venezuela † Javier
Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales 2012 (“2010”) 173-174: 25-38 Isópodos marinos (Crustacea: Peracarida) de la costa sur de la Isla de Margarita, Venezuela † Javier. A. Gutiérrez Resumen. Se estudió la composición y distribución de las especies de crustáceos pertenecientes al orden Isopoda en la costa sur de la Isla de Margarita, Venezuela. Se realizaron colectas en 20 localidades desde Pampatar en el este, hasta Punta Arenas en la península de Macanao al oeste. Los ejemplares estudiados provienen en su totalidad de la zona litoral hasta una profundidad máxima de 2 m. Se colectaron 789 individuos distribuidos en 21 especies pertenecientes a 18 géneros y 12 familias. Todas las especies encontradas han sido reportadas para la región del Caribe. La mayor riqueza de especies se registró hacia el este de la costa sur, en localidades con una elevada heterogeneidad de ambientes, mientras que la más baja se registró en las localidades ubicadas al oeste, caracterizadas por presentar aguas turbias permanentemente. Las especies con más amplia distribución en el área estudiada fueron Excirolana mayana, Dynamenella acutitelson, Ligia baudiniana y Littorophiloscia riedli. Sphaeroma walkeri Stebbing, 1905 constituye un nuevo registro para la Isla de Margarita. Palabras clave. Isopoda. Taxonomía. Distribución. Isla de Margarita. Venezuela. Marine isopoda from the south coast of Margarita Island, Venezuela Abstract. The composition and distribution of crustaceans species belonging to the Isopoda order in the south coast of Margarita Island (Venezuela) were studied. The samples were collected in 20 localities from the east Pampatar, to the west Punta Arenas in Macanao peninsula. The studied specimens come in their totality from the coastal zone until a maximum depth of 2 m. -

Zootaxa, Siluriformes, Trichomycteridae
Zootaxa 592: 1–12 (2004) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ ZOOTAXA 592 Copyright © 2004 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) New species of the catfish genus Trichomycterus (Siluriformes, Tri- chomycteridae) from the headwaters of the rio São Francisco basin, Brazil WOLMAR BENJAMIN WOSIACKI Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), CZO, Laboratório de Peixes, CEP 66040-170, CP 399, Belém, PA, Brazil. E-mail: [email protected] Abstract Trichomycterus trefauti, new species, is described based on eight specimens from the rio São Fran- cisco basin, Minas Gerais, Brazil. The new species differs from all other trichomycterine species by the autapomorphic presence of an elliptical, vertically elongated, brown spot, at caudal-fin base, and the combination of homogeneously gray color pattern, first pectoral-fin ray prolonged as a fila- ment, subterminal mouth, two supraorbital pores at interorbital space, caudal fin truncate with attenuated edges, pelvic fins covering anus and urogenital openings, interorbital space very wide (39.8–45.9 % head length), maxillary barbels very long (84.2–93.0 % head length), rictal barbels very long (67.6– 74.3 % head length). Systematics, diagnostic features, and putative information on phylogenetic relationships of Trichomycterus species are discussed. Key words: catfish, Trichomycterus, species description, systematics, classification Resumo Trichomycterus trefauti, espécie nova, é descrita baseado em oito exemplares procedentes das cabe- ceiras da Bacia do Rio São Francisco, Minas -
A New Species of Cave Catfish, Genus Trichomycterus (Siluriformes: Trichomycteridae), from the Magdalena River System, Cordillera Oriental, Colombia
Castellanos-Morales A new species of cave catfish, genus Trichomycterus (Siluriformes: Trichomycteridae), from the Magdalena River system, Cordillera Oriental, Colombia A new species of cave catfish, genusTrichomycterus (Siluriformes: Trichomycteridae), from the Magdalena River system, Cordillera Oriental, Colombia Una nueva especie de bagre de caverna, género Trichomycterus (Siluriformes: Trichomycteridae), del sistema río Magdalena, cordillera Oriental, Colombia César A. Castellanos-Morales Abstract A new species of troglomorphic catfish is described from de Gedania Cave, located in the middle Suárez River drainage, Magdalena River system, Colombia. The new species can be distinguished from its congeners by the combination of the following characters: reduction or loss of the cornea, reduction of eyes and skin pigmentation, very long nasal and maxillary barbels (maximum of 160% and 135% of HL, respectively), nine branched pectoral-fin rays, first unbranched ray of the pectoral fin prolonged as a long filament, reaching 80% of pectoral-fin length, anterior cranial fontanel connected with the posterior fontanel through an opening of variable length and width, first dorsal- fin pterygiophore inserted between neural spines of free vertebra 13-14 and free vertebrae 33-34. The presence of troglomorphisms such as regression of the eyes, reduction of skin pigmentation and long barbels suggest the troglobitic status of this species. A comparative analysis with other species of Trichomycterus from epigean and hypogean environments is presented. -
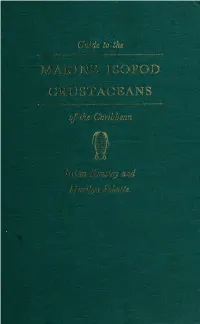
Guide to the Marine Isopod Crustaceans of the Caribbean
Guide to the MARINE ISOPOD CRUSTACEANS of the Caribbean H H h Guide to the MARINE ISOPOD CRUSTACEANS of the Caribbean Brian Kensley and Marilyn Schotte SMITHSONIAN INSTITUTION PRESS WASHINGTON, D.C., AND LONDON — — © 1989 by the Smithsonian Institution All rights reserved Designer: Linda McKnight Editor: Nancy Dutro Library of Congress Cataloging-in-PubHcation Data Kensley, Brian Frederick. Guide to the marine isopod crustaceans of the Caribbean / Brian Kensley and Marilyn Schotte. p. cm. Bibliography: p. Includes index. ISBN 0-87474-724-4 (alk. paper) 1. Isopoda— Caribbean Sea Classification. 2. Crustacea—Caribbean Sea Classification. I. Schotte, Marilyn. II. Title. QL444.M34K434 1989 595.3'7209153'35—dcl9 88-38647 CIP British Library Cataloging-in-Publication Data available Manufactured in the United States of America 10 98765432 1 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 00 The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Performance of Paper for Printed Library Materials Z39.48-1984 Contents 1 Introduction 1 HISTORIC BACKGROUND 3 GEOGRAPHIC AREA COVERED IN THIS GUIDE 4 ARRANGEMENT OF THE GUIDE AND HOW TO USE IT 5 ACKNOWLEDGMENTS 7 Glossary of Technical Terms 13 Marine Isopods of the Caribbean 13 ORDER ISOPODA 15 SUBORDER ANTHURIDEA 73 SUBORDER ASELLOTA 107 SUBORDER EPICARIDEA 114 SUBORDER FLABELLIFERA 236 SUBORDER GNATHIIDEA 243 SUBORDER MICROCERBERIDEA 246 SUBORDER ONISCIDEA 251 SUBORDER VALVIFERA 261 Zoogeography 261 FAUNAE PROVINCES 262 ANALYSIS OF THE ISOPOD FAUNA 266 THE BAHAMAS 269 BERMUDA 269 CAVE ISOPODS 275 Appendix 277 Literature Cited 293 Index Introduction The title of this work will no doubt raise several questions in many readers' minds: why the Caribbean? why not the Caribbean and the Gulf of Mexico? why only the marine isopods? just what is the "Caribbean area"? We hope that the answers to some of these (and other) questions will become apparent. -

A New Species of the Neotropical Catfish Genus Trichomycterus (Siluriformes: Trichomycteridae) Representing a New Body Shape for the Family
Copeia 2008, No. 2, 273–278 A New Species of the Neotropical Catfish Genus Trichomycterus (Siluriformes: Trichomycteridae) Representing a New Body Shape for the Family Wolmar Benjamin Wosiacki1 and Ma´rio de Pinna2 Trichomycterus crassicaudatus is described as a new species from the Rio Iguac¸u basin in southern Brazil. The new species has an exceptionally deep posterior region of the body (caudal peduncle depth 22.8–25.4% SL), resulting in an overall shape which distinguishes it at once from all other members of the Trichomycteridae. The caudal fin of the species is broad-based and forked, a shape also distinguishing it from all other species in the family. A number of autapomorphic modifications of T. crassicaudatus are associated with the deepening of the caudal region, including an elongation of the hemal and neural spines of the vertebrae at the middle of the caudal peduncle. Phylogenetic relationships of the new species are yet unresolved, but it shares a similar color pattern and a thickening of caudal-fin procurrent rays with T. stawiarski, a poorly-known species also from the Rio Iguac¸u basin. Coloration and body shape also include similarities with T. lewi from Venezuela. HE genus Trichomycterus is the largest in the the ninth species of Trichomycterus recorded for the Rio family Trichomycteridae, with approximately 100 Iguac¸u Basin above the Iguac¸u waterfalls (the others being T. T nominal species and probably numerous others stawiarski, T. castroi, T. naipi, T. papilliferus, T. mboycy, T. still undescribed. The genus is not demonstrably a mono- taroba, T. plumbeus, and T. -

Felipe Skóra Neto
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ FELIPE SKÓRA NETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDROLÓGICA E INVASÕES DE PEIXES DE ÁGUA DOCE NA REGIÃO NEOTROPICAL: IMPLICAÇÕES PARA HOMOGENEIZAÇÃO BIÓTICA E HIPÓTESE DE NATURALIZAÇÃO DE DARWIN CURITIBA 2013 FELIPE SKÓRA NETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDROLÓGICA E INVASÕES DE PEIXES DE ÁGUA DOCE NA REGIÃO NEOTROPICAL: IMPLICAÇÕES PARA HOMOGENEIZAÇÃO BIÓTICA E HIPÓTESE DE NATURALIZAÇÃO DE DARWIN Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Ecologia e Conservação, no Curso de Pós- Graduação em Ecologia e Conservação, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná. Orientador: Jean Ricardo Simões Vitule Co-orientador: Vinícius Abilhoa CURITIBA 2013 Dedico este trabalho a todas as pessoas que foram meu suporte, meu refúgio e minha fortaleza ao longo dos períodos da minha vida. Aos meus pais Eugênio e Nilte, por sempre acreditarem no meu sonho de ser cientista e me darem total apoio para seguir uma carreira que poucas pessoas desejam trilhar. Além de todo o suporte intelectual e espiritual e financeiro para chegar até aqui, caminhando pelas próprias pernas. Aos meus avós: Cândida e Felippe, pela doçura e horas de paciência que me acolherem em seus braços durante a minha infância, pelas horas que dispenderem ao ficarem lendo livros comigo e por sempre serem meu refúgio. Você foi cedo demais, queria que estivesse aqui para ver esta conquista e principalmente ver o meu maior prêmio, que é minha filha. Saudades. A minha esposa Carine, que tem em comum a mesma profissão o que permitiu que entendesse as longas horas sentadas a frente de livros e do computador, a sua confiança e carinho nas minhas horas de cansaço, você é meu suporte e meu refúgio. -

The Blind Catfish from the Caves of Chapada Diamantina
Neotropical Ichthyology, 8(4):673-706, 2010 Copyright © 2010 Sociedade Brasileira de Ictiologia The blind catfish from the caves of Chapada Diamantina, Bahia, Brazil (Siluriformes: Heptapteridae): description, anatomy, phylogenetic relationships, natural history, and biogeography Flávio A. Bockmann and Ricardo M. C. Castro Rhamdiopsis krugi, a new troglobitic heptapterid catfish, is described from the caves of Chapada Diamantina, State of Bahia, northeastern Brazil. This species, although frequently cited in the scientific literature along the last seventeen years, remained undescribed largely due to its uncertain phylogenetic affinities. The generic assignment of R. krugi was clouded largely by its high number of unusual morphological features (some related to cave life), for instance: absence of eyes and body pigmentation; presence of a widely exposed pseudotympanum; posterior border of the anterior branch and anterior margin of the arborescent portion of the posterior branch of the transverse process of fourth vertebra joined; dorsal hypural plate commonly with seven rays; ventral caudal plate usually with six rays; dorsal and ventral caudal-fin lobes typically with six branched fin rays each; 38- 39 vertebrae; anal fin with 14-17 rays; and lateral line very short. Rhamdiopsis krugi can be easily distinguished from its congeners, R. microcephala and R. moreirai, by its troglomorphic features and by the presence of a shorter lateral line, fewer vertebrae and anal-fin rays, pattern of branching of caudal-fin rays, and several attributes of skeletal system. The affinities of this new species are discussed in light of current phylogenetic knowledge of the family Heptapteridae. Incongruent derived characters do not allow selection of a particular hypothesis of sister group relationships among species of Rhamdiopsis. -

Imparfinis from a Northeastern Coastal Brazilian River Basin: I
12 1 1832 the journal of biodiversity data 23 January 2016 Check List NOTES ON GEOGRAPHIC DISTRIBUTION Check List 12(1): 1832, 23 January 2016 doi: http://dx.doi.org/10.15560/12.1.1832 ISSN 1809-127X © 2016 Check List and Authors First record of genus Imparfinis from a northeastern coastal Brazilian river basin: I. borodini Mees & Cala, 1989 in Rio de Contas, Bahia Luisa Maria Sarmento-Soares1, 2*, Heraldo A. Britski3, Marcia Anjos4, Angela M. Zanata5, Ronaldo F. Martins-Pinheiro1 and Marluce Galvão Barretto4 1 Instituto Nacional da Mata Atlântica, Laboratório de Zoologia. Av. José Ruschi, 4, Centro, 29650–000 Santa Teresa, ES, Brazil 2 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal (PPGBAN), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Campus de Goiabeiras, 29043–900 Vitória, ES, Brazil 3 Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, Caixa Postal 42494, 04218-970 São Paulo, SP, Brazil 4 Programa de Pós-Graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus Jequié, Jequié, BA, Brazil 5 Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, Campus de Ondina, Rua Barão de Geremoabo s/n, 40170–290, Salvador, BA, Brazil * Corresponding author. E-mail: [email protected] Abstract: Imparfinis borodini Mees & Cala, 1989 is re- instead identified by a group of general anatomical corded in low population abundance in the upper Paraná, features present in other Neotropical families (Lundberg Tocantins and São Francisco river drainages according to and McDade 1986; Lundberg et al. 1991; Bockmann the scientific literature and available collection data, but 1998). In spite of the unquestionable family monophyly, it has not been previously recorded from a coastal Bra- the taxonomic status of some genera remains less precise zilian river.