O Aqueduto Do Real Mosteiro De Santa Clara.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
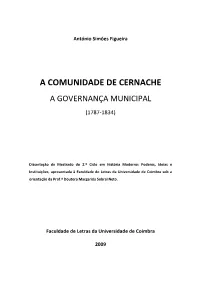
A Comunidade De Cernache a Governança Municipal
António Simões Figueira A COMUNIDADE DE CERNACHE A GOVERNANÇA MUNICIPAL (1787-1834) Dissertação de Mestrado do 2.º Ciclo em História Moderna: Poderes, Ideias e Instituições, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra sob a orientação da Prof.ª Doutora Margarida Sobral Neto. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2009 Ao Jorge Miguel e ao João Pedro. E à Antónia. A Comunidade de Cernache (1787-1834) INDICE Introdução ............................................................................................................................. 4 Capítulo I ............................................................................................................................. 11 Quadro institucional ............................................................................................................ 11 1. Paisagens e modos de vida.............................................................................................. 11 2. A paróquia ....................................................................................................................... 14 2.1. Hospital ........................................................................................................................ 16 2.2. Confrarias e Irmandades .............................................................................................. 19 3. Os Senhorios .................................................................................................................... 22 3.1. O donatário ................................................................................................................. -

Scenes of the Monastery
Lia F. Azevedo Nunes Scenes of the Monastery Social and active pedagogical practices applied to teaching history and cultural heritage Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2010 Scenes of the Monastery Social and active pedagogical practices applied to teaching history and cultural heritage 1 _______________________________________________________________________________________________________ Lia F. Azevedo Nunes Scenes of the Monastery Social and active pedagogical practices applied to teaching history and cultural heritage Master Thesis in European Digital Media Arts and Cultural Heritage Studies Specialty of Digital Culture and eLearning, presented to Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, oriented by Professor António Mendes and Professor Kimi Kärki Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2010 Scenes of the Monastery 2 Social and active pedagogical practices applied to teaching history and cultural heritage _______________________________________________________________________________________________________ Scenes of the Monastery Social and active pedagogical practices applied to teaching history and cultural heritage 3 _______________________________________________________________________________________________________ Summary Abstract .......................................................................................................................... 5 Acknowledgments ........................................................................................................... 6 Introduction ................................................................................................................... -

O Passado Histórico E O Presente Turístico Do Mosteiro De Santa Clara-A-Velha
Sílvia Margarida Cascão de Oliveira O PASSADO HISTÓRICO E O PRESENTE TURÍSTICO DO MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-VELHA Um estudo de caso no âmbito do ensino das disciplinas de História e de Geografia Relatório de Estágio em Ensino de História e de Geografia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, orientado pela Doutora Adélia Jesus Nobre Nunes e coorientado pela Doutora Ana Isabel Sacramento Sampaio Ribeiro, apresentado à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2015 Faculdade de Letras O PASSADO HISTÓRICO E O PRESENTE TURÍSTICO DO MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-VELHA Um estudo de caso no âmbito do ensino das disciplinas de História e de Geografia Ficha Técnica: Tipo de trabalho Relatório de Estágio Título O PASSADO HISTÓRICO E O PRESENTE TURÍSTICO DO MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-VELHA – Um estudo de caso no âmbito do ensino das disciplinas de História e de Geografia Autor Sílvia Margarida Cascão de Oliveira Orientadora Doutora Adélia Jesus Nobre Nunes Coorientadora Doutora Ana Isabel Sacramento Sampaio Ribeiro Identificação do curso Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário Foto da capa Sílvia Oliveira (2015) Data 2015 Índice Geral Introdução .......................................................................................................................................... 8 Primeira Parte ............................................................................................................................. 10 1. Apresentação e descrição das atividades desenvolvidas -

Clara-A-Velha Mosteiro De Santa Clara-A-Velha Pelos Olhos E Palavras Dos Seus Visitantes
Dissertação de Mestrado em Comunicação Organizacional: Cidadania, Confiança e Responsabilidade Social, apresentada na Escola Superior de Educação de Coimbra para obtenção do grau de Mestre A perceção da qualidade dos serviços no Centro Interpretativo de Santa- Clara-a-Velha Mosteiro de Santa Clara-a-Velha pelos olhos e palavras dos seus visitantes Isabel Maria Correia da Costa César Coimbra, 2016 Isabel Maria Correia da Costa César A perceção da qualidade dos serviços no Centro Interpretativo de Santa- Clara-a-Velha Mosteiro de Santa Clara-a-Velha pelos olhos e palavras dos seus visitantes Dissertação de Mestrado em Comunicação Organizacional: Cidadania, Confiança e Responsabilidade Social, apresentada na Escola Superior de Educação de Coimbra para obtenção do grau de Mestre Constituição do júri Presidente: Prof. Doutora Maria de Fátima Neves Arguente: Prof. Doutora Susana Lima Orientador: Prof. Doutor José Pedro Cerdeira Orientador: Prof. Doutora Maria do Rosário Campos Data da realização da Prova Pública: 28 de junho de 2016 Classificação: 16 valores junho, 2016 Mestrado em Comunicação Organizacional: Cidadania, Confiança e Responsabilidade Social À minha família – meu marido, minhas filhas - meu património mais precioso! Ao meu tesouro, o meu neto. Se desistir lhe passou pela cabeça? Tenho a certeza que sim, afinal a “Senhora” é humana. Mas nunca o fez. Limpou as lágrimas, recompôs-se e terminou todas as etapas a que se tinha proposto I Escola Superior de Educação | Politécnico de Coimbra Agradecimentos Ao Professor Doutor José Pedro Cerdeira e à Professora Doutora Maria do Rosário Campos que me orientaram e incentivaram a concluir esta etapa da minha vida. Ao meu marido por estar ao meu lado neste meu percurso académico. -

AUTÁRQUICAS 2017 – CONCELHO DE COIMBRA Ficha Técnica
AUTÁRQUICAS 2017 – CONCELHO DE COIMBRA Ficha Técnica Estudo de opinião, da responsabilidade da G.Triplo, Lda., com a colaboração do PolLab, Centro de Estudos e Sondagens da Coimbra Business School – ISCAC. Paulo Noguês foi o responsável técnico. O universo é a população residente no concelho de Coimbra, com 18 anos ou mais de idade. O trabalho de campo decorreu nos dias 19, 20, 21 de Setembro de 2017, entre as 11 horas e as 20,30 horas, e 22 de Setembro de 2017, entre as 10 e as 13 horas. As com entrevistas telefónicas foram realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados. Foram efetuados 834 contactos, dos quais resultaram 678 entrevistas validadas, o que corresponde a uma taxa de resposta de 81,29%. A escolha do lar foi aleatória nas listas telefónicas e o entrevistado em cada contacto foi o elemento que fez anos há menos tempo. Desta forma, a amostra resultou, em termos de género, 46,61% masculino e 53,39% feminino, e no que concerne a segmentação etária, dos 18 aos 29 anos, 14,31%; dos 30 aos 64 anos, 58,26%; 65 e + anos, 27,43%. O erro máximo da amostra é de 3,76%, para uma probabilidade de 95%. AUTÁRQUICAS 2017 Universo 128058 eleitores Trabalho de campo 19, 20 e 21 de setembro.2017 Taxa de aceitação 81,29% Feitos 834 contactos Validados 678 inquéritos MARGEM ERRO Probabilidade 3,76% 95% PERFIL 1. Está recenceado no Concelho de Coimbra? SIM 100,00% NÃO 0,00% 2. Em que freguesia? Almalaguês 2,21% Brasfemes 1,18% Ceira 2,65% Cernache 2,80% Santo António Dos Olivais 28,02% São João Do Campo 1,33% São Silvestre 2,06% Torres Do MonDego 1,47% UF AntuzeDe e Vil De Matos 1,92% UF Assafarge e Antanhol 3,54% UF Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, AlmeDina e São Bartolomeu) 10,03% UF Eiras e São Paulo De Frades 12,24% UF Santa Clara e Castelo Viegas 8,26% UF São MarXnho De Árvore e Lamarosa 1,92% UF São MarXnho Do Bispo e Ribeira De Frades 11,06% UF Souselas e Botão 3,24% UF Taveiro, Ameal e Arzila 3,10% UF Trouxemil e Torre De Vilela 2,95% 3. -

Programa Municipal De Ação Social Escolar
Programa Municipal de Ação Social Escolar apoio à família nas férias escolares – 1º CEB 1 julho e agosto de 2019 [fornecimento de almoços a crianças do 1º CEB sinalizadas com carência alimentar durante os meses de julho e agosto] A Câmara Municipal de Coimbra aprovou, em reunião de 08 de julho de 2019, o Programa Municipal de Ação Social Escolar – Apoio à Família nas férias escolares, para fornecimento de almoços a crianças do 1º CEB durante os meses de julho e agosto, sinalizadas pelas Comissões Sociais de Freguesia e que não estejam abrangidas por outros Programas de Apoio, nomeadamente o Programa de Cantinas Sociais. QUEM BENEFICIA Crianças que tenham frequentado, no ano letivo 2018/2019, os estabelecimentos de ensino da rede pública do Município de Coimbra, posicionadas nos 1º, 2º e 3º escalões de abono de família, sinalizadas pelas Comissões Sociais de Freguesia e que não estejam abrangidas por outros Programas de Apoio, nomeadamente o Programa de Cantinas Sociais. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO Os refeitórios dos jardins de infância estarão abertos das 12h00 às 13h30, para acolher as crianças que forem encaminhadas pelas Comissões Sociais de Freguesia. REFEITÓRIOS DISPONÍVEIS ▪ julho encontram-se em funcionamento os refeitórios dos 33 jardins de infância da rede pública do Município de Coimbra: Estabelecimentos Freguesia Agrupamento de Escolas JI BRASFEMES Junta de Freguesia de Brasfemes RAINHA SANTA ISABEL JI CEIRA Junta de Freguesia de Ceira COIMBRA SUL JI AREEIRO Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais COIMBRA SUL JI MONTES -

1. Pres.Encarnacao.Eng
InIntteegrgraattiionon ooff DDrugrug InIntteervrveenntitioonn SSttrraatteeggiieess aatt tthhee CCiittyy LLeevveell –– TThhee CCaassee ofof CoCoiimmbrabra CCaarrllooss EEnnccaarrnanaççãoão Mayor of Coimbra Götenborg – May 27-29, 2009 PPoorrttuugguueessee FFrraammeewoworkrk MMaaiinn PPllaayyeersrs Supply Side / S. Reduction Demand Side / D. Reduction Police Departments Dissuasion Commissions Health Services • PSP • GNR • NHS • PJ • IDT, IP Judicial System Social Network • Cities Council’s for • Investigation Magistr. Social Intervention • Courts of Law • NGO’s Other National Gov. Depts IDIDTT,, IPIP InInsstittituuttee forfor DDrruuggss aandnd DDrugrug AAddddiicctitionon IDT – Institute for Drugs & Drug Addiction • Mission • Illicit Drugs & Alcohol • Areas of intervention / responsibility • Treatment • Prevention • Risk and Harm Reduction • Rehabilitation • Demand reduction (dissuasion) • Investigation & Epidemiological surveillance • Training • International representation IIDDTT –– IInnsstittituuttee ffoorr DDrrugugss && DDrrugug AAddddictiictionon Main IDT national community intervention programs PIF – Focus Intervention Programs (c. 20 projects funded by IDT – 2 years) • Intervention in leisure spaces / youth music festivals … • Dysfunctional families • Young people with risk behaviors PORI – Operational Program for Integrated Responses • IDT funded programs developed for detected priority territories (92) • RAR methodology (more properly RARE…) • Integrated responses • both at technical and institutional levels • fully evaluated at -

Caderneta Predial Urbana Identificação Do
CADERNETA PREDIAL URBANA SERVIÇO DE FINANÇAS: 0728 - COIMBRA-1. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DISTRITO: 06 - COIMBRA CONCELHO: 03 - COIMBRA FREGUESIA: 36 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CLARA E CASTELO VIEGAS ARTIGO MATRICIAL: 3382 NIP: LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO Av./Rua/Praça: RUA CARLOS ALBERTO PINTO ABREU, N.º 11,13,15 Nº: 11 Lugar: .. Código Postal: 3040- 252 COIMBRA Av./Rua/Praça: Rua Carlos Alberto Pinto Abreu Nº: 15 Lugar: Santa Clara Código Postal: 3040-252 COIMBRA DESCRIÇÃO DO PRÉDIO Tipo de Prédio: Prédio em Regime de Prop. Horiz. Descrição: Um prédio, destinado a comercio ou industria e habitação, composto por: sub-cave, cave, rés-do- chão, 1º, 2º, e 3º andares, constituído no regime de propriedade horizontal. Nº de pisos do artigo: 6 ÁREAS (em m²) Área total do terreno: 380,0000 m² Área de implantação do edifício: 205,0000 m² Área bruta privativa total: 42,7000 m² Área de terreno integrante das fracções: 0,0000 m² FRACÇÃO AUTÓNOMA: B LOCALIZAÇÃO DA FRACÇÃO Av./Rua/Praça: Rua Carlos Alberto Pinto Abreu Nº: 15 Lugar: Santa Clara Código Postal: 3040-252 COIMBRA Andar/Divisão: R/c ELEMENTOS DA FRACÇÃO Afectação: Comércio Tipologia/Divisões: 1 Permilagem: 80,0000 Nº de pisos da fracção: 1 ÁREAS (em m²) Área do terreno integrante: 0,0000 m² Área bruta privativa: 42,7000 m² Área bruta dependente: 16,1000 m² DADOS DE AVALIAÇÃO Ano de inscrição na matriz: 1999 Valor patrimonial actual (CIMI): €63.896,13 Determinado no ano: 2016 Tipo de coeficiente de localização: Comércio Coordenada X: 174.264,00 Coordenada Y: 359.375,00 Mod 1 do IMI nº: 2484367 -

18 Autocarro - Horários 28 Paragens Portagem - Horário Da Rota: VER HORÁRIO DA LINHA Segunda-Feira 07:10 - 20:05
Horários e mapa de autocarro da linha 18 18 Portagem - H. Sobral Cid Ver No Modo Website A linha 18 (autocarro) - Portagem - H. Sobral Cid tem 2 rotas. Nos dias de semana, os horários em que está operacional são: (1) Portagem: 07:10 - 20:05 (2) S. Cid (H): 06:40 - 19:40 Utilize a aplicação Moovit para encontrar a estação de autocarro (18) perto de si e descubra quando é que vai chegar o próximo autocarro de 18. Direção: Portagem 18 autocarro - Horários 28 paragens Portagem - Horário da rota: VER HORÁRIO DA LINHA Segunda-feira 07:10 - 20:05 Terça-feira 07:10 - 20:05 E. N. 110-2 (H. Sobral Cid - Términus L. 10/18) - Sent. Lages Quarta-feira 07:10 - 20:05 E. N. 110-2 (Quinta Da Urgeiriça) - Sent. Castelo Quinta-feira 07:10 - 20:05 Viegas Sexta-feira 07:10 - 20:05 E. N. 110-2 (Castelo Viegas) - Sent. Marco Dos Sábado Não operacional Pereiros Domingo Não operacional E. N. 110-2 (Castelo Viegas - Centro) - Sent. Marco Dos Pereiros E. N. 110-2 - Castelo Viegas - Cemitero - Sent. Marco Pereiros 18 autocarro - Informações Direção: Portagem E. N. 110-2 - Castelo Viegas - Junta De Freguesia - Paragens: 28 Sent. Marco Pereiros Duração da viagem: 30 min Resumo da linha: E. N. 110-2 (H. Sobral Cid - E. N. 110-2 - Marco Dos Pereiros (Sul) - Sent. Términus L. 10/18) - Sent. Lages, E. N. 110-2 (Quinta Assafarge Da Urgeiriça) - Sent. Castelo Viegas, E. N. 110-2 (Castelo Viegas) - Sent. Marco Dos Pereiros, E. N. 110-2 (Castelo Viegas - Centro) - Sent. -

Federação Distrital De Coimbra
FEDERAÇÃO DISTRITAL DE COIMBRA Elementos Eleições Internas Secções e Concelhias - 1 Fevereiro 2020 - Das 16:00 às 20:00 a eleger ARGANIL Sede do PS - Largo Ribeiro de Campos - Arganil COJA Casa do Povo de Côja - Estrada Principal - Côja 21 FOLQUES Sede do PS em Arganil - Largo Ribeiro de Campos - Arganil ANÇA Sede do PS, em Cantanhede - Lg Marquês do Marialva - (por cima do Café Central) CANTANHEDE Sede do PS, em Cantanhede - Lg Marquês do Marialva - (por cima do Café Central) 21 FEBRES Sede do PS, em Cantanhede - Lg Marquês do Marialva - (por cima do Café Central) TOCHA Sede do PS em Cantanhede - Lg Marquês do Marialva - (por cima do Café Central) ALMALAGUES Salão de Anagueis - R. Principal - Almalaguês ALMEDINA Sede da Federação, Rua Oliveira Matos, 21 em Coimbra AMEAL Pastelaria Sabores do Ameal 1º andar ANTANHOL Centro Cultural e Recreativo Valonguense, em Valongo ANTUZEDE Sede da Junta da UF Anruzede/V.Matos, Antuzede ARZILA Serração, lg de igreja ASSAFARGE Grupo Desportivo Recreativo Carvalhais de Baixo - Lg da Relva, Carvalhais de Baixo BOTAO Centro Cultural de Recreio de Larçã BRASFEMES EB1- SALA ATL de Brasfemes CASTELO VIEGAS Sede da Junta Freguesia Castelo Viegas CEIRA Sede da Junta Freguesia de Ceira CERNACHE Pavilhão da União Desportiva e Recreativa de Cernache, Regibós, Cernache EIRAS Sede do PS de Eiras - R. das Almoinhas LAMAROSA Sede da Junta da UF da Lamarosa/S. Martinho Árvore, Rua do Lagar, 9 - Ardazubre 61 RIBEIRA FRADES Sede do Grupo Folclórico Camponeses do Mondego - Ribeira de Frades SANTA CLARA Pavilhão Gimnodesportivo do Clube Futebol Santa Clara SANTA CRUZ Sede da Federação, Rua Oliveira Matos, 21 Coimbra SANTO A. -

Regulamento Interno Usf Rainha Santa Isabel 2017-2019
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. ACES BAIXO MONDEGO CENTRO DE SAÚDE DE SANTA CLARA 2017 USF RAINHA SANTA ISABEL REGULAMENTO INTERNO USF RAINHA SANTA ISABEL Documento elaborado de acordo com o Artigo 10º do Decreto –Lei nº Coordenador: 298/2007 de 22 de Agosto e as Orientações para a elaboração do Regulamento Interno publicado pela Missão para os Cuidados de Saúde Dr. Lineu Palmeira Primários a 31 de Outubro de 2007 Coimbra, janeiro 2017 Pág. 2 REGULAMENTO INTERNO Versão/ Revisão V3 / 10-2017 Próxima Elaborado por: Ana Cristina; Dina Martins; Paula Queirós Revisão 2020 Revisto por: Equipa Multiprofissional e Conselho Técnico USF RSI 10/2017 Aprovado: CONSELHO GERAL USF RSI 20/10/2017 INDICE Pág. INTRODUÇÃO…………………………………………………………………… 6 CAPITULO I USF, EQUIPA, ÁREA GEOGRÁFICA E UTENTES 1 - IDENTIFICAÇÃO DA USF…………………………………………………….… 8 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPA .……………………. 10 3 – ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUÊNCIA E UTENTES…..………………….. 10 CAPÍTULO II MISSÃO, VISÃO E VALORES 1 – MISSÃO…………………………………………………………………………… 13 2 – VISÃO……………………………………………………………………………... 13 3 – VALORES………………………………………………………………………… 13 CAPÍTULO III ESTRUTURA ORGÂNICA E SEU FUNCIONAMENTO 1 – ESTRUTURA INTERNA GERAL………………………………………………. 15 1.1 – CONSELHO GERAL ………..…………………………………………………... 15 1.2 – COORDENADOR DA USF RSI………………………………………………… 15 1.3 – CONSELHO TÉCNICO………………………………………………………….. 16 1.4 – PRINCÍPIOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO…………………………………... 16 1.5 – EQUIPAS DE GESTÃO DE PROGRAMA / PROCESSOS………………..… 17 2 – ORGANIZAÇÃO INTERNA E COOPERAÇÃO INTERDISCIPLINAR……. -

Lista Dos Locais Onde Se Realizarão Sondagens No Dia Da Eleição
Distrito Concelho Freguesia CESOP INTERCAMPUS EUROSONDAGEM Almalaguês CESOP INTERCAMPUS Ceira CESOP Santo António dos Olivais CESOP União das freguesias de Antuzede e Vil de Matos CESOP União das freguesias de Assafarge e Antanhol CESOP INTERCAMPUS Coimbra Coimbra União das freguesias de Eiras e São Paulo de Frades CESOP União das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas CESOP INTERCAMPUS União das freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades CESOP União das freguesias de Souselas e Botão CESOP União das freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela CESOP Alcântara CESOP INTERCAMPUS EUROSONDAGEM Arroios CESOP INTERCAMPUS EUROSONDAGEM Benfica CESOP INTERCAMPUS Campo de Ourique CESOP INTERCAMPUS EUROSONDAGEM Campolide CESOP Lumiar CESOP INTERCAMPUS EUROSONDAGEM Olivais CESOP Lisboa Lisboa Penha de França CESOP INTERCAMPUS EUROSONDAGEM Santo António CESOP São Domingos de Benfica CESOP São Vicente CESOP Alvalade EUROSONDAGEM Belém EUROSONDAGEM Estrela EUROSONDAGEM Misericórdia EUROSONDAGEM Distrito Concelho Freguesia CESOP INTERCAMPUS EUROSONDAGEM Barcarena CESOP INTERCAMPUS Porto Salvo CESOP INTERCAMPUS Oeiras União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo CESOP União das freguesias de Carnaxide e Queijas CESOP INTERCAMPUS União das freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias CESOP Odivelas INTERCAMPUS Lisboa Odivelas União das freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto INTERCAMPUS União das freguesias de Ramada e Caneças INTERCAMPUS Agualva e Mira-Sintra INTERCAMPUS Massamá e Monte Abraão INTERCAMPUS Sintra Rio de Mouro INTERCAMPUS S.Maria, S.Miguel, S.Martinho e S.Pedro INTERCAMPUS Matosinhos e Leça da Palmeira INTERCAMPUS Matosinhos Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo INTERCAMPUS São Mamede de Infesta e Senhora da Hora INTERCAMPUS União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Mira Gaia, S.