Futebol Em Tradução
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Graham Budd Auctions Sotheby's 34-35 New Bond Street Sporting Memorabilia London W1A 2AA United Kingdom Started 22 May 2014 10:00 BST
Graham Budd Auctions Sotheby's 34-35 New Bond Street Sporting Memorabilia London W1A 2AA United Kingdom Started 22 May 2014 10:00 BST Lot Description An 1896 Athens Olympic Games participation medal, in bronze, designed by N Lytras, struck by Honto-Poulus, the obverse with Nike 1 seated holding a laurel wreath over a phoenix emerging from the flames, the Acropolis beyond, the reverse with a Greek inscription within a wreath A Greek memorial medal to Charilaos Trikoupis dated 1896,in silver with portrait to obverse, with medal ribbonCharilaos Trikoupis was a 2 member of the Greek Government and prominent in a group of politicians who were resoundingly opposed to the revival of the Olympic Games in 1896. Instead of an a ...[more] 3 Spyridis (G.) La Panorama Illustre des Jeux Olympiques 1896,French language, published in Paris & Athens, paper wrappers, rare A rare gilt-bronze version of the 1900 Paris Olympic Games plaquette struck in conjunction with the Paris 1900 Exposition 4 Universelle,the obverse with a triumphant classical athlete, the reverse inscribed EDUCATION PHYSIQUE, OFFERT PAR LE MINISTRE, in original velvet lined red case, with identical ...[more] A 1904 St Louis Olympic Games athlete's participation medal,without any traces of loop at top edge, as presented to the athletes, by 5 Dieges & Clust, New York, the obverse with a naked athlete, the reverse with an eleven line legend, and the shields of St Louis, France & USA on a background of ivy l ...[more] A complete set of four participation medals for the 1908 London Olympic -

Two Day Sporting Memorabilia Auction - Day 2 Tuesday 14 May 2013 10:30
Two Day Sporting Memorabilia Auction - Day 2 Tuesday 14 May 2013 10:30 Graham Budd Auctions Ltd Sotheby's 34-35 New Bond Street London W1A 2AA Graham Budd Auctions Ltd (Two Day Sporting Memorabilia Auction - Day 2) Catalogue - Downloaded from UKAuctioneers.com Lot: 335 restrictions and 144 meetings were held between Easter 1940 Two framed 1929 sets of Dirt Track Racing cigarette cards, and VE Day 1945. 'Thrills of the Dirt Track', a complete photographic set of 16 Estimate: £100.00 - £150.00 given with Champion and Triumph cigarettes, each card individually dated between April and June 1929, mounted, framed and glazed, 38 by 46cm., 15 by 18in., 'Famous Dirt Lot: 338 Tack Riders', an illustrated colour set of 25 given with Ogden's Post-war 1940s-50s speedway journals and programmes, Cigarettes, each card featuring the portrait and signature of a including three 1947 issues of The Broadsider, three 1947-48 successful 1928 rider, mounted, framed and glazed, 33 by Speedway Reporter, nine 1949-50 Speedway Echo, seventy 48cm., 13 by 19in., plus 'Speedway Riders', a similar late- three 1947-1955 Speedway Gazette, eight 8 b&w speedway 1930s illustrated colour set of 50 given with Player's Cigarettes, press photos; plus many F.I.M. World Rider Championship mounted, framed and glazed, 51 by 56cm., 20 by 22in.; sold programmes 1948-82, including overseas events, eight with three small enamelled metal speedway supporters club pin England v. Australia tests 1948-53, over seventy 1947-1956 badges for the New Cross, Wembley and West Ham teams and Wembley -
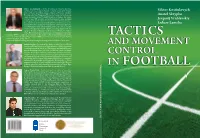
And Movement Control
Viktor Kostiukevych – Doctor of Sciences in Physical Education and Sport, professor, honored coach of Ukrainę, head of the Depart- Viktor Kostiukevych ment of eory and Methodology of Sports of Vinnitsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Lecturer of the licensing Anatol Skrypko center for trainers of the Football Federation of Ukrainę. e author of morę than 300 scienti c and methodological works, in cluding Jevgenij Vrublevskiy 6 monographs, 3 textbooks with the stamp of the Ministry of Educa- tion and Science of Ukrainę, 16 study guides for students and trainers. Łukasz Lamcha Among them the monographs “Management of the training process of football players in the annual training cycle” (2006,2016), “Models of tactics for playing football” (2018), a training manuał with the stamp of Ministry of Education and Science of Ukrainę for students of the Physical Education departments of Pedagogical Universities “Football” (1997), a textbook for students of the faeulty of Physical Education and Sports, “ eory and Methods of Teaching Football” (2009), a book for trainers “Structuring of Training TACTI CS Classes in Football” (2013, 2016). e research eld is modeling and programming the training process of athletes of team sport. Anatol Skrypko – Doctor hab. Eng, Professor at the Faculty of Health Sciences of the State University of Applied Sciences in Kalisz. A graduate AND MOVEMENT of the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics and the Belarusian State University of Phisical Culture in Minsk. Scienti c and didactic activities include issues related to the theory of physical education and sport, biomechanics and anthropomotorics CONTROL and antopotechnics in sport, history and philosophy of science and technology. -
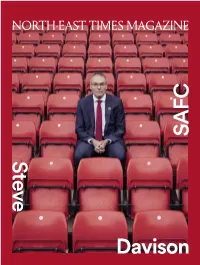
Davison Steve SA FC
SAFC Steve Davison 2 3 North East Times Magazine The voice of business_ No 4 North East Times Magazine The voice of business_ 439 The voice of business 5 North East Times Magazine The voice of business_ The North East has a diverse and distinctive business community, which needs a voice more than ever in these unprecedented times. North East Times is firmly committed to being the voice of the region’s business community, and is dedicated to championing our area’s industry, creativity and innovation. 4Disruption in our lives has been sectors like health and education will commonplace for over a year now and continue to provide us with inspirational has led to tremendous challenges for stories of endeavour and success. most business owners, who devote their North East Times is committed to the lives to keeping their companies going. principles of independent journalism However, it’s also provided many and publishes stories with authority and senior executives with an opportunity to authenticity. review the effectiveness of their product, In such uncertain, fast moving times, service, people and market positioning. it’s essential that businesspeople are The coronavirus pandemic, following up to date with relevant news, insight hot on the heels of Brexit and three and analysis – be it about Government elections in four years, has been a severe economic policies, new products and test for the North East region, one that services or technological innovation. evokes the upheavals of the 1970s when The thirst for such intelligence means we were dealing with a massive oil crisis, a strong B2B platform is essential to industrial strife and a landmark vote to support and champion the region. -

Charlie Buchan
Charlie Buchan 212 born Plumstead, London, 22 September 1891 died Beaulieu Sur Mer, France, 25 June 1960; ashes interred @ Golders Green cemetery Sunderland Appearances: Football League 379 appearances; 209 goals FA Cup 32 appearances; 13 goals Sunderland Debut Spurs 1 v 1 Sunderland, White Hart Lane, 1 April 1911 Sunderland AFC Representative Number 212 Charlie Buchan was one of the all time At the end of the 1911/12 season Buchan Sunderland greats, and pre war perhaps went on holiday to Hamilton, Ontario, the finest striker England produced. He Canada and whilst there was invited to stood an impressive 6ft tall and weighed in play football for a local team. That he did, at 12st 3lbs. with a knotted handkerchief tied round his head to prevent sunstroke, and assisted Born at Plumstead in London he started them in reaching the final. But back home his career with the Northfield club before a photograph of Buchan in a distinctive moving to Leyton Orient having previously yellow and black striped shirt reached left Arsenal in a row over expenses. Signed Roker Park and he was carpeted by by manager Bob Kyle for Sunderland on Manager Bob Kyle. 21 March 1911 for £1,200, he was just 21 when he played in the 1913 FA Cup Final. By the end of his Sunderland career, which He was also an all round sportsman and had lasted some 15 years (4 years lost to had played Cricket for Kent. the war), he was the only red and white to score 200 league goals. Having played Having parents who were both some 379 league games he was Aberdonians he was asked to play for transferred to Arsenal in July 1925. -

Preview Revista 41.Pdf
2 3 PIQUETE DE OJOS. En noviembre de 2004, Javi Navarro fue expulsado por esta jugada que habla por sí sola. Webó se defendió mordiéndole los LEÑEROS dedos... “EL FÚTBOL NO ES PARA BAILARINAS” Esta frase de Gentile tras ‘zurrar’ a Maradona y Zico en España ’82 resume a la perfección cómo se emplean los caciques del área. Repasamos la lista de los defensas más duros de la historia del fútbol español... y de muchas de sus víctimas. AS Color recogía las quejas de Touriño, jugador del Real Madrid, en las que se rebelaba contra las críticas que recibía por su juego duro, justi- ficándose con que “el que no juegue con fuerza no llegará a ninguna parte”. 4 5 GRIFFA, EL CACIQUE. Fue el capo de la zaga atlética en los sesenta. Le decía a Adelardo: “Si el nueve fuese mi padre, le daría igual”. CARLOS A. FORJANES / hora de repartir estopa ya es im- tir como el que más… hasta con pecializó en secar a Gento y Lape- Cortizo, lateral del Zaragoza de PATADAS posible. Hoy, las patadas se ven los puños. En octavos de la Copa tra. Dos muescas: en septiembre los ‘Cinco Magníficos’, que en la VOLADORAS. l fútbol no es para bailari- en ‘slow motion’ y 3D. Y si te la de Europa de 1958 organizó una de 1961 le cayeron cuatro parti- campaña 1964-65 fue castigado El madridista E nas”. Aquella ‘bravata’ de has perdido, algún hincha la cuel- tángana monumental con Marsal. dos por una violenta entrada al za- con 24 partidos por una entrada De Felipe Gentile, tras adoquinar el triunfo ga en Youtube.. -

A HISTORY of CLUB CRICKET in COUNTY DURHAM Chapter One
A HISTORY OF CLUB CRICKET IN COUNTY DURHAM Chapter One..........The eighteenth century In the beginning The first recorded cricket match in Durham was at Raby Castle in 1751. It was five years after the Duke of Cumberland and bayoneted Redcoats slogged through the county’s mud on their way to the Battle of Culloden. Defoe’s account of his travels through Great Britain had not long been published. Defoe found nothing remarkable in Darlington or Chester-le-Street except “dirt” but was impressed by Lumley Castle and acknowledged Lumley coal the best in the country. He thought Durham a “compact neatly contriv’d city” where clergy lived “in all the splendour and magnificence imaginable”. Durham cathedral and Saint Cuthbert’s remains were a shrine for pilgrims but the city was a vulnerable haven riding on a cut-throat sea. The poor lived in slums; the populace was prey to vagabonds, footpads and highwaymen. The Bishop of Durham bewailed “the scorn of religion”. His flock scratched a living on the land or burrowed beneath it for lead and coal; their leisure centred upon drinking and blood sports like cock-fighting. In 1742 John Wesley came across a village “inhabited by colliers only, and as such had been always in the first rank for savage ignorance, and wickedness of every kind. Their grand assembly used to be on the Lord’s Day on which men, women and children met together to dance, fight, curse, and swear, and play chuck-ball, span farthing, or whatever came to hand.” Somehow, sometime the game of cricket took root in these parts. -

Specialist Autograph Auction Saturday 12 July 2014 11:00
Specialist Autograph Auction Saturday 12 July 2014 11:00 International Autograph Auctions (IAA) Office address Foxhall Business Centre Foxhall Road NG7 6LH International Autograph Auctions (IAA) (Specialist Autograph Auction) Catalogue - Downloaded from UKAuctioneers.com Lot: 1 boxing ring, standing over Sonny Liston who lies on the canvas BOXING: A printed 8vo menu for a luncheon hosted by Jack before him. Signed ('Muhammad Ali aka Cassius Clay') in bold Solomons at Isow's Restaurant and Jack of Clubs nightspot in gold ink to a clear area of the background. Double matted in London in honour of the former World Champion boxers Max blue and white and framed and glazed in a gold coloured frame Baer, Henry Armstrong and Gus Lesnevich, 29th October 1958, to an overall size of 22.5 x 26.5. EX signed to the inside by fifteen boxers including Max Baer (World Estimate: £200.00 - £300.00 Heavyweight Champion 1934-35), Henry Armstrong (World Featherweight Champion 1937-38, World Welterweight Champion 1938-40 and World Lightweight Champion 1938-39), Lot: 6 Gus Lesnevich (World Light Heavyweight Champion 1941-48), FRAZIER JOE: (1944-2011) American Boxer, World Carlo Ortiz (World Lightweight Champion 1962-65, 1965-68), Heavyweight Champion 1970-73. Signed colour 8 x 10 Rinty Monaghan (World Flyweight Champion 1947-49), Terry photograph of Smokin' Joe standing in a full length boxing Downes (World Middleweight Champion 1961-62), Bruce pose. Signed in bold green ink with his name alone to a light Woodcock (European Heavyweight Champion 1946-49), Peter area of the image. EX Waterman (European Welterweight Champion 1958), Len Estimate: £80.00 - £100.00 Harvey (British Heavyweight Champion 1938-42), Johnny Williams (British Heavyweight Champion 1952-53), Harry Mizler (British Lightweight Champion 1934), Eric Boon (British Lot: 7 Lightweight Champion 1938-44), Sammy McCarthy (British NORTON KEN: (1943-2013) American Boxer, WBC Featherweight Champion 1954-55), Pat Supple and one other. -

Wembley Is the Cathedral of Football...’ Pele
Bob Bond was born in Lancashire Bob Bond takes us on a nostalgic journey through at the start of the Second World football history, from the first FA Cup Final played War. He always loved drawing, and began to illustrate children’s comics at Wembley Stadium in 1923 through to the in the 1960s before moving, at the modern era. This captivating collection of match behest of his employer, into drawing sports stories. cartoons will evoke fond and light-hearted Home of English Football: 100 Years of Bob moved to the south of England 40 years ago, memories of a time when football cartoons were a Wembley Stadium in Cartoons and Caricatures and continues to illustrate football books, magazines is a treasure trove of English football history. feature in most newspapers. and programmes with cartoons, caricatures and Within these pages you will discover: serious drawings. He has written and illustrated a number of club histories. Readers will see how the game evolved through almost The afternoon when a man on a white horse made football history a century of Wembley cartoons, with each illustration contextualised with memories or explanations and a concise The day England were dismantled by Scotland’s wee wizards match report. Every era has its famous players, and the book also holds over 100 caricatures of footballers and The sunny afternoon when Stanley Matthews took home an elusive FA Cup winner’s medal managers who made Wembley a special place. The shocking November day when Ferenc Puskas Home of English Football is guaranteed to delight and his magical Magyars rode into town and proved England were no longer invincible parents and grandparents with a yearning for days of yore, but it will also fascinate younger A day when it was Scotland’s turn to leak goals by the bucket-load fans who were raised in the digital age. -

The Chichester-Clarks Genet on Black Power Creedence Clearwater
The Chichester-Clarks Genet on Black Power B la c k Creedence Clearwater Vietnam / Trinidad/Cuba D w arf Jack Straw/Mao Established 1817 Vol 14 No 33 10th May 1970 Price 2/- The Black Dwarf 10th May 1970 Page 2 No Foreign Troops Tinfoil Tiger, in Trinidad! we go to press the U. S. and unreported, strikes grew in fre The Apollo 13 space mission should a whole it is just one more Television Guadalcanal, with 15 helicopters and quency. Above all, illegal activity in be the last for a very long time. show. It may bedazzle them, they .000 marines on board, is steaming creasingly forced the unions to These particular extravaganzas of may get sucked into the orgy of towards Trinidad. Two British the capitalist spectacle have already national tub-thumping that surrounds rigates, the Sirus and the Jupiter, become political organisations so consumed enough of the world’s re it, they may “itentify” with the and five other U. S. warships have much so that they now constitute a sources and technology. They have glamourised stars at the centre of it taken positions off the coast. The real extra-parliamentary political already sickened people enough with all. But they are not involved in it, ayana and Jamaican armies are opposition. As discontent among the their flag-waving ballyhoo and their they have not helped to create it, and r eady for action. Venezuelan workers has increased, the militant shoddy chauvinism. they are certainly not the ones who warships and planes have been unions have gained in strength. -

Arsenal Football Club 1968-69
- SEASON 1968-69 FOOTBALL LEAGUE DIVISION ONE Saturday, 31 st August ARSENAl v QUEEN'S PARK RANGERS Kick-off 3 p.m. ARSENAL STADIUM OFFICIAL PROGRAMME ONE SHILLING arsenal.com thearsenalhistory.com obvious case in point. We, at the moment are up at League Cup, but we have met three times in the F.A. FOOTBALL CLUB LIMITED the top in the table whereas Queen's Park Rangers Cup. Sunderland won 6-0 in 1893; we turned the ARSENAL are striving hard to find their feet in First Division tables to the tune of 5-0 in 1906, and Sunderland Directors football, but that does not mean that Rangers will be won 2-1 in 1961 ... so it should be our turn D. J.C. H. HILL-WOOD, EsQ., M.C., M.A. (Chairman) any easier to beat than any other side we have already now! We hope you will be there in strength to provide LEAGUE CHAMPIONS F .A. CUP WINNERS SIR GUY BRACEWELL SMITH, BT., M.B.E., M.A. 1930, 1936, 1950. met this season. One day, perhaps, they are going to the Cup-tie atmosphere and give our boys the 1931, 1933, 1934, SIR ROBERT BELLINGER, G.B.E., D.Sc. hit the form which has brought them honours during encouragement which means so much on the big 1935, 1938, 1948, S. C. McINTYRE, EsQ., M.B.E., F.c.r.s. 1953. LOSING FINALISTS the past few seasons. It could be today, so this is not occasion. P. D. HrLL-WooD, EsQ. 1927' 1932, 1952. -

TACTICAL EVOLUTION of the GAME from Alcock's Dribbling Game of 1860 to 4-3-3 Formation of XXI Century ALCOCKALCOCK’’SS DRIBBLINGDRIBBLING GAMEGAME
NEPEANNEPEAN HOTSPURSHOTSPURS SOCCERSOCCER CLUBCLUB BORISBORIS BAJAGIC,BAJAGIC, CSACSA ““AA”” LicensedLicensed CoachCoach TACTICAL EVOLUTION OF THE GAME From Alcock's Dribbling Game of 1860 to 4-3-3 Formation of XXI Century ALCOCKALCOCK’’SS DRIBBLINGDRIBBLING GAMEGAME The earliest soccer “formation” emerged in 1860 when soccer teams were gradually splitting into two camps –association football and rugby football. Until 1860 most codes prohibited forward passing altogether necessitating forward movement of the ball by dribbling only. C.W. Alcock and his club Wanderers FC, the chief proponents of the dribbling game, argued that it represented pure soccer, as distinct from rugby where passing the ball (albeit by hand) was a distinctive trait. In the dribbling game, there were seven (or eight) forwards, each a dribbling expert, one or two fullbacks in support of the attack, and one fullback to challenge the opposing dribbler. ALCOCKALCOCK’’SS DRIBBLINGDRIBBLING GAMEGAME GOALKEEPER FULLBACK RIGHT HALFBACK LEFT HALFBACK FORWARDS SCOTTISHSCOTTISH PASSINGPASSING GAMEGAME Queen’s Park Glasgow, the Scottish national team, and the London club Royal Engineers created the first tactical revolution during the 1870s when they introduced the concept of passing among their players. The soccer-rugby split had occurred by this time, and the passing game was the first sign that soccer was maturing. To accommodate the increased goal scoring potential, another fullback was added on defense, thus reducing the forward line to six players. The Scottish method was eventually perfected by the English amateur club Corinthians during the 1880s, and became commonplace. Ultimately, it signaled the birth of modern soccer SCOTTISHSCOTTISH PASSINGPASSING GAMEGAME GOALKEEPER RIGHT FULLBACK LEFT FULLBACK RIGHT HALFBACK LEFT HALFBACK FORWARDS THETHE CLASSICCLASSIC FORMATIONFORMATION 22--33--55 The development of passing techniques spelled the need for tighter, more sophisticated defenses, and in the late 1870s a third halfback was seen on some teams (Cambridge University, 1977 and Wrexham F.