Rádios Locais
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bareme Rádio
www.marktest.com DIRECÇÃO DE ESTUDOS DE MEIOS [email protected] PRESS RELEASE - BAREME RÁDIO RESULTADOS DA VAGA DE FEVEREIRO 2021 (1ª Vaga 2021) REACH AUDIÊNCIA SHARE DE SEMANAL ACUMULADA DE AUDIÊNCIA GRUPO/ESTAÇÃO % VÉSPERA % % TOTAL RÁDIO 83,6 56,6 100,0 Grupo Renascença Multimédia (1) 48,8 23,9 32,4 RFM 35,8 16,3 22,6 Renascença 14,9 6,1 6,5 Mega Hits 8,3 2,9 2,7 R. Sim 0,7 -- -- Grupo Media Capital Rádios (2) 50,9 26,8 39,5 R. Comercial 38,6 17,7 25,1 M80 17,8 7,9 10,6 Cidade FM 9,4 3,0 2,8 Smooth FM 2,7 0,8 0,8 Vodafone FM 0,6 -- -- Grupo RTP (3) 14,2 7,3 8,6 Antena 1 9,9 5,2 5,6 Antena 3 4,3 1,6 1,7 Antena 2 1,5 0,8 0,9 TSF 8,3 3,3 2,8 R.Nova Era 2,1 0,7 0,7 R. Amália 1,7 -- -- Estação Orbital 1,4 -- -- R.Festival 1,3 -- -- R.Observador 0,8 -- -- Radar 0,6 -- -- R.Hiper FM 0,6 -- -- R. Noar 0,6 -- -- R.Meo Sudoeste 0,5 -- -- R.Marginal 0,3 -- -- R.Oxigénio 0,3 -- -- SBSR FM 0,3 -- -- Outras Estações(4) 12,8 10,5 15,0 Não sabe Estação 2,8 1,2 1,5 UNIVERSO 8 563 501 8 563 501 8 563 501 (1) Inclui R.Renascença, RFM, Mega Hits e R. Sim (2) Inclui R.Comercial, Cidade FM, M80, Vodafone FM e Smooth FM (3) Inclui Antena 1, Antena 2, Antena 3 e RDP África (4) Inclui todas as estações não pertencentes a grupos e que não têm presença no indicador em questão Nota : São apresentados resultados para todas as estações que tenham um mínimo de 30 referências na amostra, no indicador em questão. -

Comunicação Nos Videojogos
Comunicação e Sociedade, vol. 28, 2015 1 nº 28 | 2015 www.revistacomsoc.pt Título | Title: Mobilidades, Media(ções) e Cultura / Mobilities, Media(tions) and Culture Diretor | Journal Editor: Moisés de Lemos Martins Diretor Adjunto | Associate Editor: Manuel Pinto Editores Temáticos | Volume Editors n.º 28 – dezembro | december 2015: Emília Araújo, Denise Cogo & Manuel Pinto Conselho Editorial | Editorial Board Alain Kiyindou (Universidade de Bordéus 3), Ana Cláudia Mei Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Anabela Carvalho (Universidade do Minho), Annabelle Sreberny (London Middle East Institute), Barbie Zelizer (Universidade da Pensilvânia), Cláudia Álvares (Universidade Lusófona de Lisboa), David Buckingham (Universidade de Loughborough), Cláudia Padovani (Universidade de Pádua), Divina Frau-Meigs (Universidade de Paris III - Sorbonne), Fabio La Rocca (Centre d’Études sur l’Actuel et le Quotidien - Sorbonne), Felisbela Lopes (Universidade do Minho), Fernanda Ribeiro (Universidade do Porto), Filipa Subtil (Escola Superior de Comunicação Social, do IPL), Gustavo Cardoso (ISCTE-IUL), Hannu Nieminen (Universidade de Helsínquia), Helena Sousa (Universidade do Minho), Immacolta Lopes (Universidade de São Paulo), Isabel Ferin (Universidade de Coimbra), Ismar Oliveira Soares (Universidade de São Paulo), Janet Wasco (Universidade de Oregon), José Manuel Pérez Tornero (Universidade Autónoma de Barcelona), Lídia Oliveira (Universidade de Aveiro), Madalena Oliveira (Universidade do Minho), Maria Michalis (University of Westeminster), -

AF Grelhacanais
Abr.19 Grelha de canais Fibra Grelha de canais Fibra A grelha de canais da NOS está organizada por temática, para que tenha uma experiência de zapping intuitiva e aceda de forma imediata aos canais da sua preferência. A NOS agrupou ainda os canais em Alta Definição (HD) no final de cada temática para que os encontre facilmente, com exceção das primeiras 20 posições da grelha, onde pode encontrar a melhor qualidade disponível de cada canal. Lembramos que os canais estão disponíveis mediante o pacote subscrito. Generalistas Entretenimento 1 RTP 1 HD 56 E! Entertainment 2 RTP 2 57 FTV 3 SIC HD 58 BBC Entertainment 4 TVI 70 Canal Q 5 SIC Notícias HD 71 TLC 6 RTP 3 72 MTV Portugal 7 TVI 24 82 E! Entertainment HD 8 CMTV HD 83 FTV HD 10 Globo HD 96 24 Kitchen HD 11 SIC Mulher HD 97 Food Network HD 12 TVI Reality 98 MTV Portugal HD 13 Porto Canal HD 99 Fine Living Network HD 14 SIC Caras HD 170 Globo NOW HD 15 SIC Radical HD 180 Canal 180 16 RTP Memória 250 DogTV 36 Porto Canal HD 441 Hispasat 4K 301 RTP 1 442 Canal NOS 4K 303 SIC 700 Canal NOS 305 SIC Notícias 308 CMTV 310 Globo Documentários 311 SIC Mulher 100 Discovery Channel 313 Porto Canal 105 National Geographic 314 SIC Caras 107 National Geographic WILD 315 SIC Radical 109 Odisseia 110 Travel Channel 112 Canal de História Desporto Nacional 113 Crime + Investigation 9 Sport TV + HD 114 Blaze 19 Sport TV 1 115 Discovery Showcase HD 20 Sport TV 2 116 National Geographic HD 21 Sport TV 3 117 National Geographic WILD HD 22 Sport TV 4 118 Odisseia HD 23 Sport TV 5 119 Travel Channel HD 24 Sport -

Outubro – 2017
MESTRADO MARKETING TRABALHO FINAL DE MESTRADO TRABALHO DE PROJETO PLANEAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS: PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING PARA O EVENTO QUEIMA DAS FITAS COIMBRA 2018 JOÃO DUARTE GALO NEVES DA SILVA OUTUBRO – 2017 MESTRADO EM MARKETING TRABALHO FINAL DE MESTRADO TRABALHO DE PROJETO PLANEAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS: PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING PARA O EVENTO QUEIMA DAS FITAS COIMBRA 2018 JOÃO DUARTE GALO NEVES DA SILVA ORIENTAÇÃO: PATRÍCIA TAVARES OUTUBRO - 2017 RESUMO Este trabalho, tem como finalidade, a elaboração de um Plano de Comunicação Integrada de Marketing (CIM) para o evento Queima das Fitas Coimbra 2018, tendo por isso enfoque na temática de comunicação em eventos. Concorreram para o desenvolvimento deste projeto o facto da organização possuir pouco know how na área da comunicação e os seus constrangimentos em recursos financeiros. A elaboração deste plano visa alcançar um aumento de notoriedade, um incremento em bilhética, o crescimento de visitantes, uma melhor coordenação das ferramentas de comunicação e o reforço da identidade do evento. No que concerne à metodologia adotada neste plano, o objetivo do estudo foi descritivo e a estratégia adotada a action research. Este projeto assumiu um tipo de estudo com recurso a métodos mistos, utilizando uma amostragem não probabilística, sendo que as técnicas de recolha de dados incluíram dados secundários e a recolha de dados primários, através de entrevistas semiestruturadas, questionários e análise qualitativa de conteúdo de publicações em redes sociais. Os resultados obtidos permitiram concluir que o principal público-alvo – estudantes do Ensino Superior em Coimbra, identifica os canais digitais como a ferramenta de comunicação preferencial e, apesar da notoriedade positiva do evento, existem alguns sinais de perda de identidade enquanto o mais tradicional evento académico do país. -

Radio Mobility in the Digital Era: Interactivity, Participation and Content Share Possibilities in Iberian Broadcasters
Comunicação e Sociedade, vol. 28, 2015, pp. 291 – 308 doi: http://dx.doi.org/10.17231/comsoc.28(2015).2282 Radio mobility in the digital era: interactivity, participation and content share possibilities in Iberian broadcasters Teresa Piñeiro-Otero & Fábio Ribeiro Abstract In the context of the scientific research into radio, recent years have encouraged many theories about the meaning of a post-radio (Oliveira & Portela, 2011), thus enlisting several pa- rameters regarding the inclusion of contemporary radio in the digital and online environments. This digital migration has led to the development of mobile applications for radio, broadening the communicative potential of audiences (Aguado, Feijoo & Martínez, 2013), as well as pro- moting convergence of interactive content among listeners-users. Aware of this opportunity, the main broadcasters in Spain and Portugal have broadened their radiophonic scope to the mobile platform, especially geared towards smartphones through the development of mobile applica- tions, commonly known as apps (Cerezo, 2010). As a symbol of a culture in permanent changing, smartphones not only provide greater easiness in terms of access and interaction, but also af- ford larger opportunities for disseminating content among audiences, a phenomenon that some studies have labelled as user distributed content (Villi, 2012). This article presents an exploratory analysis of the current policies of the main Spanish and Portuguese radio broadcasters regarding mobile applications, evaluating the different levels of interaction and participation in these plat- forms. This observation led to the conclusion, among other findings, that the mobile platform represents a supplementary channel for traditional FM radio, rather than a new medium with its own language and expression. -

Mapa De Frequências - Página 1 De 31 - Actualizado a 22-08-2019
Mundo Da Rádio – mapa de frequências - página 1 de 31 - actualizado a 22-08-2019 http://www.mundodaradio.com Mapa de frequências das principais rádios nacionais e regionais em Portugal continental, Madeira e Açores. Introdução: O presente documento tem como principal objectivo ajudar os inúmeros ouvintes de rádio que por vezes se deparam com a necessidade de saber a frequência da sua rádio favorita, mas sentem dificuldades em saber qual(is) os emissor(es) que serve(m) a sua região. Neste contexto, atendendo ao inúmeros pedidos que, ao longo dos últimos tempos, tenho recebido, senti-me compelido a facilitar o trabalho a todos os interessados, criando um documento onde sucintamente se divulga as frequências que servem cada distrito, sintetizando muita informação disponível no site “Mundo da Rádio” e noutras fontes na Internet. Apesar dos esforços envidados na melhoria contínua deste projecto, o mesmo continua a ser susceptível a erros e/ou omissões não intencionais; conto com o apoio de todos os leitores no sentido de identificar quaisquer incorrecções no conteúdo do documento. A minha caixa de correio electrónico (mundodaradio @ gmail.com) estará sempre aberta para quaisquer sugestões, rectificações e comentários relativos a este trabalho. Por fim, recordo que este documento está não só disponível no Scribd (http://pt.scribd.com/doc/13497962/MundoDaRadio-mapa-de-frequencias), mas também em formato electrónico (PDF, documento do MS Word e em Open Document [ODT]) no sítio “Mundo da Rádio”, através do endereço : http://www.mundodaradio.com/mapa_frequencias.html . Cumprimentos, Luís Carvalho MundoDaRádio.com Mundo Da Rádio – mapa de frequências - página 2 de 31 - actualizado a 22-08-2019 Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. -

I Pa to Do B Ad E Uity E Wo D-Of-Mouth Ee Ido a Satisfação E I Te Ção De Co P A
Hugo Simões Fernandes Ipato do Bad Euity e Wod-of-Mouth eeido a Satisfação e Iteção de Copa. Estudo do caso de Co-Branding: VodafoneFm. Dissertação de Mestrado em Marketing, apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra para a obtenção de grau de Mestre Orientador: Prof. Doutor João Dias Fontes da Costa Coimbra, 2016 ii Agradecimentos Agradeço do fundo do coração o apoio incondicional da minha família e amigos. Obrigado. iii iv “All my life I've been searching for something, something never comes never leads to nothing, nothing satisfies but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope.” Foo Fighters , letra retirada da música All My Life. v vi Resumo Numa era em que a aproximação das relações com os consumidores é altamente valorizada como fator diferenciador, seria interessante mensurar e por consequência avaliar os resultados de algumas ações por parte das empresas. De alguma forma é difícil mensurar algo intangível, daí o desafio em usar um caso de estudo para servir de base a uma análise emocional relativamente aos consumidores. Neste caso, seria o movimento cultural/musical VodafoneFm (VFM) em que a transmissão dura há cinco anos em formato analógico e digital (internet). VodafoneFm entende-se como a seletividade musical apresentada em diversas formas de conteúdos: Rádio, Festivais, Concursos de bandas, Lançamento e Produção de álbuns discográficos. VodafoneFm trata-se de um conceito e não apenas de uma atividade em concreto por parte da marca. Tendo este exemplo como base de estudo, pretende-se avaliar o impacto no Brand Equity e Word- of-Mouth (WoM) recebido na Satisfação do consumidor. -

O Mercado Da Música Urbana Em Portugal: Estudo
. Raphael Diego de Mesquita O mercado da música urbana em Portugal: Estudo de Caso “Music In My Soul” Relatório de Estágio de Mestrado em Estudos Artísticos, orientado pelo Doutor Paulo Estudante, apresentada no Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Setembro/2016 1 Faculdade de Letras O mercado da música urbana em Portugal: Estudo de Caso “Music In My Soul” Ficha Técnica: Tipo de trabalho Relatório de estágio Título O mercado da música urbana em Portugal: Estudo de Caso “Music In My Soul” Autor/a Raphael Diego de Mesquita Orientador/a Paulo Estudante Júri Presidente: Doutor Sérgio Emanuel Dias Branco Vogais 1. Doutor Paulo Eugénio Estudante Dias Moreira 2. Doutor Sílvio Manuel Rodrigues Correia dos Santos Identificação do Curso 2º Ciclo de Estudos Artísticos Especialidade Estudos Musicais Data da defesa 24-10-2016 Classificação 15 valores Indice - Resumo ------------------------------------------------------------------------------- 1 - Introdução ---------------------------------------------------------------------------- 3 - Breve Glossário de conceitos ------------------------------------------------------ 4 - Parte 1 Capitulo 1 - Indústria Fonográfica Portuguesa --------------------------- 7 Capítulo 2 – A indústria Fonográfica na era digital --------------------- 13 Capítulo 3 – A música ao vivo como o novo paradigma --------------- 25 - Parte 2: Estudo de Caso Capítulo 4 - Enquadramento da Instituição de Estágio ----------------- 33 Capítulo 5 – Estágio -

Lista De Canais Digitais Disponíveis Sem Box
Abr18 Lista decanaisdigitais disponíveis sem box sembox disponíveis Lista de canais digitais disponíveis sem box Portugal Continental Posição Canal Tipo Freq. SR Mod 1 RTP 1 Canal TV 714 6875 QAM64 2 RTP 2 Canal TV 714 6875 QAM64 3 SIC Canal TV 714 6875 QAM64 4 TVI Canal TV 714 6875 QAM64 5 SIC Notícias Canal TV 714 6875 QAM64 6 RTP 3 Canal TV 714 6875 QAM64 7 TVI 24 Canal TV 458 6875 QAM256 8 CMTV Canal TV 346 6875 QAM256 9 Sport TV+ Canal TV 442 6875 QAM256 10 Globo Canal TV 458 6875 QAM256 11 SIC Mulher Canal TV 466 6875 QAM256 12 TVI Reality Canal TV 466 6875 QAM256 13 Porto Canal Canal TV 442 6875 QAM256 14 SIC Caras Canal TV 394 6875 QAM256 15 SIC Radical Canal TV 442 6875 QAM256 16 RTP Memória Canal TV 458 6875 QAM256 24 Sport TV+ HD Canal TV 418 6875 QAM256 34 Sporting TV Canal TV 434 6875 QAM256 35 Sporting TV HD Canal TV 296,5 6000 QAM256 37 Porto Canal HD Canal TV 338 6875 QAM256 40 Disney Channel Canal TV 394 6875 QAM256 41 Nickelodeon Canal TV 426 6875 QAM256 42 Canal Panda Canal TV 410 6875 QAM128 43 Biggs Canal TV 346 6875 QAM256 44 Disney Junior Canal TV 442 6875 QAM256 45 Cartoon Network Canal TV 434 6875 QAM256 46 Nick Jr. Canal TV 434 6875 QAM256 55 Hollywood Canal TV 458 6875 QAM256 58 BBC Entertainment Canal TV 338 6875 QAM256 59 AXN Black Canal TV 394 6875 QAM256 60 AXN Canal TV 426 6875 QAM256 61 AMC Canal TV 426 6875 QAM256 62 FOX Life Canal TV 426 6875 QAM256 64 FOX Canal TV 426 6875 QAM256 69 AXN White Canal TV 426 6875 QAM256 70 Canal Q Canal TV 434 6875 QAM256 71 TLC Canal TV 466 6875 QAM256 72 MTV Portugal Canal TV 378 6875 QAM256 73 TV Record Canal TV 458 6875 QAM256 81 Hollywood HD Canal TV 370 6875 QAM256 84 AMC HD Canal TV 418 6875 QAM256 86 AXN HD Canal TV 402 6875 QAM256 87 AXN Black HD Canal TV 450 6875 QAM256 88 Fox Life HD Canal TV 450 6875 QAM256 89 FOX HD Canal TV 402 6875 QAM256 93 AXN White HD Canal TV 450 6875 QAM256 96 24 Kitchen HD Canal TV 450 6875 QAM256 98 MTV Portugal HD Canal TV 362 6875 QAM256 Abril 2018 Lista de canais digitais disponíveis sem box Portugal Continental Posição Canal Tipo Freq. -

Relatório Agosto 2019
RELATÓRIO AGOSTO 2019 Relatório Publicidade Institucional do Estado – agosto 2019 1 1. NOTAS PRÉVIAS A Entidade Reguladora para a Comunicação Social tem por competência, nos termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 10.º da Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, verificar e fiscalizar o cumprimento dos deveres de comunicação e transparência previstos na lei, sobre as campanhas de Publicidade Institucional do Estado, bem como a aplicação da percentagem a afetar a órgãos de comunicação local e regional em cada campanha. As entidades abrangidas por esta norma, designadamente os serviços da administração direta do Estado, os institutos públicos e as entidades que integram o setor público empresarial do Estado, devem comunicar à ERC os custos da aquisição de espaço publicitário para a realização de campanhas de publicidade institucional do Estado, «até 15 dias após a sua contratação, através do envio de cópia da respetiva documentação de suporte», em conformidade com o artigo 7.º da referida lei. No cumprimento do disposto no artigo 11.º do referido normativo, a ERC elabora relatórios mensais, a publicar no sítio desta entidade, tendo como fonte a informação inserida pelas entidades promotoras das campanhas na Plataforma Digital de Publicidade Institucional do Estado. 2. INVESTIMENTOS COMUNICADOS NA PLATAFORMA DIGITAL DA ERC No mês de agosto de 2019, foram comunicadas despesas de aquisição de espaços publicitários relativas a oito ações informativas e publicitárias, promovidas por um total de cinco entidades, abrangidas pela norma em apreço (Figura1). As entidades inseriram na Plataforma Digital a necessária documentação de suporte, a qual foi considerada adequada e suficiente face ao exigido no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n. -

Press Release Resultados Da Vaga De Fevereiro 2020
PRESS RELEASE DIRECÇÃO DE ESTUDOS DE MEIOS [email protected] www.marktest.com RESULTADOS DA VAGA DE FEVEREIRO 2020 (1ª Vaga 2020) REACH AUDIÊNCIA SHARE DE SEMANAL ACUMULADA DE AUDIÊNCIA GRUPO/ESTAÇÃO % VÉSPERA % % TOTAL RÁDIO 84,0 59,7 100,0 Grupo Renascença Multimédia (1) 51,6 26,8 35,2 RFM 38,2 18,7 25,7 Renascença 14,3 6,0 6,7 Mega Hits 8,2 2,9 1,9 R. Sim 1,7 0,8 0,9 Grupo Media Capital Rádios (2) 50,6 27,9 37,7 R. Comercial 37,3 19,0 24,1 M80 17,8 7,2 9,0 Cidade FM 10,4 3,7 2,6 Smooth FM 2,9 1,0 1,5 Vodafone FM 1,1 0,5 0,5 Grupo RTP (3) 14,1 6,8 8,6 Antena 1 9,5 4,5 5,5 Antena 3 5,3 2,1 2,7 Antena 2 1,4 0,5 0,4 TSF 8,7 3,7 3,3 Outras Estações (4) 26,1 10,1 13,6 Não sabe Estação 3,8 1,6 1,6 UNIVERSO 8 563 501 8 563 501 8 563 501 (1) Inclui R.Renascença, RFM, Mega Hits e R. Sim (2) Inclui R.Comercial, Cidade FM, M80, Vodafone FM e Smooth FM (3) Inclui Antena 1, Antena 2, Antena 3 e RDP África (4) Todas as estações que não fazem parte dos grupos anteriores Nota 1: Apenas são apresentados resultados das estações que (A) façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis regiões MARKTEST) e (B) tenham um mínimo de 30 referências na amostra, no indicador em questão. -
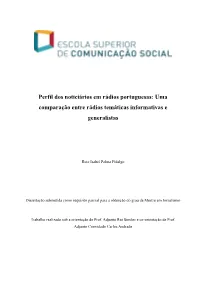
Uma Comparação Entre Rádios Temáticas Informativas E Generalistas
Perfil dos noticiários em rádios portuguesas: Uma comparação entre rádios temáticas informativas e generalistas Rute Isabel Palma Fidalgo Dissertação submetida como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Jornalismo Trabalho realizado sob a orientação de Prof. Adjunto Rui Simões e co-orientação de Prof. Adjunto Convidado Carlos Andrade DECLARAÇÃO Declaro ser a autora original deste trabalho. É um trabalho original, que nunca foi submetido para avaliação noutra instituição de ensino superior para a obtenção de um grau académico ou qualquer outra habilitação. Certifico ainda que todas as citações estão devidamente identificadas. Tenho também consciência que o plágio poderá levar à anulação do trabalho agora apresentado. A candidata, ________________________ II RESUMO Este trabalho é um estudo sobre a informação transmitida diariamente pelas rádios. Existem inúmeros estudos sobre a informação radiofónica das emissoras temáticas de notícias, mas poucos ou nenhuns sobre a informação que é veiculada pelas generalistas, que representam uma parte substancial das mais ouvidas em Portugal. A presente tese divide-se em três capítulos: o primeiro onde se expõem alguns elementos do percurso histórico da Rádio em Portugal, bem como do jornalismo radiofónico e as suas especificidades, que fazem dele único face ao jornalismo televisivo e escrito. A seguir procede-se a uma análise do trabalho do jornalista de rádio e um escrutínio daquilo que é escrever noticias para a rádio, e quais as principais decisões que estão por detrás deste trabalho. No terceiro capítulo, são feitas então as conclusões da análise do conteúdo das quatro rádios mais ouvidas em Portugal1, excluindo as rádios destinadas para o público juvenil, cujos blocos informativos são praticamente nulos, não se podendo assim fazer uma comparação com espaços noticiosos de hora a hora.