Cadernos De Estudos Africanos, 26
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gil Vicente FC Belenenses SAD
JORNADA 16 Gil Vicente FC Belenenses SAD Domingo, 12 de Janeiro 2020 - 15:00 Estádio Cidade de Barcelos, Barcelos ORGANIZADOR POWERED BY Jornada 16 Gil Vicente FC X Belenenses SAD 2 Confronto histórico Ver mais detalhes Gil Vicente FC 10 13 15 Belenenses SAD GOLOS / MÉDIA VITÓRIAS EMPATES VITÓRIAS GOLOS / MÉDIA 33 golos marcados, uma média de 0,87 golos/jogo 26% 34% 39% 46 golos marcados, uma média de 1,21 golos/jogo TOTAL GIL VICENTE FC (CASA) BELENENSES SAD (CASA) CAMPO NEUTRO J GVFC E BEL GOLOS GVFC E BEL GOLOS GVFC E BEL GOLOS GVFC E BEL GOLOS Total 38 10 13 15 33 46 7 6 6 19 19 3 7 9 14 27 0 0 0 0 0 Liga NOS 30 9 10 11 27 34 6 4 5 15 16 3 6 6 12 18 0 0 0 0 0 LigaPro 4 0 2 2 2 8 0 2 0 2 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 Allianz Cup 4 1 1 2 4 4 1 0 1 2 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 J=Jogos, E=Empates, GVFC=Gil Vicente FC, BEL=Belenenses SAD FACTOS GIL VICENTE FC FACTOS BELENENSES SAD TOTAIS TOTAIS 79% em que marcou 58% em que marcou 58% em que sofreu golos 79% em que sofreu golos MÁXIMO MÁXIMO 5 Jogos a vencer 1991-03-24 -> 1994-03-06 4 Jogos a vencer 2005-01-09 -> 2006-05-07 5 Jogos sem vencer 1999-02-28 -> 2001-05-20 15 Jogos sem vencer 1991-03-24 -> 2000-01-30 4 Jogos a perder 2005-01-09 -> 2006-05-07 5 Jogos a perder 1991-03-24 -> 1994-03-06 15 Jogos sem perder 1991-03-24 -> 2000-01-30 5 Jogos sem perder 1999-02-28 -> 2001-05-20 RECORDES GIL VICENTE FC: MAIOR VITÓRIA EM CASA Taça da Liga 2011/12 Gil Vicente FC 2-0 Belenenses SAD SuperLiga 2002/2003 Gil Vicente FC 3-1 Belenenses SAD GIL VICENTE FC: MAIOR VITÓRIA FORA Liga betandwin.com 05/06 Belenenses -

STATS EN STOCK Les Palmarès Et Les Records
STATS EN STOCK Les palmarès et les records Rugby Depuis le premier match international disputé le 27 mars 1871 entre l’Angleterre et l’Écosse, beaucoup de rebonds ovales ont écrit une histoire que les palmarès et records permettent d’appréhender de manière originale. Embarquement immédiat pour un voyage au pays des stats. Coupe du monde (1987 – 2019) C’est en 1987 que s’est déroulé la première Coupe du monde de rugby. Depuis, seules quatre nations ont inscrit leurs noms au palmarès de cette compétition qui a lieu tous les quatre ans. À noter que l’Afrique du Sud n’a pas participé aux deux premières éditions à cause de son régime politique d’apartheid. Sur les neuf éditions disputées, le trophée William Webb Ellis qui récompense le vainqueur de la Coupe du monde, a été soulevé trois fois par la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, deux fois par l’Australie et une fois par l’Angleterre, seul pays de l’hémisphère nord à avoir conquis ce Graal. Victoires et accessions en finales et demi-finales Pays Participations Victoires Finales Demi-finales 1 Nouvelle-Zélande 9 3 4 8 2 Afrique du Sud 7 3 3 5 3 Australie 9 2 4 6 4 Angleterre 9 1 4 5 5 France 9 0 3 6 0 6 Pays de Galles 9 0 3 7 Argentine 9 0 0 2 8 Ecosse 9 0 0 1 Points marqués par joueur Essais marqués par joueur Joueurs Points Joueurs Essais 1 Jonny Wilkinson (Angleterre) 277 Jonah Lomu (Nouvelle-Zélande) 1 15 2 Gavin Hastings (Ecosse) 227 Brian Habana (Afrique du Sud) 3 Michael Lynagh (Australie) 195 3 Drew Mitchell (Australie) 14 4 Dan Carter (Nouvelle-Zélande) 191 4 Doug Howlett (Nouvelle-Zélande) 13 5 Grant Fox (Nouvelle-Zélande) 170 5 Adam Ashley-Cooper (Australie) 12 9 Frédéric Michalak (France) 136 6 Vincent Clerc (France) 11 J. -

RBS 6 Nazioni 2010
INDICE Il saluto del Presidente . 2 Il saluto del Sindaco di Roma . 4 La Federazione Italiana Rugby . 7 Il calendario del 6 Nazioni 2010 . 8 Gli arbitri del 6 Nazioni 2010 . 9 La storia del Torneo . 10 L’Albo d’oro del Torneo . 12 Il Torneo dal 2000 ad oggi . 14 I tabellini dell’Italia . 24 Le avversarie dell’Italia Irlanda . 34 Inghilterra . 36 Scozia . 38 Francia . 40 Galles . 42 Italia . 44 Lo staff azzurro . 47 Gli Azzurri . 57 Statistiche . 74 Programma stampa Nazionale Italiana . 82 Gli alberghi dell’Italia . 86 Contatti utili . 87 Calendario 6 Nazioni 2010 Femminile . 88 Le Azzurre e lo Staff . 89 Calendario 6 Nazioni 2010 Under 20 . 92 Gli Azzurrini e lo Staff . 93 media guide RBS 6 Nations 2010 1 IL SALUTO DEL PRESIDENTE Dopo aver concluso in crescendo i Cariparma test match la nazionale italiana di rugby si tuffa nel prestigioso torneo Sei Nazioni. E’ l’undicesima volta che gli azzurri partecipano a questa importante ed attesa manifestazione. L’Italia debutterà in trasferta sul campo dell’Irlanda, quarta forza del ranking iridato, alle spalle di Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica, e vincitrice, autoritariamente, dell’ultima edizione. Si alza, dunque, con un esame probante il 2010, un anno in- tenso che vedrà il quindici di Nick Mallett impegnato, oltre che nel Sei Nazioni, nel tour estivo in Namibia e Sudafrica ed in tre test match autunnali con Argentina, Australia e Isole Figi. Una stagione, pertanto, ricca di appetitosi appuntamenti che dovrà, necessariamente, regalare sintomi e riscontri concreti sui costanti progressi che accompagnano il nostro movimento. -

Policia Militar Do Estado Do Rio De Janeiro Edital
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EDITAL CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PRAÇAS – CRSP CONCURSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CFSd/2014 RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA ETAPA MÉDICA O Comandante Geral da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final da Etapa médica do concurso CFSd /2014. Serão disponibilizados 02 (dois) dias para interposição de recursos, 25 e 26 de junho de 2018, referentes a retificação do resultado final da etapa dos exames médicos do CFSd/2014, no endereço eletrônico da Exatus www.exatuspr.com.br. INSC NOME RESULTADO 1523427 ABEL GOMES DA COSTA JUNIOR APTO 1566820 ABEL JUSTINO SILVEIRA JUNIOR APTO 1569107 ABILIO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA APTO 1586022 ABNER DE SOUZA AMORIM APTO 1530070 ABNER DE SOUZA VELLOSO APTO 1655811 ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR APTO 1664179 ABNER FREITAS MAGALHAES APTO 1684521 ABRAHAO LEVI ALVES DA SILVA APTO 1676442 ADAILTON FRANCISCO DE LIMA RAMOS APTO 1574997 ADALBERTO DA CONCEIçãO REGO APTO 1646894 ADALBERTO SILVA DE SOUZA INAPTO 1652594 ADALBERTO SOUZA DE RESENDE APTO 1571702 ADALTON GONçALVES ROSA APTO 1568584 ADAM DE OLIVIERA DE PAULA APTO 1575236 ADAUTO LOBO DE SOUZA JUNIOR APTO 1517437 ADELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA APTO 1557566 ADEMAR LIMA VIEIRA INAPTO 1543490 ADEMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR APTO 1654936 ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA APTO 1550612 ADEMIR FERRAZ DA SILVA APTO 1631201 ADENILSON RODRIGUES DE SOUZA APTO 1512253 ADIELSON SILVA DE OLIVEIRA APTO -

Gil Vicente FC Belenenses SAD
JORNADA 12 Gil Vicente FC Belenenses SAD Segunda, 04 de Janeiro 2021 - 19:00 Estádio Cidade de Barcelos, Barcelos MAIN SPONSOR OFFICIAL SPONSOR OFFICIAL STATS POWERED BY Jornada 12 Gil Vicente FC X Belenenses SAD 2 Confronto histórico Ver mais detalhes Gil Vicente FC 11 13 16 Belenenses SAD GOLOS / MÉDIA VITÓRIAS EMPATES VITÓRIAS GOLOS / MÉDIA 35 golos marcados, uma média de 0,88 golos/jogo 28% 33% 40% 47 golos marcados, uma média de 1,18 golos/jogo TOTAL GIL VICENTE FC (CASA) BELENENSES SAD (CASA) CAMPO NEUTRO J GVFC E BEL GOLOS GVFC E BEL GOLOS GVFC E BEL GOLOS GVFC E BEL GOLOS Total 40 11 13 16 35 47 8 6 6 21 19 3 7 10 14 28 0 0 0 0 0 Liga NOS 32 10 10 12 29 35 7 4 5 17 16 3 6 7 12 19 0 0 0 0 0 Liga Portugal SABSEG 4 0 2 2 2 8 0 2 0 2 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 Allianz Cup 4 1 1 2 4 4 1 0 1 2 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 J=Jogos, E=Empates, GVFC=Gil Vicente FC, BEL=Belenenses SAD FACTOS GIL VICENTE FC FACTOS BELENENSES SAD TOTAIS TOTAIS 58% em que marcou 78% em que marcou 78% em que sofreu golos 58% em que sofreu golos MÁXIMO MÁXIMO 4 Jogos a vencer 2005-01-09 -> 2006-05-07 5 Jogos a vencer 1991-03-24 -> 1994-03-06 15 Jogos sem vencer 1991-03-24 -> 2000-01-30 5 Jogos sem vencer 1999-02-28 -> 2001-05-20 5 Jogos a perder 1991-03-24 -> 1994-03-06 4 Jogos a perder 2005-01-09 -> 2006-05-07 5 Jogos sem perder 1999-02-28 -> 2001-05-20 15 Jogos sem perder 1991-03-24 -> 2000-01-30 RECORDES GIL VICENTE FC: MAIOR VITÓRIA EM CASA Taça da Liga 2011/12 Gil Vicente FC 2-0 Belenenses SAD SuperLiga 2002/2003 Gil Vicente FC 3-1 Belenenses SAD Liga NOS 19/20 Gil -

Ovalgreen 2019
Ovalgreen 2019 Le Crunch Golf fête son retour en musique vendredi 21 juin au golf du Gouverneur. Mais qu’est-ce que c’est l’OvalGreen? A l’origine. Nous sommes en 2004 à Lyon, Jacques FOUROUX et Jean-Claude PIETROCOLA vont donner le coup d’envoi d’une formidable rencontre annuelle « entre amis » afin de réconcilier les internationaux de rugby, entraîneurs et joueurs. Lieu de retrouvailles émouvantes entre joueurs de l’équipe de France du rugby, le Trophée de Golf OVALGREEN est reconnu comme l’un des événements incontournables rugby et golf. A la disparition de Jacques FOUROUX en 2005, ses coéquipiers ont maintenu cette tradition en se réunissant chaque année au Golf du Gouverneur dans le but de perpétuer son souvenir. La mission de parrain est redistribuée pour faire découvrir une nouvelle personnalité issue du monde du rugby chaque année. Des parrains prestigieux 2006 : Richard ASTRE, Jo MASO et Gérald MARTINEZ 2007 : Aubin HUEBER, Jean-Luc AVEROUS et Jean-Pierre RIVES 2008 : Jean-Pierre BASTIAT et Alain LORIEUX 2009 : Jean-Michel AGUIRRE et Pierre VILLEPREUX 2010 : Abdelatif BENAZZI 2011 : Philippe DINTRANS et Xavier GARBAJOSA Ont ensuite suivi : Eric CHAMP, Yann DELAIGUE, Sylvain MARCONNET, Fabien PELOUS, Émile N’TAMACK, Vern COTTER, Cédric HEYMANS, Yannick JAUZION, Iain BALSHAW, Frédéric MICHALAK… L’aspect caritatif Depuis 16 ans, l’OVALGREEN a reversé plus de 250.000 € au profit de l’association Le Petit Monde pour le bien-être de l’enfant hospitalisé. Le Crunch Golf Le Trophée de Golf OVALGREEN fête son seizième anniversaire et accueille pour la cinquième année consécutive des internationaux de rugby britanniques qui se joignent au Trophée pour affronter les internationaux de rugby français autour du CRUNCH GOLF. -
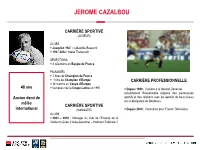
Utilisation Du Modèle
JEROME CAZALBOU CARRIÈRE SPORTIVE (JOUEUR) CLUBS . Jusqu'en 1987 : Labastide-Beauvoir . 1987-2002 : Stade Toulousain SÉLECTIONS . 4 sélections en Equipe de France PALMARÈS . 7 titres de Champion de France . 1 titre de Champion d’Europe CARRIÈRE PROFESSIONNELLE . 34 matchs en Coupe d'Europe 48 ans . Vainqueur de la Coupe Latine en 1997 . Depuis 1989 : Carrière à la Société Générale. Actuellement Responsable régional des partenariats Ancien demi de sportifs et des relations avec les sportifs de haut niveau mêlée sur la délégation de Bordeaux. CARRIÈRE SPORTIVE international (MANAGER) . Depuis 2000 : Consultant pour France Télévisions CLUBS . 2003 – 2010 : Manager du club de l'Entente de la Vallée du Girou (Haute-Garonne) – Honneur Fédérale 1 19/03/2018 P.1 TITRE DE LA PRÉSENTATION C1 00/00/2017 1 SYLVAIN MARCONNET CARRIÈRE SPORTIVE (JOUEUR) CLUBS . Jusqu’en 1994 : Givors .1995-1997 : FC Grenoble . 1997-2010 : Stade Français Paris . 2010-2012 : Biarritz Olympique SÉLECTIONS : . XV de France 84 sélections CARRIÈRE PROFESSIONNELLE PALMARES 41 ans . 1999 : Vainqueur de la Coupe de France . Directeur Associé du groupe SportLab . Finaliste de la Coupe du Monde de Rugby en 1999 Ancien pilier et demi- finaliste en 2003 . Vainqueur du Tournoi des 6 Nations en 2002, 2004, AUTRES 2006,2007 . 2012 : Vainqueur du Challenge Européen . Participation au tournage de la série Société Générale « Terrain Favorable » TITRE DE LA PRÉSENTATION C1 00/00/2017 2 ROMAIN MAGELLAN CARRIÈRE SPORTIVE (JOUEUR) CLUBS CARRIÈRE PROFESSIONNELLE . 1992-1998 : FC Grenoble . Consultant pour Canal+, Eventeam . 1998-2001 : CS Bourgoin-Jallieu . 2001-2002 : Saracens SÉLECTIONS : . France U21 PALMARES 44 ans . 1992 : Vainqueur du Championnat de France Reichel . -

ALLEZ SAPIAC De L’USM 2019 N° 354 Réalisé Par Ses Bénévoles Depuis 1967
LEZ L UNION SPORTIVE A SAMONTALBANAISEPIAC UNION SPORTIVE MONTALBANAISE JANVIER - FÉVRIER Bimestriel Journal ALLEZ SAPIAC de l’USM www.usmsapiac.fr 2019 N° 354 Réalisé par ses Bénévoles depuis 1967 UN DÉBUT D’ANNÉE 2019 ENCOURAGEANT PRÉSENTATIONL’ÉDITO DU PRÉSIDENT DE TEAM ONE LA VIE DES GROUPEMENTS EntretienHommage avec à SylvainNicolas Marconnet Vidal Comptes-rendus des matchs L’ÉQUIPE 1 Noël à l’École de Rugby Comptes-rendus des matchs LA VIE DE L’ASSOCIATION ZOOM SUR LA FORMATION AG de l’USM (suite) : rapports moral et financier Présentation du Centre de Préformation ILS NOUS ONT QUITTÉS Photo du Centre de Formation Hommage à Loulou Blanc La section rugby à Bourdelle (capitaine de l’équipe championne Loris Zarantonello sélectionné en équipe de France de France en 1967) PRÉSENTATION DE TEAM ONE Entretien avec Sylvain Marconnet QUI EST TEAM ONE ? LE PROJET AVEC L’USM ? Team One est une agence toulousaine de marketing Les premiers contacts avec l’USM se sont faits entre sportif fondée en 2008 par Philippe Spanghero, Vincent Sylvain Marconnet et Gaël Arandiga. Le projet présenté Clerc et Grégory Lamboley. au Conseil de surveillance s’est concrétisé par un contrat Sylvain Marconnet les a de 3 ans signé avec la SA, favorisant l’accompagnement rejoints courant 2017. Sylvain Marconnet, joueur de rugby à XV du club sur la durée. Une entre 1995 et 2012 évoluant aux postes des premières actions a Elle est composée de de pilier droit ou gauche, est né le 8 avril été de trouver un pool seize collaborateurs 1976 à Givors (Rhône). d’actionnaires parisiens (plus une dizaine de Il est passé par les clubs de Grenoble, du dont le principal est Igor Stade Français et du Biarritz Olympique personnes en interne de Maack. -

Bord De Touc E a L
E U Q I L B U P E I O V BORD DE TOUC E A L R La Gazette des Supporters U S R E T Amis du Stade Français Rugby E J S 16 janvier 2010 - N° 135 A Association des Amis du Stade Français Rugby P E 75, rue Michel-Ange - 75016 Paris. Tel. 06.82.13.52.82 N Stands entrées D et F tribunes Parc des Princes Publication réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby http://www.amistade.fr/ -tel. Rep. 01.42.63.46.53 (numéro édité avant le match contre Bath Rugby) FIDÉLITÉ WELCOME TO JEAN BOUIN STADIUM ! Quoiqu'un peu frigorifié après une journée presque entièrement Today, we are pleased to welcome Bath Rugby players, their staff passée au Stade de France, le magnifique feu d'artifice proposé par le and fans, for their first time in HCUP in Jean Bouin Stadium ! Stade Français me permit de vagabonder à travers certaines pensées. After Bath Rugby recent successes (against Gloucester Rugby and Tout d'abord reconnaissons nous à sa juste valeur le bonheur que Leeds Carnegie) in the Guinness Premiership, we are sure players nous éprouvons lors de ces après-midi Dyonisiens ? confidence will be high. Les détonations qui parviennent à nos oreilles sont celles d'un feu And shape of the Bath players quite good because last Saturday d'artifice, symbole de joie et de fête, et nos regards sont ceux match against Northampton Saints postponed due to bad d'enfants émerveillés et jamais lassés. conditions at The Rec. -

DOSSIER DE PRESSE DEMI-FINALES Rugby Club Toulonnais I Stade Toulousain Rugby ASM Clermont Auvergne I Castres Olympique
DOSSIER DE PRESSE DEMI-FINALES Rugby Club Toulonnais I Stade Toulousain Rugby ASM Clermont Auvergne I Castres Olympique Ligue Nationale de Rugby DEMI-FINALES TOP 14 Nantes 2013 2 SOMMAIRE Les demi-finales depuis la saison 2000/2001 .................................... p.4 Un stade unique : La Beaujoire .......................................................... p.5 Rugby Club Toulonnais / Stade Toulousain Rugby ............................... p.6 ASM Clermont Auvergne / Castres Olympique ................................... p.7 Le Village Rugby ............................................................................... p.8 Les rendez-vous média .................................................................... p.11 Une conférence de presse est organisée le dimanche 19 mai à 12H30 au paddock du stade Chaban-Delmas, en présence de Paul Goze, Président de la LNR et Christian Py, Président des Opticiens Mutualistes pour évoquer le développement de la PRO D2. Ligue Nationale de Rugby DEMI-FINALES TOP 14 Nantes 2013 3 LES DEMI-FINALES DEPUIS LA SAISON 2000/2001 2000/2001 Stadium (Toulouse) Gerland (Lyon) 2001/2002 Chaban-Delmas (Bordeaux) La Mosson (Montpellier) Stade Gerland - Lyon 2002/2003 Chaban-Delmas (Bordeaux) La Mosson (Montpellier) 2003/2004 Gerland (Lyon) La Mosson (Montpellier) 2004/2005 Chaban-Delmas (Bordeaux) Stadium (Toulouse) Stade Chaban-Delmas - Bordeaux 2005/2006 La Mosson (Montpellier) Gerland (Lyon) 2006/2007 Chaban-Delmas (Bordeaux) Vélodrome (Marseille) 2007/2008 Chaban-Delmas (Bordeaux) Vélodrome (Marseille) Stade La Mosson - Montpellier 2008/2009 Chaban-Delmas (Bordeaux) Gerland (Lyon) 2009/2010 La Mosson (Montpellier) Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne) 2010/2011 Vélodrome (Marseille) 2011/2012 Stadium (Toulouse) Vélodrome - Marseille 2012/2013 La Beaujoire (Nantes) DEMI-FINALES TOP 14 Nantes 2013 4 Stadium - Toulouse UN STADE UNIQUE LA BEAUJOIRE Ces demi-finales 2013 resteront sans doute dans l’histoire du TOP 14. -

Belenenses SAD Rio Ave FC
JORNADA 7 Belenenses SAD Rio Ave FC Sexta, 06 de Novembro 2020 - 20:30 Estádio Nacional do Jamor, Oeiras MAIN SPONSOR OFFICIAL SPONSOR OFFICIAL STATS POWERED BY Jornada 7 Belenenses SAD X Rio Ave FC 2 Confronto histórico Ver mais detalhes Belenenses SAD 13 11 20 Rio Ave FC GOLOS / MÉDIA VITÓRIAS EMPATES VITÓRIAS GOLOS / MÉDIA 44 golos marcados, uma média de 1 golos/jogo 30% 25% 45% 62 golos marcados, uma média de 1,41 golos/jogo TOTAL BELENENSES SAD (CASA) RIO AVE FC (CASA) CAMPO NEUTRO J BEL E RAFC GOLOS BEL E RAFC GOLOS BEL E RAFC GOLOS BEL E RAFC GOLOS Total 44 13 11 20 44 62 10 4 7 30 27 3 7 13 14 35 0 0 0 0 0 Liga NOS 40 12 10 18 41 59 9 4 7 28 27 3 6 11 13 32 0 0 0 0 0 Liga Portugal SABSEG 2 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Allianz Cup 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 J=Jogos, E=Empates, BEL=Belenenses SAD, RAFC=Rio Ave FC FACTOS BELENENSES SAD FACTOS RIO AVE FC TOTAIS TOTAIS 59% em que marcou 70% em que marcou 70% em que sofreu golos 59% em que sofreu golos MÁXIMO MÁXIMO 2 Jogos a vencer 2009-01-11 -> 2009-05-16 3 Jogos a vencer 2017-05-20 -> 2018-01-14 8 Jogos sem vencer 2009-09-23 -> 2015-08-15 4 Jogos sem vencer 2015-08-15 -> 2017-01-15 3 Jogos a perder 2017-05-20 -> 2018-01-14 2 Jogos a perder 2009-01-11 -> 2009-05-16 4 Jogos sem perder 2015-08-15 -> 2017-01-15 8 Jogos sem perder 2009-09-23 -> 2015-08-15 RECORDES BELENENSES SAD: MAIOR VITÓRIA EM CASA SuperLiga 2003/2004 Belenenses SAD 3-0 Rio Ave FC I Divisão 1987/88 Belenenses SAD 3-0 Rio Ave FC BELENENSES SAD: MAIOR VITÓRIA FORA I Divisão 1979/80 Rio Ave FC -

DOSSIER DE PRESSE Section Paloise I Atlantique Stade Rochelais DEMI-FINALES CA Brive Corrèze Limousin I Stade Aurillacois Cantal-Auvergne
DOSSIER DE PRESSE Section Paloise I Atlantique Stade Rochelais DEMI-FINALES CA Brive Corrèze Limousin I Stade Aurillacois Cantal-Auvergne Ligue Nationale de Rugby FINALE PRO D2 Bordeaux 2013 2 SOMMAIRE Saison 2012/2013, phase préliminaire ............................................. p.5 CA Brive Corrèze Limousin ................................................................ p.6 Effectif du club .................................................................................. p.6 Palmarès et statistiques du club ......................................................... p.7 Finale saison 2012/2013, le match .................................................. p.8 Les 10 dernières finales d’accession .................................................. p.9 Section Paloise ............................................................................... p.10 Effectif du club ................................................................................ p.10 Palmarès et statistiques du club ....................................................... p.11 Le Village Rugby ............................................................................. p.12 Statistiques générales .................................................................... p.14 Statistiques sportives ...................................................................... p.14 Les affluences ................................................................................. p.15 Une conférence de presse est organisée le dimanche 19 mai à 12H30 au paddock du stade Chaban-Delmas,