Asplenium Serratum L. E Marsilea Minuta L
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download Document
African countries and neighbouring islands covered by the Synopsis. S T R E L I T Z I A 23 Synopsis of the Lycopodiophyta and Pteridophyta of Africa, Madagascar and neighbouring islands by J.P. Roux Pretoria 2009 S T R E L I T Z I A This series has replaced Memoirs of the Botanical Survey of South Africa and Annals of the Kirstenbosch Botanic Gardens which SANBI inherited from its predecessor organisations. The plant genus Strelitzia occurs naturally in the eastern parts of southern Africa. It comprises three arborescent species, known as wild bananas, and two acaulescent species, known as crane flowers or bird-of-paradise flowers. The logo of the South African National Biodiversity Institute is based on the striking inflorescence of Strelitzia reginae, a native of the Eastern Cape and KwaZulu-Natal that has become a garden favourite worldwide. It sym- bolises the commitment of the Institute to champion the exploration, conservation, sustain- able use, appreciation and enjoyment of South Africa’s exceptionally rich biodiversity for all people. J.P. Roux South African National Biodiversity Institute, Compton Herbarium, Cape Town SCIENTIFIC EDITOR: Gerrit Germishuizen TECHNICAL EDITOR: Emsie du Plessis DESIGN & LAYOUT: Elizma Fouché COVER DESIGN: Elizma Fouché, incorporating Blechnum palmiforme on Gough Island PHOTOGRAPHS J.P. Roux Citing this publication ROUX, J.P. 2009. Synopsis of the Lycopodiophyta and Pteridophyta of Africa, Madagascar and neighbouring islands. Strelitzia 23. South African National Biodiversity Institute, Pretoria. ISBN: 978-1-919976-48-8 © Published by: South African National Biodiversity Institute. Obtainable from: SANBI Bookshop, Private Bag X101, Pretoria, 0001 South Africa. -

11-122. 2000 11
FERN GAZ. 16(1, 2)11-122. 2000 11 CHECKLIST OF THE PTERIDOPHYTES OF TRINIDAD & TOBAGO Y. S. BAKSH-COMEAU The National Herbarium of Trinidad and Tobago. Department of Life Sciences, The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad, West Indies Key words: checklist, Trinidad and Tobago pteridophytes, types, habitat, distribution. ABSTRACT Three hundred and two species and eight varieties or subspecies in 27 families and 77 genera of ferns and fern allies are listed. Four new combinations and states are made, and one synonym lectotypified. A serious attempt has been made to establish types; selections of specimens studied are cited. INTRODUCTION Recent studies of ferns in Trinidad and Tobago (Baksh-Comeau, 1996, 1999) have combined a review of the pteridophyte collection at The National Herbarium of Trinidad & Tobago with field surveys undertaken to assess the community status of these plants on both islands. This checklist has been developed as an integral part of those studies, but it is also an essential prerequisite to ongoing research covering a reclassification of the vegetation of the islands and to the preparation of a comprehensive vascular plant flora. The herbarium count and field survey revealed 251 species confirmed by voucher specimens housed in Trinidad. Additional species have been attributed to Trinidad or Tobago in early publications for Trinidad and in Floras and monographs for neighbouring areas. The number of species now believed to be indigenous in these islands is 282. Cultivated species that have escaped, and introductions which have become naturalized number 20. Early reports include Grisebach (1859-64) who listed 106 species; Eaton (1878) approximately 78 of the 150 or so species eventually collected by August Fendler; Jenman (1887) had about 184 species; Anon (1889) listed 206 binomials including a few introduced taxa; Jenman (1898-1909), in an incomplete coverage of the fern flora, described 140 taxa of which 10 were new species; Hart (1908), including some cultivated plants, listed 283 binomials of pteridophytes. -

Marsilea Azorica (Marsileaceae) Is a Misidentified Alien
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/233682798 From European Priority Species to Invasive Weed: Marsilea azorica (Marsileaceae) is a Misidentified Alien Article in Systematic Botany · October 2011 DOI: 10.1600/036364411X604868 CITATIONS READS 22 670 3 authors: Hanno Schaefer Mark A. Carine Technische Universität München Natural History Museum, London 154 PUBLICATIONS 3,617 CITATIONS 112 PUBLICATIONS 4,566 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Fred Rumsey Natural History Museum, London 83 PUBLICATIONS 1,598 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Conservation of Lactuca watsoniana Trelease an Azorean priority species: Phylogenetics, Population Genetics and Propagation. PhD thesis View project Cucurbitaceae Phylogeny Poster View project All content following this page was uploaded by Hanno Schaefer on 03 June 2014. The user has requested enhancement of the downloaded file. From European Priority Species to Invasive Weed: Marsilea azorica (Marsileaceae) is a Misidentified Alien Author(s) :Hanno Schaefer, Mark A. Carine, and Fred J. Rumsey Source: Systematic Botany, 36(4):845-853. 2011. Published By: The American Society of Plant Taxonomists URL: http://www.bioone.org/doi/full/10.1600/036364411X604868 BioOne (www.bioone.org) is a a nonprofit, online aggregation of core research in the biological, ecological, and environmental sciences. BioOne provides a sustainable online platform for over 170 journals and books published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses. Your use of this PDF, the BioOne Web site, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne’s Terms of Use, available at www.bioone.org/page/terms_of_use. -
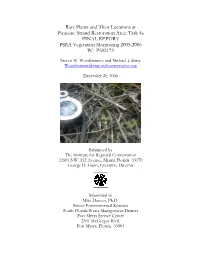
FINAL REPORT PSRA Vegetation Monitoring 2005-2006 PC P502173
Rare Plants and Their Locations at Picayune Strand Restoration Area: Task 4a FINAL REPORT PSRA Vegetation Monitoring 2005-2006 PC P502173 Steven W. Woodmansee and Michael J. Barry [email protected] December 20, 2006 Submitted by The Institute for Regional Conservation 22601 S.W. 152 Avenue, Miami, Florida 33170 George D. Gann, Executive Director Submitted to Mike Duever, Ph.D. Senior Environmental Scientist South Florida Water Management District Fort Myers Service Center 2301 McGregor Blvd. Fort Myers, Florida 33901 Table of Contents Introduction 03 Methods 03 Results and Discussion 05 Acknowledgements 38 Citations 39 Tables: Table 1: Rare plants recorded in the vicinity of the Vegetation Monitoring Transects 05 Table 2: The Vascular Plants of Picayune Strand State Forest 24 Figures: Figure 1: Picayune Strand Restoration Area 04 Figure 2: PSRA Rare Plants: Florida Panther NWR East 13 Figure 3: PSRA Rare Plants: Florida Panther NWR West 14 Figure 4: PSRA Rare Plants: PSSF Northeast 15 Figure 5: PSRA Rare Plants: PSSF Northwest 16 Figure 6: PSRA Rare Plants: FSPSP West 17 Figure 7: PSRA Rare Plants: PSSF Southeast 18 Figure 8: PSRA Rare Plants: PSSF Southwest 19 Figure 9: PSRA Rare Plants: FSPSP East 20 Figure 10: PSRA Rare Plants: TTINWR 21 Cover Photo: Bulbous adder’s tongue (Ophioglossum crotalophoroides), a species newly recorded for Collier County, and ranked as Critically Imperiled in South Florida by The Institute for Regional Conservation taken by the primary author. 2 Introduction The South Florida Water Management District (SFWMD) plans on restoring the hydrology at Picayune Strand Restoration Area (PSRA) see Figure 1. -

Aspleniaceae (Polypodiales) Da Estação Ecológica Do Cuniã, Porto
Acta Biológica Catarinense 2020 Jul-Set;7(3):28-36 Aspleniaceae (Polypodiales) da Estação Ecológica do Cuniã, Porto Velho, Estado de Rondônia, Brasil1 Aspleniaceae (Polypodiales) of the Cuniã Ecological Station, Porto Velho, State of Rondonia, Brazil Adeilza Felipe SAMPAIO2, 5; Alex Eugênio OLIVEIRA3; Ricardo Teixeira Gregorio ANDRADE4 & Angelo Gilberto MAZATTO3 RESUMO Considerando a grande carência de trabalhos científicos sobre as samambaias e Recebido em: 20 fev. 2019. licófitas do estado de Rondônia, o presente estudo foi desenvolvido com o intuito Aceito em: 11 jul. 2020. de contribuir com o conhecimento sobre a flora rondoniense. O trabalho faz parte do inventário florístico das epífitas e ervas da Grade PPBio Cuniã e vem sendo desenvolvido desde 2010. Este manuscrito apresenta uma chave para identificação e com tratamento taxonômico das espécies da família Aspleniaceae registradas na Estação Ecológica do Cuniã. Na área de estudo, Aspleniaceae foi representada por quatro espécies (Asplenium angustum Sw., A. hallii Hooker, A. serratum L. e A. stuebelianum Hieron), das quais A. hallii é registrada como nova ocorrência para o estado de Rondônia. Os espécimes registrados são epífitas de tronco de árvores ou palmeiras, ocorrendo em áreas mais secas (parcelas de terra firme) e úmidas (parcelas ripárias). A. serratum foi a espécie mais frequente. Palavras-chave: Amazônia; florística; Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio); samambaias. ABSTRACT Considering the great lack of scientific works on ferns and lycophytes of the state of Rondonia, the present study was developed with the aim of contributing to the knowledge about the Rondonian flora. The study is part of the floristic inventory of the epiphytes and herbs of the Biodiversity Research Program-PPBio Cuniã Grid, which has been developed since 2010. -

Two Species of Armored Scale Insects (Hemiptera: Diaspididae) Associated with Sori of Ferns Marcelo Guerra Santos¹ & Vera Regina Dos Santos Wolff²
doi:10.12741/ebrasilis.v8i3.492 e-ISSN 1983-0572 Publicação do Projeto Entomologistas do Brasil www.ebras.bio.br Distribuído através da Creative Commons Licence v4.0 (BY-NC-ND) Copyright © EntomoBrasilis Copyright © do(s) Autor(es) Two Species of Armored Scale Insects (Hemiptera: Diaspididae) Associated with Sori of Ferns Marcelo Guerra Santos¹ & Vera Regina dos Santos Wolff² 1. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e-mail: [email protected] (Autor para correspondência). 2. Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – FEPAGRO, Rio Grande do Sul, e-mail: [email protected]. _____________________________________ EntomoBrasilis 8 (3): 232-234 (2015) Abstract. This note reports the presence of two scale insects species Hemiberlesia palmae (Cockerell) and Pinnaspis strachani (Cooley) (Coccoidea, Diaspididae), associated respectively with Asplenium serratum L. (Aspleniaceae) and Niphidium crassifolium (L.) Lellinger (Polypodiaceae). It is the first record of a fern species as host plant of H. palmae. In both fern species, the diaspidids were found nearby the sori. Keywords: Aspleniaceae; Fern-insect interactions; Polypodiaceae; Pteridophytes; Scale Insect. Duas Espécies de Cochonilhas (Hemiptera: Diaspididae) Associadas com Soros de Samambaias Resumo. A presente comunicação relata a presença de duas espécies de cochonilhas Hemiberlesia palmae (Cockerell) e Pinnaspis strachani (Cooley) (Coccoidea, Diaspididae), associadas respectivamente com Asplenium serratum L. (Aspleniaceae) e Niphidium crassifolium (L.) Lellinger (Polypodiaceae). É o primeiro registro de uma samambaia como planta hospedeira de H. palmae. Nas duas espécies de samambaias, os diaspidídeos encontravam-se concentrados principalmente ao redor dos soros. Palavras-chave: Aspleniaceae; Cochonilhas; Interações samambaia-inseto; Polypodiaceae; Pteridófitas. _____________________________________ nteractions between ferns and insects are more poorly (2003). -

Review on Fern Marsilea Minuta Linn (Marsileaceae)
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC PROGRESS AND RESEARCH (IJSPR) ISSN: 2349-4689 Volume-13, Number - 01, 2015 Review on Fern Marsilea Minuta Linn (Marsileaceae) Modak Dwiti M. Pharm (Ayu.) Scholar, Ayurvedic Pharmacy, Lovely School of Pharmaceutical Sciences Lovely Professional University, Phagwara-144402 Punjab, India Abstract- Marsilea minuta Linn. is a fern belongs to the family III. FAMILY FEATURE Marsileaceae. The plant is distributed throughout India. According to Acharya Charak and Susruth it possess tridosaghan Aquatic or marsh plants with slender creeping rhizomes, property and grahi in nature. The synonyms of the plant are growing in mud, the leaf with blades (when present) often Sitivara and Svastika. The chemical constituent marsilene, a floating on surface of water and petioles arising from macrocyclic ketone has been isolated from the plant which rootstocks, the blades simple or with 2 or 4 pinnae, fan- possesses sedative and anti-convulsant properties. The plant has shaped, the veins dichotomous and anostomosing at margin; been studied for their various pharmacological activities like plants monoecious, producing megasporangia and adaptogenic-antistress, anti-depressant, anti-diabetic, anti- aggressive, anti-fertility, anti-tussive, hepatoprotective, analgesic microsporangia; the sporocarps hard and bean-shaped, borne and hypocholesterolemic activity. Ethno botanically the plant is on the petioles laterally or at their bases, stalked, solitary or important as it is used in the treatment of diabetes by local people numerous. Morphologically, the sporocarps are a modified in Javadhu Hills Tamil Nadu, India. Though, systemic leaf segment, folded together, containing 2 rows of information on various aspects of this species is unavailable. In indusiated sori within. Megasporangia produce megaspores present review, an attempt has been made to present the which on germination give rise to egg cells, while the information regarding plant profile, pharmacological properties microsporangia produce microspores that give rise to sperm- and ethno botany. -

GC-MS Analysis of Methanolic Extracts of Leaf and Stem of Marsilea Minuta (Linn.)
Journal of Complementary and Alternative Medical Research 3(1): 1-13, 2017; Article no.JOCAMR.30871 ISSN: 2456-6276 GC-MS Analysis of Methanolic Extracts of Leaf and Stem of Marsilea minuta (Linn.) Govindaraj Sabithira 1 and Rajangam Udayakumar 1* 1Department of Biochemistry, Government Arts College (Autonomous), Kumbakonam–612001, Tamilnadu, India. Authors’ contributions This work was carried out in collaboration between both authors. The corresponding author RU designed the research problem and wrote the protocol. The first author GS performed the research work and wrote the initial draft of manuscript. The corresponding author RU corrected the final format of manuscript. Both authors read and approved the final manuscript. Article Information DOI: 10.9734/JOCAMR/2017/30871 Editor(s): (1) Nawal Kishore Dubey, Centre for advanced studies in Botany, Banaras Hindu University, India. Reviewers: (1) Dildar Ahmed, Forman Christian College University, Pakistan. (2) Godswill N. Anyasor, Babcock University, Nigeria. (3) Zenita okram, University of Delhi, Delhi-110007, India. (4) Augustine Onyeaghala, Afe Babalola University, Nigeria. Complete Peer review History: http://www.sciencedomain.org/review-history/19006 Received 5th December 2016 Accepted 29 th April 2017 Original Research Article th Published 10 May 2017 ABSTRACT Aims : To analyze the chemicals composition of methanolic extracts of leaf and stem of M. minuta collected from Uppur Village, Tamilnadu, India by GC-MS. Study Design: Experimental study. Methodology: The Methanolic extracts were prepared and concentrated at 40°C using hot air oven. The concentrated methanolic extracts were subjected to GC-MS analysis using the instrument Perkin Elmer Clarus 500. Results: The methanolic extract of leaf of M. -

Marsilea Minuta L. (Marsileaceae): Nova Ocorrência Para a Amazônia Brasileira Marsilea Minuta L
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat., Belém, v. 9, n. 3, p. 687-692, set.-dez. 2014 Marsilea minuta L. (Marsileaceae): nova ocorrência para a Amazônia brasileira Marsilea minuta L. (Marsileaceae): new occurrence for the Brazilian Amazon Jorgeane Valéria Casique TavaresI, Tatiani Yuriko Souza KikuchiI, Sebastião MacielI, Alba Lúcia Ferreira de Almeida LinsI IMuseu Paraense Emílio Goeldi/MCTI. Belém, Pará, Brasil Resumo: Marsilea minuta L. (Marsileaceae) é registrada pela primeira vez na Amazônia brasileira. Trata-se de uma samambaia aquática, naturalizada, ocorrente em ambientes antropizados. As características morfológicas e anatômicas de plantas de ambientes aquático e terrestre foram descritas, comentadas e ilustradas. Palavras-chave: Marsilea. Esporocarpos. Samambaias heterosporadas. Macrófita aquática. Estado do Pará. Abstract: Marsilea minuta L. (Marsileaceae) is reported for the first time in the Brazilian Amazon. It’s an aquatic fern introduced in Brazil that occurs in anthropogenic environments. The morphological and anatomical characteristics of plants from aquatic and terrestrial environments were described and illustrated. Keywords: Marsilea. Sporocarps. Heterosporous ferns. Aquatic macrophyte. State of Pará. TAVARES, J. V. C., T. Y. S. KIKUCHI, S. MACIEL & A. L. F. A. LINS, 2014. Marsilea minuta L. (Marsileaceae): nova ocorrência para a Amazônia brasileira. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 9(3): 687-692. Autor para correspondência: Tatiani Yuriko Souza Kikuchi. Museu Paraense Emílio Goeldi/MCTI. Coordenação de Botânica. Av. Perimetral, 1901 – Terra Firme. Belém, PA, Brasil. CEP 66077-530 ([email protected]). Recebido em 20/08/2013 Aprovado em 06/06/2014 Responsabilidade editorial: Alexandre Salino 687 Marsilea minuta L. (Marsileaceae): nova ocorrência para a Amazônia brasileira INTRODUÇÃO Amazônia brasileira, ressaltando caracteres morfológicos Marsilea L. -

Resource Productivity in The
ISSN 0258-7122 (Print), 2408-8293 (Online) Bangladesh J. Agril. Res. 43(2): 211-218, June 2018 NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM STATUS OF RICE CO- PLANTED WITH A NOVEL PHYTOREMEDIATOR, MARSILEA MINUTA L. U. HASSI1, M. T. HOSSAIN2 AND S. M. I. HUQ3 Abstract A pot experiment was carried out to assess the effects of arsenic and aquatic fern (Marsilea minuta L.), when applied as a phytoremediator, on the nutrient content (nitrogen, phosphorus, and potassium) of rice. Two sets of pot experiments were conducted in the net house on rice (Oryza sativa L.) together with aquatic fern (M. minuta) and on aquatic fern (M. minuta) alone where soils were treated with 1 mg/L As-solution at 80% arsenite and 20% arsenate. No significant difference was found in the nitrogen, phosphorus, and potassium concentrations of rice, in the absence of arsenic, whether grown in the presence of M. minuta or not. The uptake of total nitrogen, phosphorus, and potassium was found to be 36%, 23%, and 22% more, respectively in rice plants treated with M. minuta and arsenic over the control treatment, although the results were statistically insignificant. However, a significant negative relationship was found between arsenic and root nitrogen (P-value of 0.0017) when grown together with arsenic and M. minuta. A significant positive relationship was found between arsenic and shoot phosphorus (P-value of 0.0025) as well as arsenic and shoot and root potassium (P-values were 0.0045 and 0.0115, respectively). The results indicate that Marsilea minuta might be used as a phytoremediator of As together with rice plants. -

Evaluation of Anti-Pyretic and Analgesic Activity of Marsilea Minuta Linn
S. Madhu et al. Int. Res. J. Pharm. 2015, 6 (1) INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF PHARMACY www.irjponline.com ISSN 2230 – 8407 Research Article EVALUATION OF ANTI-PYRETIC AND ANALGESIC ACTIVITY OF MARSILEA MINUTA LINN. S. Madhu1*, R. Velmurugan1, J. Gunasekaran1, D. Chandrika Devi2, N. Deepa3, R. Sundhararajan4 1Associate Professor, Department of Pharmacology, Mohamed Sathak A. J College of Pharmacy, Sholinganallur, Chennai, Tamil Nadu, India 2Assistant Professor, Department of Pharmaceutics, Mohamed Sathak A. J College of Pharmacy, Sholinganallur, Chennai, Tamil Nadu, India 3Professor, Department of Pharmacognosy, Mohamed Sathak A. J College of Pharmacy, Sholinganallur, Chennai, Tamil Nadu, India 4Professor, Department of Pharmaceutical chemistry, Mohamed Sathak A. J College of Pharmacy, Sholinganallur, Chennai, Tamil Nadu, India *Corresponding Author Email: [email protected] Article Received on: 16/12/14 Revised on: 13/01/15 Approved for publication: 21/01/15 DOI: 10.7897/2230-8407.0618 ABSTRACT Pyrexia and analgesia are associated with several pathological conditions. Synthetic drugs available for the treatment of these conditions cause multiple unwanted effects. The main objective of the present work is to find out the good pharmacological activities in herbal source. The current study was aimed to investigate the antipyretic and analgesic properties of ethanolic leaf extract of Marsilea minuta Linn (EEMM) in rats. EEMM was employed to assess antipyretic activity in Brewer’s yeast-induced pyrexia in rats and the analgesic activity was studied using tail-immersion method and Eddy’s hot-plate device maintained at 55°C in rats. Dried powder plant materials were subjected to successive solvent extraction taking Petroleum ether, Benzene, Chloroform, Ethanol and triple distilled water. -

Marsilea Crenata Ethanol Extract Prevents Monosodium Glutamate Adverse Effects on the Serum Levels of Reproductive Hormones
Veterinary World, EISSN: 2231-0916 RESEARCH ARTICLE Available at www.veterinaryworld.org/Vol.14/June-2021/16.pdf Open Access Marsilea crenata ethanol extract prevents monosodium glutamate adverse effects on the serum levels of reproductive hormones, sperm quality, and testis histology in male rats Sri Rahayu , Riska Annisa , Ivakhul Anzila , Yuyun Ika Christina , Aries Soewondo , Agung Pramana Warih Marhendra and Muhammad Sasmito Djati Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Brawijaya University, Malang 65145, East Java, Indonesia. Corresponding author: Sri Rahayu, e-mail: [email protected] Co-authors: RA: [email protected], IA: [email protected], YIC: [email protected], AS: [email protected], APWM: [email protected], MSD: [email protected] Received: 28-12-2020, Accepted: 28-04-2021, Published online: 15-06-2021 doi: www.doi.org/10.14202/vetworld.2021.1529-1536 How to cite this article: Rahayu S, Annisa R, Anzila I, Christina YI, Soewondo A, Marhendra APW, Djati MS (2021) Marsilea crenata ethanol extract prevents monosodium glutamate adverse effects on the serum levels of reproductive hormones, sperm quality, and testis histology in male rats, Veterinary World, 14(6): 1529-1536. Abstract Background and Aim: Marsilea crenata is an aquatic plant that contains high antioxidants level and could prevent cell damages caused by free radicals. The present study aimed to investigate the effect of M. crenata ethanol extract on luteinizing hormone (LH), testosterone levels, sperm quality, and testis histology of adult male rats induced by monosodium glutamate (MSG). Materials and Methods: This study randomly divided 48 male rats into eight groups (n=6): control group; MSG group (4 mg/g body weight [b.w.] for 30 days); MS1, MS2, and MS3 groups (4 mg/g b.w.