Campos Lindos/To
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
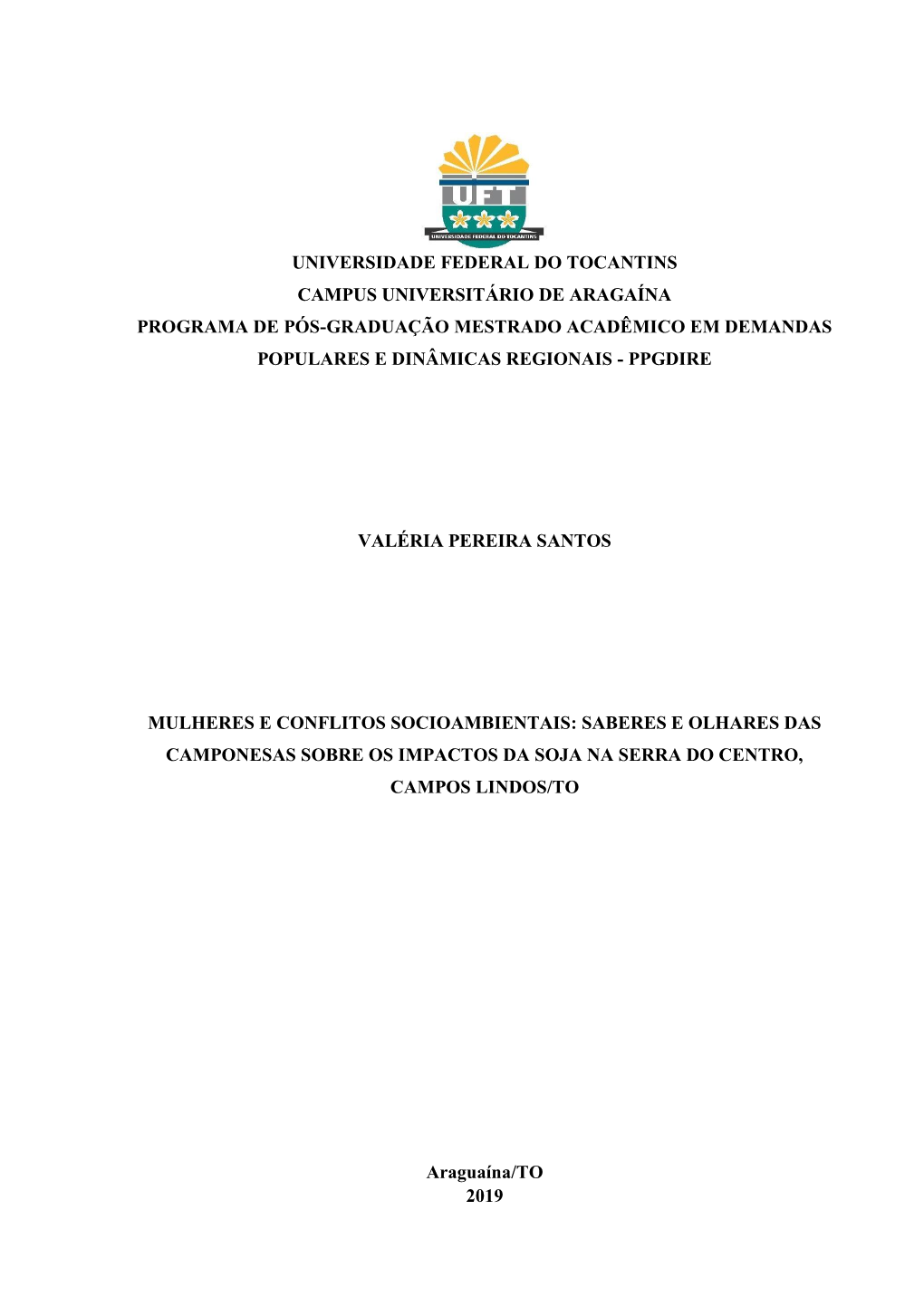
Load more
Recommended publications
-

Situação Das Comunidades De Camponeses Da Serra Do Centro (Campos Lindos-TO)
Palmas, 24 de março de 2014 Relatório antropológico: Situação das comunidades de camponeses da Serra do Centro (Campos Lindos-TO) Referência: IC 08127.000074/97-82 (PRM-Araguaína) 1. Introdução O presente trabalho configura-se como atendimento ao despacho exarado pela procuradora da RepúblIca AldIrla PereIra de Albuquerque no âmbIto do InquérIto CIvIl PúblIco 08127.000074/97-82, que tem como objeto o acompanhamento da Implantação do Projeto Agrícola Campos LIndos e a sItuação dos posseIros que resIdem na área. ConsIderando as Informações contIdas nos autos, Indicando que taIs posseIros fazem parte de comunidades tradicIonaIs, a procuradora solIcItou a realIzação de estudo antropológico na área, objetIvando que fossem obtIdos dados acerca da trajetória histórica e do modo de vida destas populações. Ressalte-se que, consIderando a quantIdade de comunidades a serem visItadas, o trabalho de campo na região da Serra do Centro deveria contar com a partIcIpação de um antropólogo lotado na superintendêncIa do Incra em Palmas-TO, porém Isso não foi possível em virtude de problemas de saúde do referido servidor. Como consequêncIa disto, havia apenas uma equipe em condições de realIzar as visItas aos camponeses, ao invés das duas previstas no planejamento inicIal. Desta forma, InfelIzmente tIvemos que permanecer menos tempo em cada comunidade, pois não havia tempo hábil para prorrogar ou adiar a programação feIta em colaboração com os Integrantes da ComIssão Pastoral da Terra, que nos acompanharam ao longo de todo o trabalho. De qualquer maneIra, Importa esclarecer que estIvemos em Campos LIndos entre os dias 12 e 18 de dezembro de 2013, tendo visItado as comunidades conhecIdas como Raposa, Passagem de AreIa, Gado Velhaco, Vereda Bonita, PrImavera, SítIo e Caboclos. -

Uf Município Início Número Valor Contrapartida Objeto Liberado
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FUNASA - ESTADO DE TOCANTINS - ABRIL DE 2012 UF MUNICÍPIO INÍCIO NÚMERO VALOR CONTRAPARTIDA OBJETO LIBERADO TO CACHOEIRINHA 30/JUN/2006 CV 1818/06 120.000,00 3.600,00 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. 60000,00 MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS PARA ATENDERO TO CACHOEIRINHA 31/DEZ/2007 TC/PAC 0766/07 150.000,00 5.839,14 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA/TO, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO- 150000,00 PAC/2007. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TO CACHOEIRINHA 31/DEZ/2007 TC/PAC 0596/07 1.430.660,17 44.247,22 572264,07 CACHOEIRINHA/TO NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2007. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE CACHOEI- TO CACHOEIRINHA 31/DEZ/2007 TC/PAC 0248/07 350.000,00 10.709,54 350000,00 RINHA/TO, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2007. MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CACHOEI- TO CACHOEIRINHA 31/DEZ/2007 TC/PAC 0509/07 484.536,09 15.465,06 484536,09 RINHA/TO, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TO CACHOEIRINHA 31/DEZ/2009 TC/PAC 1144/09 154.230,00 4.770,00 0,00 CACHOEIRINHA/TO, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. TO CACHOEIRINHA 31/DEZ/2010 TC/PAC 0380/10 440.247,11 13.615,89 EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 0,00 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA NO MUNICIPIO DE CAMPOS LIN- TO CAMPOS LINDOS 31/DEZ/2007 TC/PAC 0921/07 45.000,00 1.932,55 45000,00 DOS/TO, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. -

Estado Do Tocantins Secretaria Da Educação, Juventude E Esportes Comissão Permanente De Seleção – Copese Processo De Seleção - Diretor De Unidade Escolar
ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – COPESE PROCESSO DE SELEÇÃO - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR EDITAL N° 003/2017 – SEDUC – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVA E CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ETAPA I - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA TÉCNICA / PROVA OBJETIVA PROCESSO PARA SUBSIDIAR A ESCOLHA PARA O PROVIMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE DIRETOR NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DO TOCANTINS A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 5.645, de 30 de maio de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado n° 4.883, de 7 de junho de 2017, do Senhor Governador do Estado do Tocantins, torna público a HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVA E CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ETAPA I - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA TÉCNICA / PROVA OBJETIVA, referente ao Processo Seletivo para Subsidiar a Escolha do Provimento da Função Pública de Diretor de Unidade Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino do Tocantins, objeto do edital de abertura nº 001, de 25 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 4.940, de 25 de agosto de 2017, conforme segue: 1. DA CONVOCAÇÃO 1.1. Ficam CONVOCADOS para a aplicação das provas da Etapa I – Avaliação de Competência Técnica / Prova Objetiva os candidatos que tiveram suas inscrições devidamente homologadas, conforme item 3 (e seus subitens) deste edital. 1.1.1. Solicitamos a todos os candidatos convocados que releiam atentamente e observem os dispostos procedimentais constantes no Edital de Abertura (nº 001/2017 – de 25/08/2017), em especial aos itens 6 e 7 (e seus subitens) e à data e horários da aplicação das provas disponíveis no Quadro I do subitem 6.2 do edital de abertura. -

Boletim Covid-11-2-21
TOCANTINS CONTRA O 11 de fevereiro CORONAVÍRUS BOLETIM de 2021 (COVID-19) EPIDEMIOLÓGICO Nº 333 PG. 01 NOTIFICAÇÕES PARA COVID-19 CASOS CONFIRMADOS HOSPITALIZAÇÃO COVID 105.998 229 CASOS RECUPERADOS LEITOS PÚBLICOS 143 96.615 CLÍNICOS 59 CASOS ATIVOS (EM ISOLAMENTO DOMICILIAR OU HOSPITALAR) UTI COVID 84 7.939 LEITOS PRIVADOS 86 ÓBITOS CLÍNICOS 36 Casos confirmados UTI COVID 50 1.444 1 - 50 51 - 100 101 - 500 501 - 1000 > 1000 VACINÔMETRO CASOS NOTIFICADOS 20.381 336.710 PESSOAS VACINADAS 333º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE NOTIFICAÇÕES DA COVID-19 NO TOCANTINS A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, foram contabilizados 441 novos casos confirmados para Covid-19. Deste total, 151 foram registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem. Desta forma, hoje o Tocantins registra um total de 336.710 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 105.998 casos confirmados da doença. Destes, 96.615 pacientes estão recuperados e 7.939 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além 1.444 óbitos. TABELA 1. Distribuição dos novos casos confirmados para COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS. MUNICÍPIO TOTAL MUNICÍPIO TOTAL PALMAS 108 WANDERLÂNDIA 3 ARAGUAÍNA 54 ALVORADA 2 PARAÍSO DO TOCANTINS 37 BRASILÂNDIA DO TOCANTINS 2 ANANÁS 27 TUPIRATINS 2 PORTO NACIONAL 19 ABREULÂNDIA 1 ALIANÇA DO TOCANTINS 15 ANGICO 1 ARAGUATINS 14 APARECIDA DO RIO NEGRO 1 GURUPI 13 BANDEIRANTES DO TOCANTINS 1 SANTA -

Endereço Dos Locais De Votação E Municípios Que Compõem
ENDEREÇO DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM CIDADES DE VOTAÇÃO ENDEREÇO MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM ALIANÇA DO TOCANTINS Câmara Municipal de Aliança do TO-(QUADRO I, II E III) Dueré, Santa Rita do Tocantins, Lagoa da Confusão e Oliveira de Fátima. Avenida Central, nº 207 – Centro ARAGUAÇU SEMUS (QUADRO I, II E III)- Rua 21,n º 482. Sandolândia e Talismã. ARAGUAÍNA HRA- Hospital Regional de Araguaína (QUADRO II e III)-Rua 13 Babaçulândia, Barra do Ouro, Goiatins, Carmolândia, Aragominas, de maio nº 1336, Centro. Muricilândia, Santa Fé do Araguaia ,Nova Olinda e Filadélfia. Hospital de Doenças Tropicais (QUADRO I) - Av José de Brito, nº1015, Setor Anhanguera. ARAGUATINS Centro Municipal de Saúde- (QUADRO I, II E III) – São Bento do Tocantins. Rua 13 de outubro, nº695, Centro AUGUSTINÓPOLIS Núcleo de Ciências Jurídicas da Faculdade do Bico do Papagaio Buriti do Tocantins, Esperantina, São Sebastião do Tocantins, Carrasco Bonito, – FABIC - (QUADRO I, II E III) Sampaio, Praia Norte, Axixá do Tocantins, São Miguel do TO e Sitio Novo do Rua Planalto, s/nº, Centro. Tocantins. COLINAS Hospital Municipal de Colinas-(QUADRO I, II E III) Palmeirante, Juarina , Brasilândia do Tocantins, Arapoema, Pau D’Arco, Rua João Ramalho s/n, Setor Campinas. Bandeirante e Bernardo Sayão. COLMÉIA SEMUS-(QUADRO I, II E III) Couto de Magalhães, Pequizeiro, Goianorte e Itaporã do Tocantins. Av Castelo Branco, nº 642 DIANÓPOLIS CEO- Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas- Chapada da Natividade, Natividade, Almas, Porto Alegre do Tocantins, Rio da (QUADRO I, II E III) Conceição, São Felix do Tocantins, Mateiros e Novo Jardim. Rua Jaime Pontes- Centro GUARAÍ Hospital de Referência de Guaraí. -

Sistema SGEP
Relatório de Convênios Data Núm. Convênio Concedente CNPJ Cidade Início Vigência 001/2017 UNIVERSIDADE PAULISTA- ASSUPERO 06099229/001264 Palmas - TO 17/11/2017 17/11/2020 001/2017 ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE NATIVIDADE 03758716/000140 Natividade - TO 30/10/2017 30/10/2019 CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CEDECA-GLÓRIA 001/2017 08941567/000174 Palmas - PR 27/10/2017 27/10/2018 DE IVONE 001/2017 SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E JUSTIÇA DO TOCANTINS 05553216/000106 Palmas - TO 16/10/2017 16/10/2018 001/2017 ORGANIZAÇÃO MARIA OTÍLIA NEIX 04380327/000197 Ribeirão Preto - SP 26/09/2017 23/09/2018 001/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL-SEMTRAS 06919826/000135 Breves - PA 25/09/2017 30/09/2018 002/2017 T.A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SEAGRO-TO 25089137000195 Palmas - TO 22/09/2017 22/09/2018 001/2017 IMAD- INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS 08829490/000105 Uberaba - MG 11/09/2017 23/06/2019 001/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO-MA 05631031/000164 Sítio Novo - MA 30/08/2017 30/08/2018 001/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE-MT 01375138/000138 Brasnorte - MT 23/08/2017 31/12/2018 002/2017 PARÓQUIA SÃO VICENTE FERRER 00007138/000127 Araguatins - TO 22/08/2017 22/08/2020 001/2017 LAR BATISTA F.F. SOREN 33574617/000684 Porto Nacional - TO 22/08/2017 22/08/2019 001/2017 ESCOLA DOUTORES DO ABC -EIRELI-ME 19056680/000193 Araguatins - TO 18/08/2017 18/08/2018 001/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 18414607/000183 Medina - MG 10/08/2017 -

A Collection of Birds from Presidente Kennedy and Adjacent Areas, Tocantins: a Further Contribution to Knowledge of Amazonian Av
Revista Brasileira de Ornitologia, 24(2), 168-184 ARTICLE June 2016 A collection of birds from Presidente Kennedy and adjacent areas, Tocantins: a further contribution to knowledge of Amazonian avifauna between the Araguaia and Tocantins Rivers Guilherme R. R. Brito1,2, Guy M. Kirwan1,3, Claydson P. Assis1,4, Daniel H. Firme1,4, Daniel M. Figueira1, Nelson Buainain1 and Marcos A. Raposo1 1 Setor de Ornitologia, Museu Nacional / UFRJ, Departamento de Vertebrados, Horto Botânico, Quinta da Boa Vista s/n, São Cristóvão, CEP 20940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 2 Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia / UFRJ, Av. Carlos Chagas Filho, 373, Ilha do Fundão, Cidade Universitária, CEP 21941-941, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 3 Field Museum of Natural History, 1400 South Lakeshore Drive, Chicago, IL 60605, USA. 4 Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Rua do Matão, travessa 14, nº 321, Cidade Universitária, CEP 05508-090, São Paulo, SP, Brazil. 5 Corresponding author: [email protected] Received on 25 August 2015. Accepted on 13 June 2016. ABSTRACT: We report on a collection of birds made at a study site in Presidente Kennedy, midway between the Araguaia and Tocantins Rivers, in north-central Tocantins state, Brazil. Interesting records are presented for 22 species, most of them principally Amazonian taxa with comparatively few previous records for the state of Tocantins, and generally amplifying their local ranges either further south, from the north of the state, or further east, from the banks of the Araguaia River. Among them, we report the first specimen records for Tocantins of hybrids/intermediaries Pyrrhura parakeets of the “P. -

XXX CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO “Eficiência Nas Cadeias Produtivas E O Abastecimento Global”
XXX CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO “Eficiência nas cadeias produtivas e o abastecimento global” Cultivo do Milho Segunda Safra e Sorgo no Estado do Tocantins: Situação Atual e Demandas de Pesquisa (1) Emerson Borghi (2); Leandro Bortolon (2); Elisandra Solange Oliveira Bortolon (2); Junior Cesar Avanzi (2); Leonardo José Motta Campos (3); Luiza Vasconcelos Tavares Corrêa (4) . (1) Projeto financiado pela Fundação Agrisus (859/2011); (2) Pesquisador, Embrapa Pesca e Aquicultura, Palmas/TO; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; (3) Pesquisador, Embrapa Soja, Londrina/PR [email protected] ; (4) Pesquisadora, Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas/MG [email protected] . RESUMO: O cultivo de milho no Estado do graníferas, os números oficiais demonstram um a Tocantins vem crescendo significativamente. expectativa de crescimento de quase 35% na produção Somente na última safra, o aumento da área em relação à safra anterior (Conab, 2014). Grande cultivada foi superior a 100% quando comparado ao parte deste aumento foi impulsionada pelas culturas da ano anterior. Já o cultivo do sorgo é pouco soja e do milho. Segundo a última projeção da Conab significativo. Grande parte deste impulso foi (maio/2014), a produção de soja e de milho segunda decorrente da utilização pelos produtores de safra aumentaram em 2.224,3 mil toneladas e 453,7 cultivares de soja de ciclo precoce, diminuindo os mil toneladas, respectivamente. A produção total de riscos para o milho cultivado na sequência. Mesmo grãos é de 3.529 mil toneladas. com o aumento da área cultivada, a produtividade Neste cenário o cultivo de milho vem ganhando de milho ainda é relativamente baixa quando destaque. -

Boletim Covid-04-08-20
TOCANTINS CONTRA O 04 de agosto CORONAVÍRUS BOLETIM de 2020 (COVID-19) EPIDEMIOLÓGICO Nº 142 PG. 01 NOTIFICAÇÕES PARA COVID-19 CASOS CONFIRMADOS HOSPITALIZAÇÃO COVID 27.664 CASOS RECUPERADOS 263 LEITOS PÚBLICOS 164 16.562 CLÍNICOS 102 CASOS ATIVOS (EM ISOLAMENTO DOMICILIAR OU HOSPITALAR) 10.694 UTI COVID 62 ÓBITOS LEITOS PRIVADOS 99 CASOS CONFIRMADOS Nenhum caso CLÍNICOS 51 1 a 10 casos 11 a 100 casos 408 Acima de 100 casos UTI COVID 48 142º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO NOTIFICAÇÕES DA COVID-19 NO TOCANTINS A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta terça-feira, 04 de agosto, foram contabilizados 669 novos casos confirmados para Covid-19. Desta forma, hoje o Tocantins acumula 27.664 casos confirmados da doença, destes 16.562 pacientes estão recuperados e 10.694 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 408 óbitos. Devido à instabilidade do sistema oficial do Ministério da Saúde de notificação da Covid-19, o E-SUS-VE, os municípios tocantinenses não estão conseguindo alimentar a base de dados em tempo oportuno, e o Estado não está tendo acesso aos novos casos deste sistema diariamente, o que pode provocar um aumento expressivos nos próximos dias, quando a base for regularizada. ESTE QUANTITATIVO SE REFERE A CASOS NOVOS DE VÁRIOS DIAS DE COLETA DE EXAMES, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO UM AUMENTO DE CASOS NAS ÚLTIMAS 24HS. TABELA 1. Distribuição dos novos casos confirmados para COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS. MUNICÍPIO TOTAL MUNICÍPIO TOTAL 1 PALMAS 146 35 ALVORADA 2 2 ARAGUAÍNA 110 36 -

Diário Oficial Da União
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3 ISSN 1677-7069 N9 92, sexta-fefra, 15 ttmaio de 2020 I Fi|ft« PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS AVISO DE LICITAÇÃO AVtSO DE LIOTAÇÂO TOMADA DE PREÇOS N« 3/2020 TOMADA DE PREÇOS N» 7/2020 O Município de Brejinho de Nazaré - TO, através da SecretS ___ Administração, por meio da comissão permanente do licitação, torna p^áblico que Pfoc. n' 447/2020. Tomada de Preços n? 7/2020. Objeto: Contratação de Empresa para realizar em suas dependências, sito a Praça Nossa Senhora de Nazaré. n2 éss^C^B: 77.560- Execução dos Serviços de Pavimentação e Recuperação asfáltica nas Ruas de Araguatins. Torna 000. na sala de reuniões, os procedimentos licitatórios abaixo mencionados. oP público que realizará licitação com abertura da sessão pública para o dia 01/06/2020 ás 08:00. seus respectivos anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal ou ainda no O Edital e seus anexos poderá ser adquirido no site www.araguatins.to.gov.br site http;//www.brejinhodenazare.to.gov.br/. maiores informações estarjp disponíveis pelo ou na sala da CPL, Solicitado Via e-mail:lí[email protected], ou pelo Telefone telefone (63) 3521-1441 ou pelo e-mail: cpl.brejlnhol3igmail.com, MUNICÍPIO OE BREJINHO (63) 3474-2140 ou 63 99968-1348. DE NAZARÉ - TO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. Processo licitatório n2 749/2020, do tipo menor valor global. Araguatins-TO, 14 de maio de 2020. Objeto: Contratação de empresa para realização de obras e serviços de JOSE RIBEIRO OE OLIVEIRA JÚNIOR engenharia com vistas a implantação do sistema de abastecimento de agua na zona rural do município de Brejinho de Nazaré • TO. -

BOLETIM COVID-21-7-21.Pdf
TOCANTINS CONTRA O 21 de julho CORONAVÍRUS BOLETIM de 2021 (COVID-19) EPIDEMIOLÓGICO Nº 493 PG. 01 NOTIFICAÇÕES PARA COVID-19 CASOS CONFIRMADOS HOSPITALIZAÇÃO COVID 206.010 309 CASOS RECUPERADOS LEITOS PÚBLICOS 218 188.818 CLÍNICOS 64 CASOS ATIVOS (EM ISOLAMENTO DOMICILIAR OU HOSPITALAR) UTI COVID 154 13.763 LEITOS PRIVADOS 91 ÓBITOS CLÍNICOS 43 Casos confirmados UTI COVID 48 3.429 1 - 50 51 - 100 101 - 500 VACINÔMETRO CASOS NOTIFICADOS 501 - 1000 > 1000 762.494 612.245 DOSES APLICADAS 493º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE NOTIFICAÇÕES DA COVID-19 NO TOCANTINS A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta quarta-feira, 21 de julho, foram contabilizados 468 novos casos confirmados para Covid-19. Deste total, foram registrados 46 nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, na data de ontem. Desta forma, hoje o Tocantins registra um total de 612.245 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 206.010 casos confirmados da doença. Destes, pacientes 188.818 estão recuperados e 13.763 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 3.429 óbitos. TABELA 1. Distribuição dos novos casos confirmados para COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS. MUNICÍPIO TOTAL MUNICÍPIO TOTAL ARAGUAÍNA 91 DIANÓPOLIS 2 GURUPI 43 FORMOSO DO ARAGUAIA 2 PALMAS 33 GOIATINS 2 COUTO MAGALHÃES 25 ITACAJÁ 2 AUGUSTINÓPOLIS 23 MIRACEMA DO TOCANTINS 2 PARAÍSO DO TOCANTINS 19 MONTE DO CARMO 2 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS 18 NATIVIDADE 2 FÁTIMA 18 -

Boletim Covid-19
TOCANTINS CONTRA O 19 de novembro CORONAVÍRUS BOLETIM de 2020 (COVID-19) EPIDEMIOLÓGICO Nº 249 PG. 01 NOTIFICAÇÕES PARA COVID-19 CASOS CONFIRMADOS HOSPITALIZAÇÃO COVID 78.878 94 CASOS RECUPERADOS LEITOS PÚBLICOS 71 70.809 CLÍNICOS 29 CASOS ATIVOS (EM ISOLAMENTO DOMICILIAR OU HOSPITALAR) UTI COVID 42 6.923 LEITOS PRIVADOS 23 ÓBITOS CLÍNICOS 15 Casos confirmados 1 - 50 UTI COVID 8 51 - 100 1.146 101 - 500 CASOS NOTIFICADOS 501 - 1000 248.135 > 1000 249º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE NOTIFICAÇÕES DA COVID-19 NO TOCANTINS A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta quinta-feira, 19 de novembro, foram contabilizados 274 novos casos confirmados para Covid-19. Deste total, 123 foram registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem. Desta forma, hoje o Tocantins registra um total de 248.135 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 78.878 casos confirmados da doença. Destes, 70.809 pacientes estão recuperados e 6.923 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 1.146 óbitos. TABELA 1. Distribuição dos novos casos confirmados para COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS. MUNICÍPIO TOTAL MUNICÍPIO TOTAL 1 PALMAS 66 22 LAGOA DA CONFUSÃO 2 2 GURUPI 39 23 MIRANORTE 2 3 ARAGUAÍNA 27 24 NATIVIDADE 2 4 FIGUEIRÓPOLIS 25 25 PORTO NACIONAL 2 5 ANANÁS 15 26 AGUIARNÓPOLIS 1 6 COLINAS DO TOCANTINS 14 27 ARAGUATINS 1 7 AXIXÁ DO TOCANTINS 12 28 BREJINHO DE NAZARÉ 1 8 WANDERLÂNDIA 8 29 CARRASCO BONITO 1 9 CHAPADA DE AREIA