Universidade De São Paulo Faculdade De Educação
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

KIDS FIRST! Best 2009 Nominees
KIDS FIRST! Best 2009 Nominees INDEPENDENT SHORT, AGES 0-2 Cuddlies: Where is Everyone Baby TV Channel Emma's Theatre: France Baby TV Channel Mr. Snail: Butterfly Baby TV Channel SHORT Shorts AGES 2-5 Art Weston Woods/Scholastic Boy Who Cried Wolf, The Weston Woods/Scholastic Bugs! Bugs! Bugs! Weston Woods/Scholastic Knuffle Bunny Too Weston Woods/Scholastic Firefly and the Stars, The Lightbug Productions SHORTS, AGES 2-5 Adventures of Walker and Ping Ping: The Chinese Market Little Emperor LLC Bali - My New Friend Mateo Planet Nemo Global Wonders Around the world Global Wonders Magic Woods, The: The Monarch Butterfly The Magic Woods Inc. SERIES, AGES 2-5 My Friend Rabbit Qubo Pahappahooey Island Anchor Bay Entertainment/? Sesame Street Sesame Workshop Stuart Little Sony Pictures Home Entertainment/? Wow! Wow! Wubbzy! Anchor Bay Entertainment/Bob Boyle Feature Film, ages 2-5 Elmo's Christmas Countdown Genius Products/Sesame Workshop INDEPENDENT SHORT SHORTS, AGES 5-8 Billy the Squid Artisans PR/Dan Holguin Crocs, Pots and Wildebeests At Last Interactive Center for Health and the Global Environment, Once Upon a Tide Harvard Medical School Plastic Perils of the Pacific, The Brandon Strathmann Sometimes I'm Sad Gasoline Productions INDEPENDENT SHORT, Animated, AGES 5-8 Little Soul And The Sun Wakingup Media Lokum: The Turkish Delight Compugraf Tomboy Coyle Productions Inc. Wormhead Koolkidz Television Zap Squad And the Sands of Time Digital Tap LLC INDEPENDENT SHORT, Live Action, AGES 5-8 Alex's Halloween Daniel Persitz Heart Full of Love -

Pr-Dvd-Holdings-As-Of-September-18
CALL # LOCATION TITLE AUTHOR BINGE BOX COMEDIES prmnd Comedies binge box (includes Airplane! --Ferris Bueller's Day Off --The First Wives Club --Happy Gilmore)[videorecording] / Princeton Public Library. BINGE BOX CONCERTS AND MUSICIANSprmnd Concerts and musicians binge box (Includes Brad Paisley: Life Amplified Live Tour, Live from WV --Close to You: Remembering the Carpenters --John Sebastian Presents Folk Rewind: My Music --Roy Orbison and Friends: Black and White Night)[videorecording] / Princeton Public Library. BINGE BOX MUSICALS prmnd Musicals binge box (includes Mamma Mia! --Moulin Rouge --Rodgers and Hammerstein's Cinderella [DVD] --West Side Story) [videorecording] / Princeton Public Library. BINGE BOX ROMANTIC COMEDIESprmnd Romantic comedies binge box (includes Hitch --P.S. I Love You --The Wedding Date --While You Were Sleeping)[videorecording] / Princeton Public Library. DVD 001.942 ALI DISC 1-3 prmdv Aliens, abductions & extraordinary sightings [videorecording]. DVD 001.942 BES prmdv Best of ancient aliens [videorecording] / A&E Television Networks History executive producer, Kevin Burns. DVD 004.09 CRE prmdv The creation of the computer [videorecording] / executive producer, Bob Jaffe written and produced by Donald Sellers created by Bruce Nash History channel executive producers, Charlie Maday, Gerald W. Abrams Jaffe Productions Hearst Entertainment Television in association with the History Channel. DVD 133.3 UNE DISC 1-2 prmdv The unexplained [videorecording] / produced by Towers Productions, Inc. for A&E Network executive producer, Michael Cascio. DVD 158.2 WEL prmdv We'll meet again [videorecording] / producers, Simon Harries [and three others] director, Ashok Prasad [and five others]. DVD 158.2 WEL prmdv We'll meet again. Season 2 [videorecording] / director, Luc Tremoulet producer, Page Shepherd. -

TV Channel Distribution in Europe: Table of Contents
TV Channel Distribution in Europe: Table of Contents This report covers 238 international channels/networks across 152 major operators in 34 EMEA countries. From the total, 67 channels (28%) transmit in high definition (HD). The report shows the reader which international channels are carried by which operator – and which tier or package the channel appears on. The report allows for easy comparison between operators, revealing the gaps and showing the different tiers on different operators that a channel appears on. Published in September 2012, this 168-page electronically-delivered report comes in two parts: A 128-page PDF giving an executive summary, comparison tables and country-by-country detail. A 40-page excel workbook allowing you to manipulate the data between countries and by channel. Countries and operators covered: Country Operator Albania Digitalb DTT; Digitalb Satellite; Tring TV DTT; Tring TV Satellite Austria A1/Telekom Austria; Austriasat; Liwest; Salzburg; UPC; Sky Belgium Belgacom; Numericable; Telenet; VOO; Telesat; TV Vlaanderen Bulgaria Blizoo; Bulsatcom; Satellite BG; Vivacom Croatia Bnet Cable; Bnet Satellite Total TV; Digi TV; Max TV/T-HT Czech Rep CS Link; Digi TV; freeSAT (formerly UPC Direct); O2; Skylink; UPC Cable Denmark Boxer; Canal Digital; Stofa; TDC; Viasat; You See Estonia Elion nutitv; Starman; ZUUMtv; Viasat Finland Canal Digital; DNA Welho; Elisa; Plus TV; Sonera; Viasat Satellite France Bouygues Telecom; CanalSat; Numericable; Orange DSL & fiber; SFR; TNT Sat Germany Deutsche Telekom; HD+; Kabel -

2013 Movie Catalog © Warner Bros
1-800-876-5577 www.swank.com Swank Motion Pictures,Inc. Swank Motion 2013 Movie Catalog 2013 Movie © Warner Bros. © 2013 Disney © TriStar Pictures © Warner Bros. © NBC Universal © Columbia Pictures Industries, ©Inc. Summit Entertainment 2013 Movie Catalog Movie 2013 Inc. Pictures, Motion Swank 1-800-876-5577 www.swank.com MOVIES Swank Motion Pictures,Inc. Swank Motion 2013 Movie Catalog 2013 Movie © New Line Cinema © 2013 Disney © Columbia Pictures Industries, Inc. © Warner Bros. © 2013 Disney/Pixar © Summit Entertainment Promote Your movie event! Ask about FREE promotional materials to help make your next movie event a success! 2013 Movie Catalog 2013 Movie Catalog TABLE OF CONTENTS New Releases ......................................................... 1-34 Swank has rights to the largest collection of movies from the top Coming Soon .............................................................35 Hollywood & independent studios. Whether it’s blockbuster movies, All Time Favorites .............................................36-39 action and suspense, comedies or classic films,Swank has them all! Event Calendar .........................................................40 Sat., June 16th - 8:00pm Classics ...................................................................41-42 Disney 2012 © Date Night ........................................................... 43-44 TABLE TENT Sat., June 16th - 8:00pm TM & © Marvel & Subs 1-800-876-5577 | www.swank.com Environmental Films .............................................. 45 FLYER Faith-Based -

Il Modo Più Semplice Di Vedere La Tua
Scegli un televisore o un decoder TV DIGITALE TERRESTRE con il bollino DGTVi . e n o i z i u r f i d a e r a ’ l l e d a r u t r e p o c a . v i t i t . t i e v f t f g e ’ l d l . a w i t w a w n o i o t z i i s d l n a o i t c o o d n n o a s g e o l t l n o e c m e a n g u a m p o a c i t o u u t n l e t Per informazioni consulta i siti: e n n o i t c n i e e www.dgtvi.it s d e r e p e r o t www.mediasetpremium.it t s n e e r r m e t a www.digitaleterrestre.rai.it g e l a a p t i a g i i t www.la7.it/cartapiu/ d Scegli il modo giusto l u e n e d t i l www.boingtv.it n a o n c a i per passare alla c e i i www.aeranticorallo.it e l d a n e a n c o i www.frt.it i tv digitale terrestre z a e c c i i f i r r e a V L il modo più semplice di vedere la tua tv! Vai sul sicuro con il marchio DGTVi Bollini DGTVi: Nascono una garanzia per il consumatore il bollino blu e il bollino bianco Il DGTVi, associazione delle televisioni italiane* che ha il compito di promuovere la diffusione del digitale terrestre, ha creato due “bollini” a garanzia delle caratteristiche tecnico-qualitative dei ricevitori ed a tutela del consumatori. -

Lakeshore Entertainment, the Solution Entertainment Group, Qed International, Gfm and Arclight Among the Latest Leading Sales Agents to Join Rightstrade Marketplace
LAKESHORE ENTERTAINMENT, THE SOLUTION ENTERTAINMENT GROUP, QED INTERNATIONAL, GFM AND ARCLIGHT AMONG THE LATEST LEADING SALES AGENTS TO JOIN RIGHTSTRADE MARKETPLACE Cannes, France, May 2015 – RightsTrade, the leading online global marketplace for film and television rights, has closed deals with leading film sales companies Lakeshore Entertainment, The Solution Entertainment Group, QED International, GFM and Arclight to utilize its sales and screening platform. Other recent signings also include Altitude Films, Inception Media, Mongrel Media, and Electric Entertainment. “The addition of these leading sales agents immediately adds over 200 high quality titles to the RightsTrade marketplace. The velocity with which we are adding new clients, as well as last month’s recognition by MIPTV as “Best B2B Startup in the TV and Online Video Industry” are terrific validation that the market has embraced RightsTrade’s next-generation toolkit for content licensing. We are looking forward to speeding up the steps in the licensing process from screening to signature, so that our clients can close more deals, faster,” said RightsTrade CEO Steven Polster. “The RightsTrade platform facilitates our licensing efforts by providing our team with unparalleled screening and sales features. It is simple to use and yet offers all the analytics and security options that we could envision,” said Laura Austin-Little, Head of International Sales of Lakeshore. “From sending and tracking secure screeners to streamlining deals, RightsTrade has the potential to become the Airbnb of content licensing,” said Lisa Wilson, Co-Founder and Partner of The Solution Entertainment Group. “We are looking forward to making the most of their powerful platform to boost our sales.” “RightsTrade is a remarkable selling tool, that enables us to do our job, faster, more efficiently and with the confidence of security,” said Clay Epstein, SVP Sales & Acquisition of Arclight Films. -
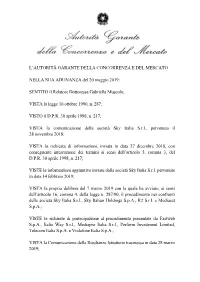
L'autorità GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA Del 20 Maggio 2019; SENTITO Il Relatore Dottoressa Gabr
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 maggio 2019; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; VISTA la comunicazione della società Sky Italia S.r.l., pervenuta il 28 novembre 2018; VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 27 dicembre 2018, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalla società Sky Italia S.r.l. pervenute in data 14 febbraio 2019; VISTA la propria delibera del 7 marzo 2019 con la quale ha avviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, il procedimento nei confronti delle società Sky Italia S.r.l., Sky Italian Holdings S.p.A., R2 S.r.l. e Mediaset S.p.A.; VISTE le richieste di partecipazione al procedimento presentate da Fastweb S.p.A., Italia Way S.r.l., Mediapro Italia S.r.l., Perform Investment Limited, Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.; VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa in data 28 marzo 2019; VISTE le memorie conclusive presentate da Mediaset S.p.A., Sky Italia S.r.l. e Mediapro Italia S.r.l.; VISTA la richiesta di parere, inviata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 11 aprile 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. -
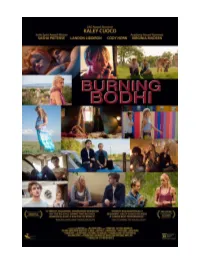
Matthew Mcduffie
2 a monterey media presentation Written & Directed by MATTHEW MCDUFFIE Starring KALEY CUOCO SASHA PIETERSE CODY HORN LANDON LIBOIRON and VIRGINIA MADSEN PRODUCED BY: MARSHALL BEAR DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: DAVID J. MYRICK EDITOR: BENJAMIN CALLAHAN PRODUCTION DESIGNER: CHRISTOPHER HALL MUSIC BY: IAN HULTQUIST CASTING BY: MARY VERNIEU and LINDSAY GRAHAM Drama Run time: 93 minutes ©2015 Best Possible Worlds, LLC. MPAA: R 3 Synopsis Lifelong friends stumble back home after high school when word goes out on Facebook that the most popular among them has died. Old girlfriends, boyfriends, new lovers, parents… The reunion stirs up feelings of love, longing and regret, intertwined with the novelty of forgiveness, mortality and gratitude. A “Big Chill” for a new generation. Quotes: “Deep, tangled history of sexual indiscretions, breakups, make-ups and missed opportunities. The cinematography, by David J. Myrick, is lovely and luminous.” – Los Angeles Times "A trendy, Millennial Generation variation on 'The Big Chill' giving that beloved reunion classic a run for its money." – Kam Williams, Baret News Syndicate “Sharply written dialogue and a solid cast. Kaley Cuoco and Cody Horn lend oomph to the low-key proceedings with their nuanced performances. Virginia Madsen and Andy Buckley, both touchingly vulnerable. In Cuoco’s sensitive turn, this troubled single mom is a full-blooded character.” – The Hollywood Reporter “A heartwarming and existential tale of lasting friendships, budding relationships and the inevitable mortality we all face.” – Indiewire "Honest and emotionally resonant. Kaley Cuoco delivers a career best performance." – Matt Conway, The Young Folks “I strongly recommend seeing this film! Cuoco plays this role so beautifully and honestly, she broke my heart in her portrayal.” – Hollywood News Source “The film’s brightest light is Horn, who mixes boldness and insecurity to dynamic effect. -

DIGITAL TV: the New Frontier Update on DTT Development
DIGITAL TV: the new frontier Update on DTT Development Milan, 25thOctober 2005 DTT Development in Italy | Coverage Number of DTT Population multiplexes Coverage 2 mux 80% - ≃ 65% 2 mux >70% 1 + (1) mux ≃ 70% - (≃ 65%) 1 mux ≃ 68% Sardegna and Valled’Aosta should be the first Region to switch off the Analog trasmission: already by the 31st January 2006 (1) MUXs already Authorized but not yet Active Digital Terrestrial TV | 2 | | 2 | DTT Development in Italy | SET-TOP-BOX Penetration Estimates of over 3ml Decoders at the end of September 2005 Around 2ml MHP Decoders sold with State subsidies 192.000 subsidies left to be reserved to Valle d’Aosta and Sardegna (switch off January 2006) Number of decoders sold through State subsidies STBs Price History 2.000.000 € 390 Subsidy Net Price € 150 Retail Price (gross of Sudsidy) € 250 € 199 € 179 € 150 € 149 € 119 € 150 € 99 € 150 € 70 € 239 € 99 € 49 € 29 € 149 € 49 € 99 March 2004 September 2005 Jan 2004 Mar. 04 May 04 Sept 04 Dec 04 Apr 05 Today Source: Ministero Comunicazioni Fonte: Stima GfK Marketing Services Italia Digital Terrestrial TV | 3 | | 3| |3 | DTT Development in Italy | SET-TOP-BOX Penetration Profile of DTT STBs sold 40% MHP STBs sold without subsidy 56% MHP STBs sold with subsidy 4% Zapper Source: Estimate by GfK Marketing Services Italia, May 2005 Digital Terrestrial TV 3 | 4 | | 4 | DTT Development in Italy | Channel Offer MainMain analogueanalogue channelschannels inin simulcastsimulcast SportSport andand sportsport newsnews i i i i i SPORT i i i SOLOCALCIO News:News: -

Communique De Presse
Paris aris V aris Paris, July, 26 2016 Vivendi and Mediaset: structure of the offer Vivendi confirms, following a request from the AMF and in accordance with market regulation, that on July 25th 2016 it sent a constructive letter to Mediaset relating to the Mediaset Premium acquisition (see press releases of April 8 and July 26), proposing an alternative structure: -A 3.5% share in Vivendi in exchange for: -a 20% share in Mediaset Premium and a 3.5% in Mediaset ; -and convertible bonds into Mediaset shares to be issued by Mediaset to Vivendi (annual instalments) for the remaining amount. Such a structure would fully align the interests of the respective groups. Acquiring a direct stake in Mediaset Premium will enable Vivendi to bring its know-how in Pay-TV, while keeping intact the synergies between pay and free TV activities within the Mediaset group. This proposal represents a more ambitious project, in line with the development of the television market and the strategy developed by our main competitors. It also reinforces Vivendi’s commitment to building a major strategic alliance with Mediaset and Mediaset Premium. About Vivendi Vivendi is an integrated media and content group. The company operates businesses throughout the media value chain, from talent discovery to the creation, production and distribution of content. The main subsidiaries of Vivendi comprise Canal+ Group and Universal Music Group. Canal+ is the leading pay-TV operator in France, and also serves markets in Africa, Poland and Vietnam. Canal+ operations include Studiocanal, a leading European player in production, sales and distribution of film and TV series. -

DATE Name Company Address Dear , SWANK MOTION PICTURES, INC
10795 Watson Road Barbara Nelson Saint Louis, MO 63127-1012 Vice President 800-876-5577 314-984-6130 Email: [email protected] DATE Name Company Address Dear , SWANK MOTION PICTURES, INC. is the sole source for non-theatrical distribution and public performance licensing to Colleges and Universities, Elementary, High schools, Park and Recreation Departments, Cruise Ships, Hospitals and various other non-theater settings in either 35mm film, Pre-home DVD, DVD’s, Blu-Ray DVD and digital formats for the following studios: Warner Brothers The Weinstein Company Warner Independent Pictures A24 Films New Line Cinema Bleecker Street Media Columbia Pictures (Sony) STX Entertainment TriStar Pictures HBO Pictures Walt Disney Pictures CBS Films Marvel Entertainment Cohen Media Group Touchstone Hallmark Hall of Fame Universal Pictures IFC Films Focus Features Magnolia Pictures Paramount Pictures Monterey Media Lionsgate RLJ Entertainment Summit Entertainment Samuel Goldwyn Metro-Goldwyn Mayer United Artists Miramax The Orchard Studios listed are those supplying titles at the time of this printing, and since studios may vary from year to year, it is possible that one major studio may be added or one deleted. Any film that your organization licenses from Swank Motion Pictures for non-theatrical public performance and which is distributed by the motion picture studios listed above is fully in compliance with the Copyright Act as stated in Title 17 of the United States Code. Sincerely, Barbara J. Nelson VP, Sales and Studio Relations Worldwide Non-Theatrical Distributors of Motion Pictures www.swank.com . -

Network Operator
US Roadshow Presentation January 2007 | 1 | Mediaset | From FTA TV to Media Company DVB-H Digital (2006) Terrestrial Television Core Business (2004) One of the Largest TV and media company in Europe Leadership in audience shares both in Italy and Spain Leadership in the TV Adv. market both in Italy and Spain Total Net Revenues 2005: 3,678.0 ml Euro Pay per View (2005) | 2 | | 2 | Core Business FTA Television | 3 | Broadcasting | TV Strength in Italy 1997-2005: Total Audience (24 Hours) 9,095 8,848 8,915 9,140 9,284 8,494 8,630 9,213 9,188 8,113 V Consumption (minutes per day) 239 212 T 239 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Source: Auditel (24 hours, average minute) | 4 | | 4| 4|| 4| | Broadcasting | Leadership of FTA TV in Italy % of people per week 2001 2005 ANALOG TV 95.8 93.9 SATELLITE TV 11.9 16.7 RADIO 68.8 63.5 PRESS 60.6 59.1 BOOKS 54.0 55.3 INTERNET 20.1 37.6 WEEKLY - 32.5 MONTHLY - 22.2 MOBILE PHONES 72.8 78.9 Source:” Quinto Rapporto Censis sulla comunicazione in Italia, 2001-2006”, November 2006 | 5 | Broadcasting | Mediaset Leadership on Audience Share (2006, % audience share) 24 Hours Prime Time 44.2 43.3 42.8 43.5 41.3 40.6 39.5 41.5 Individuals Commercial Target Individuals Commercial Target Source Auditel, excluding World Cup. Commercial Target 15-54 years | 6 | | 6 | Advertising Expenditure in Europe Total Ad Spend per Capita Total Ad Spend as % of GDP 2005 (US$) 255 249 0,97 0,95 180 1,02 0,97 0,96 154 151 0,89 0,80 0,80 0,75 0,73 0,74 0,74 0,71 0,73 0,66 0,75 0,62 0,62 0,61 0,61 0,64 0,62 0,63 0,60 0,60 2001 2002 2003 2004 2005 UK Germany France Spain Italy UK Germany Spain France Italy Source Zenith Source Zenith Optimedia April 2006, Global Insight | 7 | | 7 | Advertising | Mediaset vs.