Mulholland Drive / 2001 Mulholland Drive
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THEWESTFIELD LEADER O O F/Re Leading and Mdst Widely Circulated Weekly Newspaper in Union County > H - Cc 1/1 Al O Z USPS 680020 Jo: J OND YEAR, NO
o o> THEWESTFIELD LEADER o o f/re Leading and Mdst Widely Circulated Weekly Newspaper In Union County > H - cc 1/1 aL O Z USPS 680020 jo: J OND YEAR, NO. 45 Second Clatf Pwloge Paid WESTFIELD, NEW JERSEY, THURSDAY, JUNE 10, 1982 Published al Wcilficld. N. J. Every Thursday 20 Pages—25 Cents o >-• •-i UJ U. iSs n Council Modifies Aerial Spraying of Sevin KueterWins Place Group Home Provisions Completed Yesterday A "model ordinance" violence when the numbers lines and $14,000 for "Gypsy moth spraying has On Nov. Ballot establishing criteria for placed in strategic areas in an- housed exceed six; no renovations, such as pain- been completed." ticipation of the Sevin spray. Democrat Carolyn Charney, with 194 votes; Levin, 931; for Surrogate, community homes for special zoning restrictions ting and redecorating the This is the message received Kueter tallied 307 write-in third ward, Joseph developmental^ disabled Preparations were well under- Ann P. Conti, 784; and for may be placed upon homes Mayor's office, in the as of 9:30 a.m. yesterday when way Monday afternoon for the votes — more than enough DiProspero, with 197 Freeholder, Thomas Long, groups of seven to 15 for six or less. Municipal Building. An or- concerned residents called Leaf to place her name on the votes; and fourth ward, residents was approved by program. School officials, 758; Charlotte DeFilippo, While no applications dinance also expected to be Line, the over-worked number notified of the date and time, ballot to oppose Brian Fahey, with 247 741; and Walter Boright, a 7-1 vote of Town Council have been made for the discussed and acted upon used to determine the status of Republican Ronald votes. -

46-23-HR Haldeman
Richard Nixon Presidential Library Contested Materials Collection Folder List Box Number Folder Number Document Date No Date Subject Document Type Document Description 46 23 8/4/1972Campaign Memo From William Carruthers to Chapin RE: planning for the use of television during the campaign. Handwritten notes added by unknown. 4 pgs. 46 23 7/28/1972Campaign Memo From Raymond Caldiero to Magruder RE: celebrity RN supporters who cannot publicly back him. 1 pg. 46 23 7/12/1971Campaign Memo From Kehrli to Chapin RE: attached information. 1 pg. 46 23 7/9/1971Campaign Memo From Henry C. Cashen II to Kehrli RE: progress with regard to planning for celebrity use in the campaign. 3 pgs. 46 23 6/20/1972Campaign Memo From Dailey to Chapin RE: celebrities to introduce the First Family and narrate a documentary at the Republican National Convention. Handwritten note added by unknown. List of celebrity RN supporters attached. 7 pgs. Monday, March 26, 2012 Page 1 of 1 THE WHITE HOUSE WASHINGTON August 4, 1972 TO: DWIGHT L. CHAPIN FROM: WILLIAM CARRUTHE~ RE: RESULTS AND RECOMMENDATIONS OF THE !IT. V. SPECIAL" MEETING HELD ON AUGUST 3rd It was agreed that the most advantageous time to air the T. V. Special would have been Sunday, August 20th. That date would have provided us with.maximum impact regarding the objectives of the program, i. e. recruit volunteers, stimulate contributions, and promote the Convention. We recommend against the September 8th air date for the same reason we objected to August 20th, not enough time to !!get it together. II The stakes are too high and in this short time frame and the risk factor too great. -

Whpr19751002-015
Digitized from Box 16 of the White House Press Releases at the Gerald R. Ford Presidential Library GUEST LIST FOR THE DINNER TO BE GIVEN BY THE PRESIDENT AND MRS. FORD IN HONOR OF THEIR MAJESTIES THE EMPEROR AND EMPRESS OF JAPAN ON THURSDAY, OCTOBER 2, 1975, AT EIGHT O'CLOCK, THE WHITE HOUSE Their Majesties The Emperor and Empress of Japan His Excellency Takeo Fukuda Deputy Prime Minister His Excellency The Ambassador of Japan and Mrs. Yasukawa His Excellency Takeshi U sami Grand Stewart, Imperial Household Agency His Excellency Sukemasa Irie Grand Chamberlain to His Majesty the Emperor His Excellency Morio Yukawa Grand Master of Ceremonies to His Majesty the Emperor His Excellency Naraichi Fujiyama Ambassador, Press Secretary to His Majesty the Emperor The Honorable Yoshihiro Tokugawa Vice-Grand Chamberlain to His Majesty the Emperor Mrs. Sachiko Kitashiltakawa Chief Lady-in-Waiting to Her Majesty the Empress His Excellency Hiroshi Uchida Ambassador, Chief of Protocol, Ministry of Foreign Affairs The Honorable Seiya Nishida and Mrs. Nishida Minister, Embassy of Japan The Secretary of State and Mrs. Kissinger Mr. Justice Blackmun and Mrs. Blackmun The Honorable Robert T. Hartmann, Counsellor to the President, and Mrs. Hartmann The Honorable Hugh Scott, United States Senate, and Mrs. Scott (Pennsylvania) The Honorable Daniel K. Inouye, United States Senate, and Mrs. Inouye (Hawaii) The Honorable William E. Brock, III, United States Senate, and Mrs. Brock (Tennessee) The Honorable Robert B. Morgan, United States Senate, and Mrs. Morgan (North Carolina) The Honorable Bob Wilson, House of Representatives, and Mrs. Wilson (California) The Honorable Spark M. -

Danger, Danger
FINAL-1 Sat, Apr 27, 2019 6:22:37 PM tvupdateYour Weekly Guide to TV Entertainment For the week of May 5 - 11, 2019 Emily Watson stars in “Chernobyl” INSIDE Danger, •Sports highlights Page 2 •TV Word Search Page 2 •Family Favorites Page 4 Hollywood Q&A Page14 danger • On Monday, May 6, join Soviet scientist Valery Legasov (Jared Harris, “The Terror”), nuclear physicist Ulana Khomyuk (Emily Watson, “Genius”) and head of the Bureau for Fuel and Energy of the Soviet Union Boris Shcherbina (Stellan Skarsgård, “River”), as they seek to uncover the truth behind one of the world’s worst man-made catastrophes in the premiere of “Chernobyl,” on HBO. WANTED WANTED MOTORCYCLES, SNOWMOBILES, OR ATVS To advertise here GOLD/DIAMONDS BUY SELL please call ✦ 40 years in business; A+ rating with the BBB. TRADE ✦ For the record, there is only one authentic CASH FOR GOLD, PARTS & ACCESSORIESBay 4 (978) 946-2375 Group Page Shell We Need: SALES & SERVICE Motorsports 5 x 3” Gold • Silver • Coins • Diamonds MASS. MOTORCYCLE1 x 3” We are the ORIGINAL and only AUTHENTIC INSPECTIONS CASH FOR GOLD on the Methuen line, above Enterprise Rent-A-Car 1615 SHAWSHEEN ST., TEWKSBURY, MA at 527 So. Broadway, Rte. 28, Salem, NH • 603-898-2580 978-851-3777 Open 7 Days A Week ~ www.cashforgoldinc.com WWW.BAY4MS.COM FINAL-1 Sat, Apr 27, 2019 6:22:38 PM COMCAST ADELPHIA 2 CHANNEL Kingston Sports Highlights Atkinson Londonderry 10:30 p.m. NESN Red Sox Final Live ESPN Softball NCAA ACC Tournament NESN Baseball MLB Seattle Mariners Salem Sunday Sandown Windham (60) TNT Basketball NBA Playoffs Live Women’s Championship Live at Boston Red Sox Live GUIDE Pelham, 10:55 a.m. -
Settembre 2011 - Maggio 2012
DAVID LYNCHsettembre 2011 - maggio 2012 Circolo del cinema Circolo del cinema LuganoCinema93 Bellinzona Locarno Cinema Iride Cinema Forum 1+2 Cinema Morettina sabato, 18.00 venerdì, 20.30 domenica, 17.00 martedì, 20.30 sab 3 settembre ven 9 settembre dom 18 settembre ERASERHEAD ERASERHEAD ERASERHEAD Eraserhead – La mente Eraserhead – La mente Eraserhead – La mente che cancella, Usa 1978 che cancella, Usa 1978 che cancella, Usa 1978 sab 1 ottobre ven 7 ottobre dom 9 ottobre THE ELEPHANT MAN THE ELEPHANT MAN THE ELEPHANT MAN Usa 1980 Usa 1980 Usa 1980 sab 22 ottobre ven 28 ottobre dom 16 ottobre BLUE VELVET BLUE VELVET DUNE Velluto blu, Usa 1986 Velluto blu, Usa 1986 Usa 1984 sab 26 novembre ven 18 novembre dom 27 novembre WILD AT HEART WILD AT HEART BLUE VELVET Cuore selvaggio, Usa 1990 Cuore selvaggio, Usa 1990 Velluto blu, Usa 1986 mar 20 dicembre ven 16 dicembre dom 11 dicembre TWIN PEAKS – TWIN PEAKS – WILD AT HEART FIRE WALK WITH ME FIRE WALK WITH ME Cuore selvaggio, Usa 1990 Fuoco cammina con me, Usa 1992 Fuoco cammina con me, Usa 1992 dom 15 gennaio mar 10 gennaio ven 13 gennaio TWIN PEAKS – LOST HIGHWAY LOST HIGHWAY FIRE WALK WITH ME Strade perdute, Usa/F 1996 Strade perdute, Usa/F 1996 Fuoco cammina con me, Usa 1992 sab 4 febbraio ven 10 febbraio dom 12 febbraio THE STRAIGHT STORY THE STRAIGHT STORY LOST HIGHWAY Una storia vera, Usa/F/Gb 1999 Una storia vera, Usa/F/Gb 1999 Strade perdute, Usa/F 1996 mar 6 marzo ven 9 marzo dom 4 marzo MULHOLLAND DRIVE MULHOLLAND DRIVE THE STRAIGHT STORY F/Usa 2001 F/Usa 2001 Una storia vera, Usa/F/Gb 1999 mar 3 aprile ven 20 aprile dom 25 marzo INLAND EMPIRE INLAND EMPIRE MULHOLLAND DRIVE Usa/F/Polonia 2006 Usa/F/Polonia 2006 F/Usa 2001 sab 28 aprile dom 22 aprile CORTOMETRAGGI INLAND EMPIRE 1966-1995 Usa/F/Polonia 2006 dom 13 maggio CORTOMETRAGGI 1966-1995 www.cicibi.ch www.cclocarno.ch Entrata: fr. -

The New Television Masculinity in Rescue Me, Nip/Tuck, the Shield
Rescuing Men: The New Television Masculinity In Rescue Me, Nip/Tuck, The Shield, Boston Legal, & Dexter A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY Pamela Hill Nettleton IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY Mary Vavrus, Ph.D, Adviser November 2009 © Pamela Hill Nettleton, November/2009 i Acknowledgements I have had the extreme good fortune of benefitting from the guidance, insight, wit, and wisdom of a committee of exceptional and accomplished scholars. First, I wish to thank my advisor, Mary Vavrus, whose insightful work in feminist media studies and political economy is widely respected and admired. She has been an inspiring teacher, an astute critic, and a thoughtful pilot for me through this process, and I attempt to channel her dignity and competence daily. Thank you to my committee chair, Gilbert Rodman, for his unfailing encouragement and support and for his perceptive insights; he has a rare gift for challenging students while simultaneously imbuing them with confidence. Donald Browne honored me with his advice and participation even as he prepared to ease his way out of active teaching, and I learned from him as his student, as his teaching assistant, and as a listener to what must be only a tiny part of his considerable collection of modern symphonic music. Jacqueline Zita’s combination of theoretical acumen and pragmatic activism is the very definition of a feminist scholar, and my days in her classroom were memorable. Laurie Ouellette is a polished and flawless extemporaneous speaker and teacher, and her writing on television is illuminating; I have learned much from her. -
PPB-Newsletter-11In-Mar2011.Pub
WHO ’S WHAT / WHAT ’S WHERE MARCH 2011 GREAT TIME WAS HAD BY EVERYONE who attended the Pacific His broadcasting career began at a local radio station, WCVS, in his A Pioneer Broadcasters’ Celebrity Luncheon on January 21 ― it home town of Springfield, Illinois. After completing military service, was the 225th Luncheon in the history of this illustrious organization!!! our Honoree found his way to We were treated to good food, wonderful friends and an entertaining WTMJ in Milwaukee doing and meaningful program. play-by-play for the University Presented by PPB President SAM LOVULLO , the recipient of the of Wisconsin, the Milwaukee coveted ART GILMORE Career Achievement Award was CHAD Braves and the Green Bay EVERETT , best known for his seven-year run as the dashing Dr. Joe Packers. Gannon on the 1970s TV series “Medical Center,” which earned him In 1966, the West Coast two Golden Globe Awards and Emmy Nominations. Since his first beckoned and he’s been here appearance on “The Red Skelton Hour” in 1951, Chad has been seen in ever since. Be it baseball, over 90 TV shows and movies. basketball, football or tennis, The PPB afternoon began with a piece by Highlights Video Pro- he’s worked with the greats: Vin ducer PAT GLEASON which featured titles from dozens of shows in Scully, John Wooden, Vince which Chad appeared over his long career. Lombardi, Billie Jean King and Born in South Bend, Indiana, Chad graduated from Wayne many more. He’s announced CHRISTOPHER THOMAS and Diamond Circle recipient MIKE WALDEN University in Michigan. -

<Article-Title>Mulholland Drive</Article-Title> <Contrib-Group><Contrib> <Name Name-Style="Weste
Review: [untitled] Author(s): Martha P. Nochimson Reviewed work(s): Mulholland Drive by David Lynch ; Mary Sweeney ; Alain Sarde ; Neal Edelstein ; Michael Porlair ; Tony Krantz ; Pierre Edelman Source: Film Quarterly, Vol. 56, No. 1 (Autumn, 2002), pp. 37-45 Published by: University of California Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1213908 Accessed: 05/04/2010 11:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=ucal. Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. University of California Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Film Quarterly. http://www.jstor.org Mulholland Drive Dale Cooper (Kyle MacLachlan) in "Twin Peaks." If vision is always shadowed by the imbalances and ag- in the lower, toxic of the Director/Writer: David Lynch.Producers: Mary Sweeney, gressions depths imagination, Alain Sarde, Neal Edelstein, Michael Porlair,TonyKrantz, provoked by the despotism of manufactured culture, Pierre Edelman.Cinematographer: Peter Deming. -

Arizona Filmography
7/20/2004 Arizona Filmography Arizona Film Office 2003 Feature Mona Lisa Smile Columbia Tri-Star / Revolution Films Director Mike Newell Arizona Locations: Parker (Hwy 60 & 72 near Vicksburg) Producer Starring: Julia Roberts, Dirsten Dunst, Julia Stiles Exec. Telefeature Hard Ground LLP (Larry Levinson Productions) Director Frank Dobbs Arizona Locations: Lake Havasu City Producer Starring: Burt Reynolds, Bruce Dern Producer Randy Pope, Lincoln Lageson Exec. Larry Levinson 2002 Feature Charlie's Angels II Columbia Pictures Director Arizona Locations: Page (Glen Canyon Dam, Glen Canyon Bridge) Producer Exec. Confessions Of A Dangerous Mind Mad Chase Productions Studio: Miramax Director George Clooney Arizona Locations: Tucson, Nogales Arizona, Nogales Sonora Mexico Producer Sudzin Starring: George Clooney, Drew Barrymore, Sam Rockwell, Julia Roberts, Brad Pitt Producer Andre Lazar, Steven Reuther, Jeffrey Exec. George Clooney, Stephen Evans (I), Angus Finney Destiny Destiny Productions Studio: Independent Director Katherine Makinney Arizona Locations: Phoenix, Flagstaff Producer Tom Tangen, Mitch Teemley Starring: Jerri Manthey, Stephanie Feury, Todd Cahoon, Tom Tangen, Nancy Stafford Producer Dominic Cianciolo, Michael C. Edwards, Exec. 1 Saguaro Ranch Summer Westpark Productions Director Joey Travolta Arizona Locations: Prescott (Courthouse, Hwy.), Phoenix (Saguaro Lake Guest Ranch) Producer Exec. The Brothel Mt. Parnassus Pictures/Emerging Pictures Studio: Independent Director Amy Waddell Arizona Locations: Jerome, Sedona, Cottonwood Producer Starring: Serena Scott-Thomas, Grace Zabriskie, Whip Hubley, Bruce Payne Producer Amy Waddell, Wade Danielson Exec. The Incredible Hulk Universal Pictures Director Arizona Locations: Page (Lake Powell) Producer Exec. The Reckoning VIG Global Capital, Inc. Director Dustin Rikert Arizona Locations: Tucson (Old Tucson) Producer Starring: Gary Busey Producer Renee Roland Exec. -
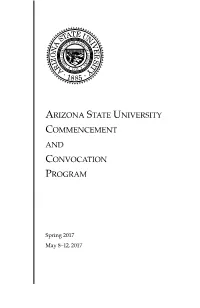
Spring 2017 Commencement Program
TE TA UN S E ST TH AT I F E V A O O E L F A DITAT DEUS N A E R R S I O Z T S O A N Z E I A R I T G R Y A 1912 1885 ArizonA StAte UniverSity CommenCement And ConvoCAtion ProgrAm Spring 2017 May 8–12, 2017 The NaTioNal aNThem The STaR SPaNGleD BaNNeR O say can you see, by the dawn’s early light, What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming? Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there. O say does that Star-Spangled Banner yet wave O’er the land of the free and the home of the brave? alma maTeR aRiZoNa STaTe UNiVeRSiTY Where the bold saguaros Raise their arms on high, Praying strength for brave tomorrows From the western sky; Where eternal mountains Kneel at sunset’s gate, Here we hail thee, Alma Mater, Arizona State. —Hopkins-Dresskell maRooN aND GolD Fight, Devils down the field Fight with your might and don’t ever yield Long may our colors outshine all others Echo from the buttes, Give em’ hell Devils! Cheer, cheer for A-S-U! Fight for the old Maroon For it’s Hail! Hail! The gang’s all here And it’s onward to victory! Students whose names appear in this program have completed degree requirements. -

Heteroglossia and the Power of Female Identity in Three Films by David Lynch
Transcendent voices: Heteroglossia and the Power of Female Identity in Three Films by David Lynch by Ildiko Juhasz A thesis submitted to the Graduate Faculty of Auburn University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Arts Auburn, Alabama August 6, 2011 Approved by Deron Overpeck, Chair, Assistant Professor of Communication and Journalism Hollie Lavenstein, Associate Professor of Communication and Journalism George Plasketes, Professor of Communication and Journalism Abstract In this thesis, I perform a feminist-semiotic analysis of three of David Lynch’s movies—Twin Peaks: Fire Walk with Me, Mulholland Drive and Inland Empire. I use Mikhail Bakhtin’s concept of heteroglossia as the tool for my examination, focusing on how the lead female characters in these films assert their voices against the other conflicting elements within the text. This thesis situates Lynch’s films within feminist film scholarship due to his strong female characters who function as active subjects of the narrative, furthering the action, in opposition with Laura Mulvey’s image of the passive woman. I argue that Lynch’s non-coherent narrative form is particularly useful for feminism because it reveals new representations for women and new ways for them to assert their agency. ii Table of Contents Abstract…………………………………………………………………………………………………..…ii Introduction……………………………………..………………………………………………………..…1 Literature Review and Methodology…………………………………………………………………….…3 Female Characters in Lynch’s Films……………………………………………………………………...33 Twin -

Muskie Refuses Mcgovern Offer
PAGE TWENTY FRIDAY, AUGUST 4, 1972 B ig Splash mattrl|i(Bt(r lEmning Hentlb The Weather Clear and cool tonight; low At Pool 60 to 55. Sunny and pleasant N om inees Resurfacing Obituaiy Sharp Increase Noted tomorrow; high 75 to 80. Out Lottery Numbers Wallace Beating Hilliard St., from Adams Page 5 look. lor Monday . partly E x p e c t e d St. to Broad St., will be re cloudy and warm. Volney C. Morey Conn. —: 26444 surfaced Monday, under MancheBter—-A City of Village Charm Manchester's annual road Volney C. Morey, 91, of Ken In Wholesale Prices T o Get N od Mass. — 118714 resurfacing program. VOL. XCI, NO. 261 (FOURTEEN PAGES—TV SECTION) sington, Calif., formerly of Man Therapy Schedule The work is being done by p ro d u c t s five-tenths, fuels MANCHESTER, CONN., SATURDAY, AUGUST 5, 1972 (Classified Advertising on Page 11) PRICE FIFTEEN CENTS (Continued from Page One) (Continued from Page One) chester, died last Sunday in a N.Y. — 058424 the Balf Co. of Hartford and three-tenths, chemtoals J one- Castro Valley, Calif., conva Polish Hall, Oolchester. (Continued from Page One) He recommended changes at is financed by a state grant, "The jobless rate In June and tenth, rubber products three- lescent home. He was the hus The same delegates who at N.J. — 431349 ... the executive mansion and the given each year for the pur July was substantially below tenths, lumber products 1.8 per band of Mrs. Marion Gleason tended the previous nominating Capltol IrvMontgomery to make pose to each of the state's the rates of around 6 per cent ge^t, pulp and paper products Morey.