Luan M M Arakaki
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Tillandsia Genus: History, Uses, Chemistry, and Biological Activity
BOLETÍN LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS 18 (3): 239 - 264 (2019) © / ISSN 0717 7917 / www.blacpma.usach.cl Revisión | Review The Tillandsia genus: history, uses, chemistry, and biological activity [El género Tillandsia: historia, usos, química y actividad biológica] Edgar Estrella-Parra1,2, María Flores-Cruz3,4, Gerardo Blancas-Flores1, Stephen D. Koch4 & Francisco J. Alarcón-Aguilar1 1Laboratorio de Farmacología, Departamento Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ciudad de México, México 2Laboratorio de Fitoquímica, UBIPRO, FES-Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Estado de México, México 3Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa ‘Centli’, Programa de Investigación Sierra Nevada, México 4Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Texcoco, Posgrado en Botánica, Estado de México, México Contactos | Contacts: Francisco J. ALARCÓN-AGUILAR - E-mail address: [email protected] Abstract: Tillandsia L. genus comprises 649 species, with different uses at different times. T. usneoides L. uses are reported since the late- archaic and pre-Columbian cultures. In XIX-XX centuries, T. usneoides was used in some manufactured products, as polish and packing fruit. Tillandsia has a favorable reputation as medicine: for leucorrhea, rheumatism, ulcers, hemorrhoid treatment, as an anti-diabetic remedy, emetic, analgesic, purgative, contraceptive, antispasmodic and diuretic. Tillandsia chemical composition includes cycloartane triterpenes and hydroxy-flavonoids, which are present in at least 24 species. Several extracts and compounds from Tillandsia spp. have been reported with pharmacological actions, as anti-neoplasia, hypolipidemic, antifungal, anti-HSV-1, hypoglycemic and microbicide. This review communicates the economic importance, ethnobotany, chemistry composition and biological activities of the Tillandsia genus, and analyze its biological and economic perspective. -

Smithsonian Institution
SMITHSONIAN INSTITUTION UNITED STATES NATIONAL MUSEUM CONTRIBUTIONS FROM THE United States National Herbarium Volume 29, Part 10 STUDIES IN THE BROMELIACEAE, XVI By LYMAN B. SMITH mw UNITED STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE WASHINGTON : 1951 For sale by tbe Superintendent of Documents, U. S. Government Printing Office Wtdiington 25, D. C. * Price 50 cent* BULLETIN OF THE UNITED STATES NATIONAL MUSEUM n PREFACE This paper, by Lyman B. Smith, associate curator of the Department of Botany, U. S. National Herbarium, is the sixteenth of his series of studies of the family Bromeliaceae, the fifteenth having been pub- lished as volume 29, part 7, in the "Contributions from the United States National Herbarium." The first part of the paper contains a miscellany of noteworthy records, including 14 new species. The second part is a continuation of a synopsis of the Tillandsieae and includes two new species. All new species are illustrated. Jason R. Swallen, Head Curator, Department of Botany, United States National Museum. in CONTENTS Page Introduction 429 Preliminary notes___ 429 Species of Mexico 430 Species of Colombia 432 Species of Ecuador 445 Species of Peru 447 Species of northern South America 447 Synopsis of the tribe Tillandsieae, Part 4 (descriptive list with key) 448 Index vii ILLUSTRATIONS Figure 37. Aechmea matudai 430 38. Pitcairnia calopkylla 432 39. Pitcairnia petraea 433 40. Pitcairnia similis 434 41. Tillandsia acuminata and Tillandsia arcuans 435 42. Tillandsia brevior and Tillandsia chartacea 437 43. Tillandsia ftisiformis 438 44. Tillandsia racinae and Tillandsia sigmoidea 440 45. Tillandsia suescana and Tillandsia ultima 442 46. Vriesia cylindrica 446 47. -

ELBS SA Newsletter May 2018
NEWS East London LETTER Bromeliad Society May 2018 South Africa Established: 25 July 2009 Our aim is to promote and encourage awareness and interest in Bromeliads in East London and all of South Africa! ELBS is an Affiliated Society of Bromeliad Society International A Garden Meeting ! We met for the April meeting in the lovely surrounds and shade of Les and Andre Dry’s garden in Beacon Bay. Considering it was a long weekend there were 35 of us including 5 visitors attending. Awesome! It was good to welcome Dawid Botha, country member from Port Elizabeth and his family who travelled up for the day and also managed to squeeze in visits to Lyn Wegner and Dr Pete Pfister’s gardens. This was our first visit to this lovely garden with large beds of Bromeliads, Les Dry with two of her much loved Great Clivia and Danes. ferns all under old well established trees. Les and Andre moved f r o m Johannesburg about 20 years ago and coming to the Eastern Cape presented Les with a very different kind Some views of Les’s lovely well kept garden and top right with 2 of her beloved dogs. Above, Les taking a cutting of a pendulous form of Sansevieria for Ester Botha. of gardening experience with regard to growing conditions. The house and garden were extremely neglected and Les set to planting many trees and plants mostly from slips of this and that and propagating her own plants to fill the beds. Then she discovered that bromeliads would do well as the soil layer is very shallow. -

A-, An-: Without
Glossary of Bromeliaceae terms Derek Butcher July 2009 Based on information from many Botanical sources.. Extra reading or charts can be found under appendices as indicated. App1 is of a general nature. Figs are more definitive in the form of drawings If you come across a botanical term that you are not sure of, please contact me. I might not know the answer but can try to find out NOTE This is designed for downloading (only 44 pages) plus appendices and figures if you so desire. I find that hard copy is much more useful than checking up on the computer. App. 1 – Bringing Bromeliaceae Back to Homeland Botany, J Brom Soc 58(3): 123-9. 2008 App. 1a – Flowering plant Gouda - drawing App. 1b – Flowering plant Rauh – drawing App. 2 - Thyrse - What is it and Why is it in the Bromeliad Glossary App. 3 – Why do I have a Worksheet App. 3a - Worksheet Fig. 1 - drawing Fig. 1a - drawing Fig. 2 – Color chart Fig. 3 – Color chart Fig. 4 – Inflorescence types drawing Fig. 4a - Inflorescence types drawing Fig. 5 – Leaf outlines drawing Fig. 5a – Leaf tips drawing Fig. 5b – Leaf margins drawing Fig. 6 - Stem and leaf sections drawing Fig. 7 - Tillandsia flower parts drawing Appendices and Figures are included in this copy but are also available as separate downloads from fcbs.org Bromeliad Glossary A a-, an-: Without. abaxial: Situated out of, or directed away from, the axis. eg. the underside of a leaf aberrant: Unusual or exceptional; a plant or structure that varies from the type: mostly used with regard to variation. -

Glossary of Bromeliaceae Terms Based on Information from Many Botanical Sources. by Derek Butcher April 2018 If You Come Across
Glossary of Bromeliaceae terms based on information from many Botanical sources. by Derek Butcher April 2018 If you come across a botanical term that you are not sure of, please contact me. I might not know the answer but can try to find out and add it the list = : Heterotypic synonym, see below for explanation ≡ : Homotypic synonym, see below for explanation A a-, an-: Without. a, ab: away from abaxial: Situated out of, or directed away from, the axis. eg. the underside of a leaf aberrant: Unusual or exceptional; a plant or structure that varies from the type: mostly used with regard to variation. abortive: Defective; barren; not developed. about: circa, circum, circiter, fere, quasi. abr-: Delicate (abrophyllum = delicate-leaved). abscissus; cut off acantha: Referring to a thorn, spines (e.g., Acanthostachys pitcairnioides). acaulescent: Stemless, or apparently so (acauline = without a stem). accedens: approaching, resembling acclimatization: A process by which an organism attains tolerance to a changed environment. -aceae: Added to stem of name or synonym of type genus to form name of family. acerose: Pointed or shaped like a needle. -aceus: Resembling; having the nature of; belonging to. Used to form adjectives from nouns. accretus: grown together achyrostachys: Chaff-like spike. acicular: Needle-shaped; like a needle or bristle as some leaves; having sharp points like needles. aciculatus: marked with very fine irregular streaks acidophile: an organism adapted for life under very acid growing conditions acranthus: with flowers actino-: Star-like; radiating from the center; rayed (actinophylla = rayed leaves). actinomorphic: Regular flowers. When individual flower parts are bisected vertically in two or more planes and have similar halves. -

Network Scan Data
Selbyana 20(2): 201-223. 1999. CHECKLIST OF BOLIVIAN BROMELIACEAE WITH NOTES ON SPECIES DISTRIBUTION AND LEVELS OF ENDEMISM THORSTEN KROMER AND MICHAEL KESSLER I Albrecht-von-Haller Institut ffir Pflanzenwissenschaften der Universitat Gottingen, Abteilung Systematische Botanik, Untere Karsptile 2, Gottingen, D-37073. E-mail forMK:[email protected] BRUCE K. HOLST* AND HARRY E. LUTHER The Marie Selby Botanical Gardens, 811 South Palm Ave., Sarasota, FL 34236 USA. E-mail for BKH: [email protected] ERIC J. GOUDA University Botanic Gardens, P.O. Box 80.162, NL-3508 TD Utrecht, The Netherlands E-mail: [email protected] PIERRE L. I1nsCH Fundaci6n Amigos de la NaturalezaIBotanical Institute of the University of Bonn, Germany, Casilla 2241, Santa Cruz, Bolivia. E-mail: [email protected] WALTER TILL Botanical Institute of the University of Vienna, Rennweg 14, A-1030, Wien, Austria E-mail: [email protected] ROBERTO V A.SQUEZ Sociedad Boliviana de Botanica, Casilla 3822, Santa Cruz, Bolivia E-mail: [email protected] ABSTRACT. A discussion of Bromeliaceae diversity in Bolivia, and a checklist of the 21 genera and 281 species occuring there is presented. Each species entry in the checklist includes accepted name, compre hensive synonymy for all species described based on Bolivian types, additional pertinent synonymy, ele vation range above sea level, distribution by department, and an indication of which species are endemic to Bolivia. RESUMEN. Aqui se describe la diversidad de la familia Bromeliaceae en Bolivia. Se incluye un listado de los 21 generos y 281 especies que occurren ahi. -

Anatomía Foliar En Bromeliaceae Del Nordeste Argentino Y Paraguay1
BONPLANDIA 19(2): 153-173. 2010 ANATOMÍA FOLIAR EN BROMELIACEAE DEL NORDESTE ARGENTINO Y PARAGUAY1 FERNANDO S. DERWIDUEÉ2 & ANA MARÍA GONZALEZ3 Resumen: Derwidueé, F. S. & A. M. Gonzalez. 2010. Anatomía foliar en Bromeliaceae del Nor- deste Argentino y Paraguay. Bonplandia 19(2): 153-173. ISSN: 0524-0476. Fueron estudiadas 31 especies de Bromeliaceae: 14 de la subfamilia Bromelioideae, 15 de Tillandsioideae y dos de Pitcairnioideae, con el fin de determinar las características anatómicas de sus hojas y la estructura y desarrollo de las escamas peltadas que las cubren. Las escamas peltadas están formadas por escudo y alas en las Tillandsioideae, y sólo por células lenticula- res, sin escudo, en las restantes subfamilias. En transcorte las láminas presentan epidermis unistrata con cristales de sílice, hipodermis parenquimática o mecánica y parénquima acuífero. El clorénquima se ubica en la zona media, alternando con cámaras o columnas, ocupadas por células aerenquimáticas irregulares a estrelladas. Los haces vasculares presentan casquetes o vainas fibrosas, en algunos casos con largas prolongaciones. De acuerdo a la disposición de estos tejidos se describen tres tipos de mesófilo: dorsiventral, homogéneo e isolateral. Este estudio demostró que la anatomía foliar es una herramienta de importancia en la identificación de las especies que crecen en la región. Las hojas de Bromeliaceae presentan caracteres diferenciales que solos o en combinación permiten la identificación de especies o grupos de especies. Palabras clave: Bromelioideae, escamas peltadas, hojas, ontogenia, Pitcairnioideae, Tilland- sioideae. Summary: Derwidueé, F. S. & A. M. Gonzalez. 2010. Leaf anatomy in Bromeliaceae of Nor- theast of Argentina and Paraguay. Bonplandia 19(2): 153-173. -
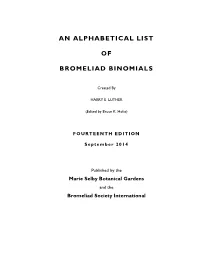
An Alphabetical List of Bromeliad Binomials
AN ALPHABETICAL LIST OF BROMELIAD BINOMIALS Created By HARRY E. LUTHER (Edited by Bruce K. Holst) FOURTEENTH EDITION September 2014 Published by the Marie Selby Botanical Gardens and the Bromeliad Society International ii INTRODUCTION TO EDITION XIV OF BROMELIAD BINOMIALS This edition of the bromeliad binomial list is the first to be published after the passing of it’s creator, Harry E. Luther. The List is one of Harry’s major contributions to the BSI, with the goal of providing a regularly updated, convenient way for both plant socities and indivduals to have a vetted source of accepted plant names and spellings. Harry was aided over the years by Edna Sieff, Fred Lowery, Karen Norton, Larry Rabinowitz, and Larry Swift. As in the past, the current list is of validly published bromeliad taxa and those accepted at the Mulford B. Foster Bromeliad Research Center at the Marie Selby Botanical Gardens. It contains the following information: 1) Bromeliads by the Numbers 2) Genus and species names. 3) Subspecific taxa (subspecies, varieties, forms) names are indented below the species names. Note: Infraspecies "a" (the type infraspecies) is not listed unless it contains a form (see Aechmea caudata). Similarly, the type form is not listed. 4) Author name(s) follows the specific and subspecific names. These names are included for the convenience of specialist users of the list. This list does not contain publication data or horticultural hybrid and cultivar names. Neither does it include the numbering series derived from L.B. Sm. and R.J. Downs monograph of the Bromeliaceae in Flora Neotropica used in earlier versions of the list. -

Universidade Estadual Do Centro-Oeste Como Parte Dos
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA EVOLUTIVA (Associação Ampla entre a UEPG e a UNICENTRO) O GÊNERO TILLANDSIA L. (BROMELIACEAE-TILLANDSIOIDEAE) NO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL. DÉBORA KREMER Ponta Grossa 2011 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA EVOLUTIVA (Associação Ampla entre a UEPG a UNICENTRO) O GÊNERO TILLANDSIA L. (BROMELIACEAE-TILLANDSIOIDEAE) NO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em associação com a Universidade Estadual do Centro-Oeste como parte dos requisitos para a obtenção do título de mestre em Ciências Biológicas (Área de Concentração em Biologia Evolutiva) Ponta Grossa 2011 Ficha catalográfica Elaborada pelo Setor de Tratamento da Informação BICEN/UEPG. Kremer, Débora K92g O gênero Tillandsia L. (Bromeliaceae-Tillandsioideae ) no Estado do Paraná, Brasil / Débora Kremer. Ponta Grossa, 2011. 165 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas – área de concentração Biologia Evolutiva), Universidade Estadual de Ponta Grossa e Universidade Estadual do Centro - Oeste. Orientadora: Profa. Dra.Rosangela Capuano 1.Bromeliaceae. 2. Tillandsia. 3. Taxonomia. 4.Adaptações evolutivas. 5. Paraná. I. Capuano, Rosangela. II. T. CDD: 581 Orientador Prof(a). Dr(a). Rosângela Capuano Tardivo Aos amores da minha vida. Agradecimentos À minha orientadora, Rosângela Capuano Tardivo, por seus ensinamentos, sua paciência, por me ensinar a pesquisar, por me aceitar e ter confiado em mim. À CAPES pelo apoio financeiro. Ao professor Roberto Ferreira Artoni pelo incentivo e confiança. Ao meu esposo, Anderson, por me incentivar e querer me ver crescer, pelo apoio em algumas coletas, pelo companheirismo e por me amar.