Francielle Amâncio Pereira
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TESE Thaisa Francis César Sampaio Sarmento.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTO DE DESIGN PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN Thaisa Francis César Sampaio Sarmento MODELO CONCEITUAL DE AMBIENTE DE APRENDIZAGEM ADEQUADO A PRÁTICAS COM BLENDED LEARNING PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO Recife 2017 THAISA FRANCIS CÉSAR SAMPAIO SARMENTO MODELO CONCEITUAL DE AMBIENTE DE APRENDIZAGEM ADEQUADO A PRÁTICAS COM BLENDED LEARNING PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO Tese apresentada à Coordenação do Programa de PósGraduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco, para a obtenção do grau de Doutor em Design, sob orientação da Prof.ª Drª Vilma Villarouco e do coorientador Prof. Dr. Alex Sandro Gomes. Recife 2017 Catalogação na fonte Bibliotecário Jonas Lucas Vieira, CRB4-1204 S246m Sarmento, Thaisa Francis César Sampaio Modelo conceitual de ambiente de aprendizagem adequado a práticas com blended learning para escolas de ensino médio / Thaisa Francis César Sampaio Sarmento. – Recife, 2017. 261 f.: il., fig. Orientadora: Vilma Villarouco dos Santos. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação. Design, 2018. Inclui referências e apêndices. 1. Ambiente de aprendizagem. 2. Ergonomia do ambiente construído. 3. Design de interiores. 4. Design Science Research. I. Santos, Vilma Villarouco dos (Orientadora). II. Título. 745.2 CDD (22.ed.) UFPE (CAC 2018-29) UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA DE DEFESA DE TESE DE DOUTORADO ACADÊMICO DE Thaisa Francis César Sampaio Sarmento "MODELO CONCEITUAL DE AMBIENTE DE APRENDIZAGEM ADEQUADO À PRÁTICAS COM BLENDED LEARNING PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO." ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Planejamento e Contextualização de Artefatos. A comissão examinadora, composta pelos professores abaixo, considera o(a) candidato(a) Thaisa Francis César Sampaio Sarmento _APROVAD(A)__. -

Seleção Feminina Nos Jogos Olímpicos 25 Women’S National Team in the Olympic’S Cidades-Sede | Host-Cities 26
ÍNDICE SUMMARY インデックス COORDENADORa DE SELEÇÕES FEMININAS 03 Duda Luizelli | Women’s National Teams Coordinator TÉCNICA PIA SUNDHAGE | Head Coach 04 jogadoras | Players 06 numeração | Team Jersey numbers 12 Comissão Técnica | Coaching Staff 13 Caminho para Tóquio 2020 | Road to Tokyo 2020 14 Fase de Grupos Tóquio 2020 | Group Phase 18 CHAVEAMENTO | Knockout Phase 24 Seleção Feminina nos Jogos Olímpicos 25 Women’s National Team In the Olympic’s Cidades-Sede | Host-Cities 26 Curiosidades | Trivia 33 Redes Sociais | Social 35 2 ”35 ANOS DEDICADOS AO FUTEBOL FEMININO ” Ex-atleta da Seleção Brasileira Feminina, Duda Luizelli é a primeira mulher a liderar a Coordenação das Seleções Brasileiras Femininas. Anunciada em setembro de 2020, a contratação da gaúcha de 49 anos faz parte de um novo momento do futebol feminino na CBF, que conta com maior participação das mulheres. São 35 anos dedicados à modalidade, desde os tempos de atleta até a coordenação das Seleções Femininas Principal, Sub-20 e Sub-17. O despertar como jogadora foi aos 14 anos no Internacional-RS. Foi no duda luizelli clube colorado que a meia ganhou notoriedade e chegou à Seleção Brasileira. A estreia com a camisa Canarinho foi aos 20 anos. No total, COORDENADORA DAS SELEÇÕES foram oito anos vestindo o uniforme verde e amarelo, tendo no BRASILEIRAS FEMININAS currículo a conquista do bicampeonato Sul-Americano, em 1995. Na década de 90, Duda foi uma das primeiras brasileiras a atuar no futebol internacional. Com a camisa do Milan e do Verona, da Itália, a meia brilhou no campeonato italiano por duas temporadas. Ao retornar ao Brasil, voltou a vestir a camisa 10 do Internacional, e foi com o time colorado que encerrou a carreira aos 30 anos, somando conquistas importantes, como o pentacampeonato do Campeonato Gaúcho, o tricampeonato da Copa Sul e o Torneio de CIVATE (Itália). -

COVID-19, Women, Girls and Sport: Build Back Better
Photo: pcruciatti / Shutterstock.com COVID-19, Women, Girls and Sport: Build Back Better Introduction Over the past year, women in sport have gained centre and address their specific needs in response unprecedented attention. Events like the Women´s and recovery plans. World Cup, the Cricket T20, record attendance at The impacts of COVID-19 are already being felt harder women’s games and the expectations for Tokyo Olympic by women and girls in many areas of life due to Games to achieve gender parity raised awareness and gender inequalities, i and we see this mirrored in sport. mobilized action around women´s participation and This brief is informed by the Sports for Generation leadership in sport, equal pay, safeguarding policies, Equality Frameworkii, launched by UN Women and representation in the media and incentives for girls the International Olympic Committee in March 2020. to play. The pandemic of COVID-19 now threatens to It focuses on the impacts of COVID-19 on women and erase this momentum as the sport world has been girls in sports in five areas: Leadership, Gender-Based forced to cancel or postpone events, schools have Violence, Economic Opportunities, Media Participation closed, and people are staying home. Existing gaps and Representation, and Girls Participation in Sport. It between women and men, girls and boys in both elite presents key recommendations to different actors in the and grassroots sport may widen if governments, sport sport ecosystem that go beyond mitigating the impact of organizations, sponsors, civil society, athletes, media the crisis on women and girls, and create a future in and and UN agencies do not put women and girls at the through sport that builds back better. -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Francielle
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Francielle Toniolo Nicodemos Furtado de Mendonça GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM IDOSOS: EDUCAÇÃO PERMANENTE COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA UBERABA/MG 2015 Francielle Toniolo Nicodemos Furtado de Mendonça GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM IDOSOS: EDUCAÇÃO PERMANENTE COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Dissertação apresentada ao programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro como requisito parcial para obtenção do título de mestre. Linha de pesquisa: atenção à saúde das populações. Eixo temático: Saúde do adulto e idoso. Orientador: Prof. Dr. Álvaro da Silva Santos. UBERABA/MG 2015 FRANCIELLE TONIOLO NICODEMOS FURTADO DE MENDONÇA Grupos de educação em saúde com idosos: Educação permanente com profissionais da atenção primária Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro como requisito parcial para obtenção do título de mestre. Uberaba, 27 de novembro de 2015. Banca Examinadora ________________________________________________ Profo Dro Álvaro da Silva Santos – Orientador Universidade Federal do Triângulo Mineiro ________________________________________________ Profa Dra Leiner Resende Rodrigues Universidade Federal do Triângulo Mineiro ________________________________________________ Profa Dra Vânia Del’Arco Paschoal Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto Dedico esse trabalho à minha mãe Denise, ao meu irmão Tiago e aos meus avós Maria e João, pelo amor e carinho com que sempre cuidaram de mim, e pelo incentivo e apoio aos estudos. Dedico também ao meu marido Marcelo, companheiro nesta jornada, que constantemente me incentiva a estudar mais e mais, e está sempre ao meu lado, oferecendo seu carinho, apoio e paciência em todos os momentos, principalmente naqueles em que eu mais precisei. -

Mulheres E Futebol: Um Estudo Sobre Esporte E Preconceito1
190 MULHERES E FUTEBOL: UM ESTUDO SOBRE ESPORTE E PRECONCEITO1 Marcelo Victor da Rosa2 Carlos Igor de Oliveira Jitsumori 3 Andrey Monteiro Borges4 Maria Elizia de Melo Ribeiro5 Resumo: Esta pesquisa teve por objetivo identificar preconceitos vividos por mulheres praticantes de futebol. As informações foram obtidas por meio de um questionário respondido por 47 praticantes do esporte. O preconceito acontece de forma direta e indireta, sendo proferido pela família das atletas e até mesmo pelas próprias jogadoras. Por isso, surge a necessidade de mais estudos e discussões acerca do futebol feminino, para que este seja visto como um esporte para todos/as e para que a mulher não necessite passar pelo constrangimento de ter sua sexualidade questionada simplesmente por gostar e jogar futebol. Palavras-chave: Futebol; Mulheres; Gênero. Abstract: This research has the aim to identify prejudices lived by female soccer players. The information was gathered from a questionnaire answered by 47 female soccer players who play soccer. The prejudice happens in a direct and indirect way, being delivered by the families or even by the soccer players themselves. That’s why the need of more studies and discussion about female soccer arises, so that it should be considered as a sport for all, and the woman doesn’t need to go through the awkwardness of having her sexuality questioned just because she likes and plays soccer. Keywords: Soccer; Women; Gender. Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição- NãoComercial 4.0 Internacional. 1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 001. -

Atleta, Substantivo Feminino: As Mulheres Brasileiras Nos Jogos Olímpicos
Atleta, substantivo feminino: As mulheres brasileiras nos jogos olímpicos. Sandra Bellas de Romariz* Fabiano Pries Devide** Sebastião Votre*** Resumo: O livro Atleta, substantivo feminino: As mulheres brasileiras nos jogos olímpicos, publicado em 2006 por Oscar Valporto, reúne contos das histórias de vida de vinte atletas olímpicas brasileiras construídas a partir de relatos pessoais que descrevem as suas trajetórias desde sua pri- meira participação, em 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, até a conquista da tão sonhada primeira medalha olímpica, em Atlanta, 1996. Os contos da obra relatam as carreiras esportivas, ressaltando as barreiras sociais trans- postas por cada uma dessas atletas pioneiras. O livro se divide em quatro partes: inicia com as trajetórias das pio- neiras do esporte nas modalidades natação e atletismo e finaliza com as atletas da primeira geração que conquistou medalhas olímpicas. As mulheres referenciadas como pio- neiras são: Maria Lenk e Mary Dalva – natação; Wanda e Aída dos Santos – atletismo. O autor segue destacando as atletas olímpicas Maria Elisa (natação), Isabel (vôlei); Luisa Parente (ginástica olímpica) e Soraia (judô). O livro ain- da retrata as rainhas da areia: Jackie, Mônica, Adriana, Sandra, Adriana Behar e Shelda; e se encerra com as mu- lheres que conquistaram as medalhas nos esportes coleti- vos: Paula e Janeth (basquete), Leila e Virna (vôlei de qua- dra) e Pretinha e Marta (futebol de campo). A obra está direcionada aos amantes do esporte nacional e da histó- ria, e, ainda que não apresente um texto no formato aca- dêmico, tem seu mérito por ser pioneira em resgatar tais trajetórias, oferecendo aos profissionais de educação físi- ca a possibilidade de realizar debates relevantes sobre as questões de gênero na escola. -

Futsal Feminino De Barra Do Garças-MT: Rompendo Limitações Na Construção Do Gênero Mulher
65 DOI 10.20396/conex.v15i1.8646350 Artigo Original Time amador juvenil de futsal feminino de Barra do Garças-MT: rompendo limitações na construção do gênero mulher Rachelly Webster Trajano 1 Neil Franco 2 Minéia Carvalho Rodrigues 1 Luís Antônio Bitante Fernandes 1 RESUMO O objetivo deste estudo foi entender como atletas do Time Amador Juvenil de Futsal Feminino da cidade de Barra do Garças - MT compreendiam os significados da vivência dessa prática no que se refere às determinações históricas, sociais e culturais do gênero e da sexualidade. A compreensão sobre a relação gênero, feminilidade e futebol, sob o olhar de técnicos desse time foi também foco de interesse. Trata-se de uma pesquisa direta e de abordagem qualitativa, construída a partir da correlação de fontes bibliográficas, questionário e entrevista. A perspectiva pós-estruturalista definiu o campo teórico que sustentou as análises. Concluiu-se que a prevalência de preconceito em relação à sexualidade é inerente ao futebol/futsal, uma vez que vivemos numa sociedade em que essa modalidade é entendida como privilégio masculino. As mulheres que se inserem nesse esporte são expostas a vários tipos de recusas pela prevalência de um imaginário social que alimenta que o futebol/futsal possa masculinizá-las. Palavras-Chave : Feminilidade. Futebol de salão. Homofobia. 1 Universidade Federal do Mato Grosso 2 Universidade Federal de Juiz de Fora Submetido em: 09 ago. 2016 Aceito em: 19 jan. 2017 Contato: [email protected] Conexões : Educ. Fís., Esporte e Saúde, Campinas: SP, v. 15, n. 1, p. 65-91, jan./mar. 2017. ISSN: 1980-9030 66 Women’s amateur juvenile futsal team of Barra do Garças-MT: breaking limitations to the construction of the woman gender ABSTRACT Our goal was to understand how athletes of the Women’s Amateur Juvenile Futsal team from the city of Barra do Garças-MT understood the meanings of living this practice regarding the historical, social and cultural determinations of gender and sexualities. -
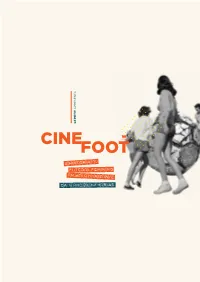
Caderno De Memórias
LE PETIT APRESENTA w É COM ENORME ORGULHO E ENTUSIASMO QUE O CINEFOOT MULHERES ADENTRA AO GRAMADO EM 2020, INAUGURANDO A SUA PRESENÇA NA DIVERSIFICADA REDE DE EVENTOS PIONEIRO PIONEIRO O DESAFIO O DESAFIO DE SER MAIS UMA VEZ AUDIOVISUAIS BRASILEIROS. CINEFOOT MULHERES Trilhando a trajetória de ineditismo demarcada pelo único festival de cinema de O festival nasce num momento de intensa futebol do Brasil, criado em 2010 e precursor luta e mobilização de atletas, treinadoras, na América Latina, o CINEFOOT MULHERES gestoras, instituições, lideranças e Antonio Leal Antonio apresenta-se como um evento pioneiro no profissionais de diversas áreas, por respeito, circuito mundial de festivais de cinema valorização, visibilidade, democracia, esportivo, reafirmando esta característica representatividade, equidade, investimentos especial de vanguarda e inovação. e estrutura sólida para o desenvolvimento sustentável do futebol praticado por Iniciativa inspiradora, o CINEFOOT mulheres no Brasil. MULHERES dá o seu pontapé inicial com a edição de um caderno de memórias sobre E o CINEFOOT MULHERES presta a a história do futebol feminino, imprimindo sua contribuição para o alcance desses total protagonismo à presença das mulheres objetivos promovendo a cultura do futebol Cinefoot-Festival de Cinema Futebol Cinefoot-Festival nos campos cultural, acadêmico, esportivo feminino em toda a sua dimensão. e social. Este foco apontado no sentido de iluminar as inúmeras possibilidades Boas-vindas, sucesso e vida longa ao do universo da mulher em conexão com CINEFOOT MULHERES. o futebol resulta numa valiosa e indispensável publicação. Começamos essa história a partir da época, encontrados nos arquivos de Belo Horizonte. As mulheres dos Diários Associados, fundado pelo mineiras sempre foram reconhecidas Assis Chateaubriand. -

Diplomatic List – Fall 2018
United States Department of State Diplomatic List Fall 2018 Preface This publication contains the names of the members of the diplomatic staffs of all bilateral missions and delegations (herein after “missions”) and their spouses. Members of the diplomatic staff are the members of the staff of the mission having diplomatic rank. These persons, with the exception of those identified by asterisks, enjoy full immunity under provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Pertinent provisions of the Convention include the following: Article 29 The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity. Article 31 A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of: (a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission; (b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as an executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State; (c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside of his official functions. -- A diplomatic agent’s family members are entitled to the same immunities unless they are United States Nationals. -

Produção E Qualidade De Plantas Medicinais Em Cultivo Hidropônico. Professora Orientadora: Marta Simone Mendonça Freitas
PRODUÇÃO E QUALIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS EM CULTIVO HIDROPÔNICO THAÍSA CAPATO LIMA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ Março de 2019 PRODUÇÃO E QUALIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS EM CULTIVO HIDROPÔNICO THAÍSA CAPATO LIMA Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Produção Vegetal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, como parte das exigências para obtenção do título de Doutor em Produção Vegetal Orientadora: Profª Marta Simone Mendonça Freitas CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ Março de 2019 FICHA CATALOGRÁFICA UENF - Bibliotecas Elaborada com os dados fornecidos pela autora. L732 Lima, Thaisa Capato. PRODUÇÃO E QUALIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS EM CULTIVO HIDROPÔNICO / Thaisa Capato Lima. - Campos dos Goytacazes, RJ, 2019. 122 f. : il. Bibliografia: 95 - 122. Tese (Doutorado em Produção Vegetal) - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, 2019. Orientadora: Marta Simone Mendonça Freitas. 1. plantas medicinais. 2. nutrição mineral. 3. metabólitos secundários. 4. hidroponia. I. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. II. Título. CDD - 630 PRODUÇÃO E QUALIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS EM CULTIVO HIDROPÔNICO THAÍSA CAPATO LIMA Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Produção Vegetal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, como parte das exigências para obtenção do título de Doutor em Produção Vegetal Aprovada em 25 de Março de 2019 Banca Examinadora ______________________________________________________________ -

Pontifícia Universidade Católica De São Paulo Puc-Sp Elisa Zaneratto Rosa Por Uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial: O
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP ELISA ZANERATTO ROSA POR UMA REFORMA PSIQUIÁTRICA ANTIMANICOMIAL: O papel estratégico da Atenção Básica para um projeto de transformação social DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL São Paulo 2016 ELISA ZANERATTO ROSA POR UMA REFORMA PSIQUIÁTRICA ANTIMANICOMIAL: O papel estratégico da Atenção Básica para um projeto de transformação social Tese apresentada ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Odair Furtado para a obtenção do título de Doutora em Psicologia Social. São Paulo 2016 Nome: ROSA, Elisa Zaneratto. Título: Por uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial: O papel estratégico da Atenção Básica para um projeto de transformação social. Tese apresentada ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Odair Furtado para a obtenção do título de Doutora em Psicologia Social. Aprovada em: ______/ ______/ ______ BANCA EXAMINADORA Prof. Dr. Odair Furtado Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Profa. Dra. Maria da Graça Marchina Gonçalves Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Profa. Dra. Edna Maria Severino Peters Kahhale Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Prof. Dr. Silvio Yasui Universidade Estadual Paulista Profa. Dra. Rosana Teresa Onocko Campos Universidade Estadual de Campinas Dedico este trabalho aos militantes da luta antimanicomial, por permitirem a utopia de uma sociedade sem manicômios. AGRADECIMENTOS Ao meu orientador, Odair Furtado, pela sua capacidade de nos provocar a reflexão crítica e, ao mesmo tempo, nos acolher; por sua paciência e confiança diante do percurso necessário à conclusão deste trabalho. -

Daniela Alves
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PROJETO GARIMPANDO MEMÓRIAS DANIELA ALVES 2015 CEME-ESEF-UFRGS MUSEU DO FUTEBOL FICHA TÉCNICA Projeto: Garimpando Memórias: Visibilidade para o Futebol Feminino Número da entrevista: E-721 Entrevistada: Daniela Alves Nascimento: 12/01/1984 Local da entrevista: Museu do Futebol Entrevistador: Luciane Castro e Edson e Lima Data da entrevista: 26/09/2015 Transcrição: Thayná Lima Fagundes Copidesque e Pesquisa: Silvana Vilodre Goellner Revisão Final: Silvana Vilodre Goellner Total de gravação: sem registro Páginas Digitadas: 18 Observações: A entrevista foi realizada durante a sexta edição do Ciclo de Debates vinculado ao projeto Visibilidade para o Futebol Feminino desenvolvido pelo Museu do Futebol em parceria com a Epson, a Getty Images Brasil, a Rádio Central 3, o Coletivo Guerreiras Project e o Centro de Memória e Esporte. O Ciclo de Debates conta com a organização de Juliana Cabral, Lu Castro e René Simões. Integra o Programa Futebol e Mulheres, desenvolvido pelo Grupo de Estudos sobre Esporte, Cultura e História (GRECCO). Cedida para publicação no Repositório Digital do Centro de Memória do Esporte em setembro de 2015. O Centro de Memória do Esporte está autorizado a utilizar, divulgar e publicar, para fins culturais, este depoimento de cunho documental e histórico. É permitida a citação no todo ou em parte desde que a fonte seja mencionada. Sumário Início com a prática do futebol; Equipes de atuação; Títulos conquistados; Convocação para a seleção brasileira; Competições que atuou na seleção; Categorias de base na seleção; Atuação nos Estados Unidos e na Suécia; Finalização da carreira; Lesão; Jogar futebol como diversão; Reconhecimento; Experiência no futebol.