DANIEL LASKOWSKI TOZZINI.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Science of the Unknowable: Stafford Beer's Cybernetic Informatics
The Science of the Unknowable: Stafford Beer’s Cybernetic Informatics Andrew Pickering University of Illinois Department of Sociology Urbana, IL 61801 [email protected] Cybernetics and New Ontologies: An interview session with Andrew Pickering Kristian Hvidtfelt Nielsen [email protected] The Steno Institute University of Aarhus Working Papers from Centre for STS Studies Department of Information & Media Studies University of Aarhus Published by The Centre for STS Studies, Aarhus 2006. Editorial board: Peter Lauritsen, Simon Kiilerich Madsen, Finn Olesen. Andrew Pickering: The Science of the Unknowable: Stafford Beer’s Cybernetic Informatics Kristian Hvidtfelt Nielsen: Cybernetics and New Ontologies: An interview session with Andrew Pickering © The authors, 2006. Printed at Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab, University of Aarhus. Cover design: Annette Bjerre Design. ISBN 9788791386121 (print) ISBN 9788791386138 (web) The Centre for STS Studies Department of Information & Media Studies Helsingforsgade 14 DK-8200 Aarhus N Tel: +45 8942 9200 Fax: +45 8942 5950 [email protected] http://imv.au.dk/sts The Science of the Unknowable: Stafford Beer’s Cybernetic Informatics Andrew Pickering University of Illinois Department of Sociology [email protected] This essay derives from a larger project exploring the history of cybernetics in Britain in and after World War II.1 The project focusses on the work of four British cyberneticians—Grey Walter, Ross Ashby, Stafford Beer and Gordon Pask; here I focus on Stafford Beer, the founder of the field he called management cybernetics, and his work in informatics.2 Anthony Stafford Beer was born in London in 1926. He joined the British Army in 1944 after just one year as an undergraduate in London, and served in India and Britain. -

Social Epistemology: Theory and Applications
1 2 Social Epistemology: Theory and 3 Applications 4 5 6 ALVIN I. GOLDMAN 7 8 9 1. Mainstream Epistemology and Social Epistemology 10 11 Epistemology has had a strongly individualist orientation, at least 12 since Descartes. Knowledge, for Descartes, starts with the fact of 13 one’s own thinking and with oneself as subject of that thinking. 14 Whatever else can be known, it must be known by inference from 15 one’s own mental contents. Achieving such knowledge is an individ- 16 ual, rather than a collective, enterprise. Descartes’s successors largely 17 followed this lead, so the history of epistemology, down to our own 18 time, has been a predominantly individualist affair. 19 There are scattered exceptions. A handful of historical epistemolo- 20 gists gave brief space to the question of knowing, or believing justifi- 21 ably, based on the testimony of others. Testimony-based knowledge 22 would be one step into a more social epistemology. Hume took it for 23 granted that we regularly rely on the factual statements of others, and 24 argued that it is reasonable to do so if we have adequate reasons for 25 trusting the veracity of these sources. However, reasons for such 26 trust, according to Hume, must rest on personal observations of 1 27 people’s veracity or reliability. Thomas Reid took a different view. 28 He claimed that our natural attitude of trusting others is reasonable 29 even if we know little if anything about others’ reliability. 30 Testimony, at least sincere testimony, is always prima facie credible th 31 (Reid, 1970: 240–241). -

Naturalized Epistemology, Or What the Strong Programme Can't Explain
Studies in History and Philosophy of Science Stud. Hist. Phil. Sci. 36 (2005) 135–148 www.elsevier.com/locate/shpsa Naturalized epistemology, or what the Strong Programme canÕt explain Karyn L. Freedman University of Guelph, Guelph, Ont., Canada, N1G 2W1 Received 26 September 2003; received in revised form 5 April 2004 Abstract In this paper I argue that the Strong ProgrammeÕs aim to provide robust explanations of belief acquisition is limited by its commitment to the symmetry principle. For Bloor and Barnes, the symmetry principle is intended to drive home the fact that epistemic norms are socially constituted. My argument here is that even if our epistemic standards are fully natu- ralized—even relativized—they nevertheless can play a pivotal role in why individuals adopt the beliefs that they do. Indeed, sometimes the fact that a belief is locally endorsed as rational is the only reason why an individual holds it. In this way, norms of rationality have a powerful and unique role in belief formation. But if this is true then the symmetry principleÕs emphasis on Ôsameness of typeÕ is misguided. It has the undesirable effect of not just naturalizing our cognitive commitments, but trivializing them. Indeed, if the notion of ÔsimilarityÕ is to have any content, then we are not going to classify as Ôthe sameÕ beliefs that are formed in accor- dance with deeply entrenched epistemic norms as ones formed without reflection on these norms, or ones formed in spite of these norms. My suggestion here is that we give up the sym- metry principle in favor of a more sophisticated principle, one that allows for a taxonomy of causes rich enough to allow us to delineate the unique impact epistemic norms have on those individuals who subscribe to them. -

Constructivist Sociology of Scientific Knowledge. in P. Galison and D
Science Made Up: Constructivist Sociology of Scientific Knowledge. In P. Galison and D. Stump (eds.) The Disunity of Science: Boundaries, Contexts, and Power. Stanford: Stanford University Press, 1996, pp. 231-54. END NOTES 1 Part of the work for this paper was done during the tenure of a fellowship at the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences. I am grateful for financial support provided by the National Science Foundation, Grant #BNS-8011494, and for the assistance of the staff of the Center. I also want to thank David Bloor, Stephen Downes, David Hull and Andy Pickering for offering good advice and criticism, some of which I have heeded. 2 Later developments in this line include ethnomethodology. See Garfinkel (1967) and Sharrock and Anderson (1986). 3 For a sample of some especially sympathetic admirers see the articles in Lawson and Appignanesi (1988). 4 Of course it is not only analytic philosophers who take a combative stance towards constructivism. Some Critical Theorists do too. See, for example, McCarthy (1988). 5 The platform below is an amalgam that constitutes an "ideal type" description of constructivism. I believe it captures important features of the school (at least in many of its stages). Nevertheless I have no doubt that each member of the school will find some things in my mix with which to quarrel. In any case, I have drawn the amalgam from the social interest Edinburgh school; especially Barnes (1977), Bloor (1976), Knorr-Cetina (1981) and Pickering (1984); the historical sociology of knowledge promoted by Shapin (1982) and the actor-network analysis of texts and transcription devices pioneered by Latour and Woolgar (1979) and developed further in Latour (1987). -

STS and the Importance of Being a Collective: Gill Haddow Talks with Barry Barnes
Engaging Science, Technology, and Society 4 (2018), 267-283 DOI:10.17351/ests2018.232 STS and the Importance of Being a Collective: Gill Haddow Talks with Barry Barnes GILL HADDOW1 UNIVERSITY OF EDINBURGH BARRY BARNES Abstract Professor Barry Barnes was a key, founding member of the early Science Studies Unit (SSU) at the University of Edinburgh. In this interview with Gill Haddow he reflects on what is was like to be part of this fertile period of scholarly enterprise with David Bloor and others and describes some of the key influences that effected his thinking such as Thomas Kuhn. The eighties were a time of political unrest and SSU, was not outwardly political in vision but was not immune. The Science Wars also had detrimental effects for some. The origin of the concept of “boot-strapped induction,” or feedback loops was also being brought into existence with the idea that scientific knowledge was both self-referential and self-validating. At the center lay the most basic and enduring tenets of Barnes’ thought and that was the collective and how people could never truly be independent. A reflection by Gill Haddow follows the interview. Keywords self-referential knowledge; anti-individualism; collective action; performativity Dim and Distant Memories: Teaching, Friendships and Making (it) Up GH One of the first questions I’d like you to reflect on is basically what brought you to become involved in STS. How do you understand it, what’s your early memories, that kind of thing? BB I go back way before STS was widely recognised as a label at all. -

Social Systems Theory and the Sociology of Scientific Knowledge
Scientific Communication and Cognitive Codification: Social Systems Theory and the Sociology of Scientific Knowledge European Journal of Social Theory (forthcoming) Loet Leydesdorff Amsterdam School of Communications Research (ASCoR), University of Amsterdam, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam, The Netherlands [email protected] ; http://www.leydesdorff.net Abstract The intellectual organization of the sciences cannot be appreciated sufficiently unless the cognitive dimension is considered as an independent source of variance. Cognitive structures interact and co-construct the organization of scholars and discourses into research programs, specialties, and disciplines. In the sociology of scientific knowledge and the sociology of translation, these heterogeneous sources of variance have been homogenized a priori in the concepts of practices and actor-networks. Practices and actor-networks, however, can be explained in terms of the self- organization of the cognitive code in scientific communication. The code selects knowledge claims by organizing them operationally in the various discourses; the claims can thus be stabilized and potentially globalized. Both the selecting codes and the variation in the knowledge claims remain constructed, but the different sub- dynamics can be expected to operate asymmetrically and to update with other frequencies. Practices and the Pansemiosis of Actor-Networks In his seminal study of the Sociology of Scientific Knowledge (SSK), David Bloor noted that ‘knowledge for the sociologist is whatever men take to be knowledge’ (1976: 2). Consequently, this ‘strong program’ in the sociology of science introduced a principle of symmetry into explanation: a sociological explanation in terms of human beliefs should be able to explain both true and false knowledge. From this perspective, scientific knowledge can no longer to be defined as ‘true’ belief, and therefore different from other knowledge (Barnes, 1974). -
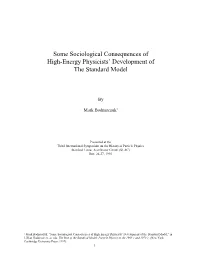
Some Sociological Consequences of High-Energy Physicists’ Development of the Standard Model
Some Sociological Consequences of High-Energy Physicists’ Development of The Standard Model By Mark Bodnarczuk1 Presented at the Third International Symposium on the History of Particle Physics Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) June 24-27, 1992 1 Mark Bodnarczuk, “Some Sociological Consequences of High-Energy Physicists’ Development of the Standard Model,” in Lillian Hoddeson et. al. eds, The Rise of the Standrad Model: Particle Physics in the 1960’s and 1970’s, (New York: Cambridge University Press, 1997). 1 Some Sociological Consequences of High-Energy Physicists’ Development of The Standard Model By Mark Bodnarczuk In a scientific discipline that went from experiments with less electronics than a videocassette recorder to 105 channels, and from collaborations with 5-10 members to 300 during the years 1964-1979, the notion of what high-energy physics is, or what constitutes being a high-energy physicist, cannot be viewed simply as an immutable category that is "out there" - that remains fixed despite these and other developments. What high energy physics is as a discipline and what it means to be a high-energy physicist are renegotiated by participants relative to the experimental and theoretical practices of the field at any given time. In this article I will explore some of the sociological consequences of the decisions made by high-energy physicists as they constructed the edifice that has come to be known as the Standard Model.2 Many of these physicists’ decisions about the Standard Model have already been carefully documented -

STS C200, Week 5: the Sociology of Scientific Knowledge
STS C200, Week 5: The Sociology of Scientific Knowledge Orr Paradise September 27th, 2020 1 Bloor [3, 2], Barnes and Bloor [1] on the Strong Programme The strong programme of the sociology of knowledge clarifies some questions that arose in our discussion of last week’s readings. Let us recall these questions. Following Kuhn [7], we wondered what exactly is relativism (that he worked so hard to avoid), and what would sociology of knowledge look like had it embraced relativism with open arms? Following Lakatos [8], the boundaries of sociology were left unclear; do questions about ‘mathematical truth’ fall under the domain of the sociology of knowledge? I describe the strong programme and how it addresses these questions. The strong programme is a sociology of knowledge that enables itself to deal not just with failed theories, but also with successful ones. This is as opposed to the view that sociology is not applicable to successful theories, because the latter are successful due to their truthfulness or accuracy in representing nature, and therefore the particular social settings in which these theories are derived are of no relevance to the contents of the theories themselves.1 The strong programme is causal, impartial, reflexive and symmetric:2 • Causality establishes that identification of the causes of beliefs is the goal of the sociology of knowl- edge. • Impartiality guarantees that no exceptions should be made for the beliefs held by the investigator. • Reflexivity asserts that the sociology of knowledge should explain its own emergence. • Symmetry asserts that true and false beliefs are generated by the same types of causes. -

An International Perspecti.Ve
DOCUMENT RESUME ED 378 042 SE 055 587 AUTHOR Ernest, Paul, Ed. TITLE Mathematics, Education, and Philosophy: An International Perspecti.ve. Studies in Mathematics Education Series: 3. REPORT NO ISBN-0-7507-0290-7 PUB DATE 94 NOTE 258p.; For the companion volume, "Constructing Mathematical Knowledge," see SE 055 588. AVAILABLE FROMFalmer Press, Taylor & Francis Inc., 1900 Frost Road, Suite 101, Bristol, PA 19007. PUB TYPE Books (010) Collected Works General (020) EDRS PRICE MF01/PC11 Plus Postage. DESCRIPTORS *Cognitive Structures; *Cultural Context; Elementary Secondary Education; *Mathematics Education; Modernism; *Philosophy IDENTIFIERS *Postmodernism; *Poststructuralism ABSTRACT This book illustrates the breadth of theoretical and philosophical perspectives that can be brought to bear on mathematics and education. Part 1, "Reconceptualizing the Philosophy of Mathematics," contains the following chapters:(1) "Fresh Breezes in the Philosophy of Mathematics" (R. Hersh);(2) What Can the Sociologist of Knowledge Say About 2 2 = 4?" (D. Bloor);(3) "The Dialogical Nature of Mathematics" (P. Ernest); and (4) "Structuralism and Post-modernism in the Philosophy of Mathematics" (T. Tymoczko). Part 2, "Post-modernist and Post-structuralist Approaches," contains: (5) "Reasoning in a Post-modern Age" (V. Walkerdine); (6) "Mathematical Writing, Thinking, and Virtual Reality" (B. Rotman); (7) "Mathematics: The Problematical Notion of Closure" (A. Tsatsaroni & J. Evans);(8) "On the Ecologies of Mathematical Language and the Rhythms of the Earth" (D. W. Jardine); (9) "Discursive Saturation and SchoA. Mathematics Texts: A Strand from a Language of Description" (P. Dowling);(10) "The Dominance of Structure in 'Post-structural' Critiques of Mathematics Education" (J. Vass); ana (11) "Describing the Mathematics You Are Part Of: A Post-structuralist Account of Mathematical Learning" (T. -

Interview with David Bloor” by the Journal Tracés in 2007
UNPUBLISHED VERSION – CORRECTED AND APPROVED BY DAVID BLOOR PAGE 1 / 1 The French version of the following text was published under the title “Interview with David Bloor” by the journal Tracés in 2007. The interview was conducted, in English, by François Briatte ([email protected]). This version has been corrected and approved by David Bloor. Some footnotes and annotations appear in French. Interview with David Bloor Science Studies Unit University of Edinburgh 12 February 2007 Could you begin by providing us with some historical background on what motivated the creation of the Strong Programme, and how does it relate to the creation of the Science Studies Unit at the University of Edinburgh? The Science Studies Unit pre-dated the Strong Programme. As I understand the origin of the Unit, it arose from a suggestion by the biologist C. H. Waddington that scientists should receive teaching in ‘Science and Society’ courses to broaden their education. The 1960s was a period where governments in this country, knowing that science was of ever-increasing significance and that scientists were therefore becoming increasingly influential, held it to be important that science education was appropriately broad, rather than overly specialised. Waddington persuaded Edinburgh University to create a Unit or Department that was to teach scientists ‘Science and Society’ courses. The University appointed David Edge1, who had moved from radio astronomy at Cambridge into the BBC, where he was doing some science broadcasting. David Edge was acquainted with people such as Thomas Kuhn, Mary Hesse, Imre Lakatos. He knew the philosophers as well as the scientists. -

Has Latour Real-Ly Unravelled the Real: the Unrivalled Journey from Laboratory Life to Down to Earth?
https://lthj.qut.edu.au/ LAW, TECHNOLOGY AND HUMANS Volume 2 (2) 2020 https://doi.org/10.5204/lthj.1551 Has Latour Real-ly Unravelled the Real: The Unrivalled Journey from Laboratory Life to Down to Earth? Charles Lawson Griffith University, Australia Abstract This article traces Bruno Latour’s answer to the question ‘what is real?’ from Latour and Steve Woolgar in Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts (1979) through to Latour in Down to Earth: Politics in the New Climate Change (2018). This intriguing question arises because Latour’s hypothesis in Down to Earth presumes that climate change is ‘real’, while in Laboratory Life, hard facts were considered constructions. The journey reveals Latour’s own ‘real’ lies between the extreme science realists (facts are either true or false) and extreme social relativists (facts are a social construction), although favouring the relativists. A closer analysis, however, shows that Latour’s project is really about truth claims and that the real question is couched in terms rejecting the modernist settlement of ontological assumptions and basing truth on credibility determined by the strength of associations; the more associations, the more ‘real’ the truth claim. Ultimately, Latour elegantly sidesteps the real question and how he does this is real-ly unrivalled. Keywords: Bruno Latour; Laboratory Life; Down to Earth; real; truth; facts; construction of facts. Introduction During 1979, in Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts (Laboratory Life), Latour and Woolgar entranced us with the insight that inscribing facts1 was actually something constructed—‘hard facts are thoroughly understandable in terms of their social construction’:2 By contrast, we do not conceive of scientists using various strategies as pulling back a curtain on pre-given, but hitherto concealed, truths. -

I I Sociology of Science, Rule Following and Forms of Life
facebook.com I DAVID STERN SOCIOLOGY OF SCIENCE, RULE FOLLOWING AND FORMS OF LIFE 1 . WITTGENSTEIN ON SCIENCE : "THE POINT IS THAT "'OBEYING A RULE" IS A PRACTICE"' Ludwig Wittgenstein was trained as a scientist and an engineer. He received a diploma in mechanical engineering from the Technische Hochschule in Charlot- tenburg, Berlin, in 1906, after which he did several years of research on aero- nautics before turning to the full-time study of logic and philosophy . Hertz, Boltzmann, Mach, Weininger, and William James, all important influences on Wittgenstein, are authors whose work was both philosophical and scientific . The relationship between everyday life, science, and philosophy, is a central concern throughout the course of his writing . He regarded philosophy, properly con- ducted, as an autonomous activity, a matter of clarifying our understanding of language, or investigating grammar . Wittgenstein thought philosophy should state the obvious as a way of disabusing us of the desire to formulate philosophi- cal theories of meaning, knowledge, language, or science, and was deeply opposed to the naturalist view that philosophy is a form of science . In his later work, Wittgenstein rejected systematic approaches to understanding language and knowledge . Wittgenstein's answer to the Socratic question about the nature of knowledge is that it has no nature, no essence, and so it is a mistake to think one can give a single systematic answer : If I was asked what knowledge is, I would list items of knowledge and add "and such- like." There is no common element to be found in all of them, because there isn't one .